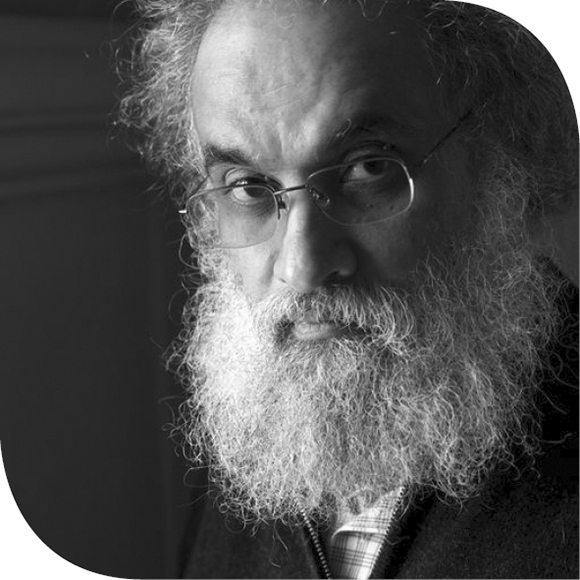Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Análise Social
versão impressa ISSN 0003-2573
Anál. Social no.226 Lisboa mar. 2018
https://doi.org/10.31447/AS00032573.2018226.08
ENTREVISTA
Impérios, historiografia, ciências sociais:uma entrevista com Sanjay Subrahmanyam
Ângela Barreto Xavier*, Ricardo Roque*, Nuno Gonçalo Monteiro*, Isabel Corrêa da Silva*, Michel Cahen*, Miguel Dantas da Cruz*, Nuno Domingos* e Ana Rita Amaral*
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Avenida Professor Aníbal de Bettencourt, 9 — 1600-189 Lisboa, Portugal. angela.xavier@ics.ulisboa.pt, ricardo.roque@ics.ulisboa.pt, nuno.monteiro@ics.ulisboa.pt, isabelcorreadasilva@ics.ulisboa.pt, michel.cahen@ics.ulisboa.pt, miguel.cruz@ics.ulisboa.pt, nuno.domingos@ics.ulisboa.pt, ana.amaral@ics.ulisboa.pt
Esta entrevista coletiva do Grupo de Investigação “Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais” do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa realizou-se no ICS em 2016. Em primeiro lugar, procurou-se compreender o lugar do império português, e dos impérios ibéricos na investigação de Sanjay Subrahmanyam, mas também as potencialidades de internacionalização de temas relativos ao império português, bem como da própria historiografia portuguesa. A história global, as histórias conectadas, a micro-história, a etno-história, as possibilidades e os limites da comparação, e até mesmo a relação entre historiador e cidadão, e entre passado e presente, foram outros dos muitos problemas abordados.
ÂNGELA BARRETO XAVIER (ABX) O império português tem ocupado diferentes lugares nas suas escolhas científicas. Poder-se-ia dizer que, no início da sua carreira, o império português ocupava um lugar central na sua investigação. Atualmente, as suas geografias de análise expandiram-se muito, incluindo entidades políticas do sul e do norte da Índia, os mundos ibéricos em geral, etc. O império português tornou-se um ator, entre muitos. Como é que observa a sua própria investigação a partir desta perspetiva?
SANJAY SUBRAHMANYAM (SS) Na realidade, comecei por tratar as fontes portuguesas dentro de um conjunto muito mais vasto. Foi no contexto da minha tese de doutoramento na Escola de Economia da Universidade de Deli, na qual havia uma tradição de história económica que tratava essencialmente as companhias europeias de comércio. Eu fazia parte da terceira geração. A primeira geração era a de Tapan Raychaudhuri, historiador neo-marxista da Universidade de Calcutá, que morreu há cerca dois anos.[1]
Raychaudhuri começou por trabalhar sobre os mogóis no Bengala dos séculos XVI e XVII, e depois foi fazer uma segunda tese em Inglaterra, à semelhança do que outros da sua geração já tinham feito. Fez a segunda tese sobre a Companhia das Índias holandesa (VOC). Aprendeu holandês, e foi trabalhar para o arquivo em Haia, em finais dos anos 50 e inícios dos 60. A tese chama-se Jan Company in Coromandel, e é sobre o comércio da companhia na costa do Coromandel, visto na perspetiva do conflito entre tradição e modernidade. Raychaudhuri formou duas ou três pessoas em Deli, entre as quais o meu professor Om Prakash, mais conservador que Raychaudhuri do ponto de vista científico e pessoal. Om Prakash também trabalhou sobre a história económica das companhias, e investigou nos arquivos da companhia holandesa, sempre com dados quantitativos. O discurso não lhe interessava. Om Prakash fez uma tese sobre a companhia holandesa no Bengala, e para ele era evidente que eu iria fazer algo semelhante: a companhia holandesa em Guzarate ou numa outra parte da Índia. Eu, ao invés, propus-lhe fazer um estudo regional sobre a Índia do Sul nos séculos XVI e XVII utilizando várias fontes, e não apenas as do arquivo da companhia holandesa. Om Prakash ficou muito desconfortável com esta orientação. Em primeiro lugar, porque para ele Portugal era um país perdido, não existia. E os boatos que circulavam por causa de gente como Michael Pearson (um amigo dele) era de que os arquivos portugueses não tinham nenhuma organização, que não era possível fazer nada. Não era possível, também, falar com os académicos portugueses nas universidades. Uma série de mitos interessantes, não é? Prakash aconselhou-me a abandonar o meu projeto e a concentrar-me nos arquivos holandeses. Secundariamente, poderia fazer um pouco de português, com a condição de que o centro do trabalho fosse o [material] holandês. Tive de aceitar inicialmente. Passei mais ou menos um ano na Europa, em Haia, depois em Londres e, finalmente, em Portugal. Tornou-se evidente, para mim, que os boatos tinham pouco a ver com a realidade. Naquele tempo, os arquivos eram muito mais difíceis, é certo. No caso, o Arquivo da Torre do Tombo, que estava no Palácio de São Bento. Só havia 20 lugares para leitores, e era muito difícil porque a gente tinha que chegar cedo. As portas abriam às 10h30. Era necessário captar “chapas”, senão era impossível. O Arquivo Histórico Ultramarino também não era nada fácil. Ao invés, nos arquivos de Haia era tudo muito bem organizado. Chegávamos às 9h00, e às 9h20 já tínhamos documentos. Pela mesma razão, a possibilidade de fazer descobertas era muito limitada. Aqui não era o caso. Por exemplo, trabalhando na Biblioteca da Ajuda, todos os dias descobríamos coisas. Por outro lado, encontrei Luís Filipe Thomaz que ensinava na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que me convidou para fazer lá algumas conferências. Encontrei, por via dele, o Francisco Contente Domingues e até o António Dias Farinha, que também me convidou para fazer umas conferências. Para mim foi muito mais interessante do que aquilo que tinha passado nos Países Baixos. E foi um pouco por causa disso que o equilíbrio que o Om Prakash imaginava se foi transformando, acabando por fazer a minha tese com estas fontes um pouco diferentes: em holandês, português, espanhol, italiano e nas línguas da Índia do Sul – estas também usei, mas apenas um bocadinho. Tornou-se um livro pouco conhecido aqui, The Political Economy of Commerce, publicado pela Cambridge University Press. Os portugueses estão lá, mas o livro trata essencialmente da economia regional da Índia do Sul. Na sequência disto, voltei várias vezes a Portugal, nos finais da década de 1980. Naquela altura, falando com Charles Boxer, pensei que talvez fosse uma ideia interessante fazer um novo livro de síntese sobre o império português na Ásia. O livro de Boxer tinha sido publicado em 1969. Já tinha, na altura, mais de vinte anos, e ele próprio achava que, do ponto de vista historiográfico, estava ultrapassado. Tinha outro tipo de cronologia e tratava também o Atlântico. Por causa disso, voltei a Portugal para fazer essa pesquisa.
RICARDO ROQUE (RR) Ao ler alguma da sua obra fica a impressão, porém, de que refere muitas limitações da historiografia nacional portuguesa, talvez por ser então uma história às vezes apologética do império português. Como é que, trabalhando o império português, conseguimos tirar maior partido das vantagens que referiu e, ao mesmo tempo, suplantar as limitações que as tradições historiográficas portuguesas possuem? E como vencer também resistências e preconceitos que possam existir, sobretudo no mundo anglo-saxónico, acerca do trabalho feito em português? Pois há uma certa dificuldade da historiografia em penetrar nos cânones da literatura feita em inglês. Partindo da sua própria experiência, como é que se pode tomar posição nos debates internacionais, tomando como referência o estudo do império português?
Pois, estava a falar de meados dos anos de 1980. Naquela época, o que existia? Fora de Portugal, Vitorino Magalhães Godinho era a figura dominante, porque fazia muitas coisas em França. Normalmente, ao olhar para as referências, aparece muito mais a do L' empire portugais aux XVe et XVIe siécles, publicada pelo Braudel na série S. E. V. P. E. N. Esse livro é muito mais citado do que os Descobrimentos e a Economia Mundial, de Vitorino Magalhães Godinho. É também um livro mais coerente. Godinho era a pessoa mais conhecida. Havia um pouco de reconhecimento, mas não muito, da escola conservadora da Virgínia Rau e de outra gente que trabalhava história económica dos séculos XV e XVI. Este reconhecimento era sobretudo por causa da relação que Virgínia Rau tinha com Bailey W. Diffie, historiador americano que publicou um livro de síntese sobre o império português com George Winius. Um livro em duas partes: a primeira parte, boa; a segunda – feita por Winius – não tanto. Depois, entre os ingleses havia Charles Boxer. Boxer tinha aspetos fortes e fracos. Tecnicamente, o problema dele é que nunca entrou nos arquivos do século XVI. O trabalho de arquivo de Boxer começa no século XVII. Ele começou a sua carreira como historiador do império holandês. Na sequência disso, formou algumas pessoas sobre o império português – não muitas –, caso do [A. J. R.] Russell-Wood, mais ou menos aluno dele. Boxer era um típico inglês da sua geração. Era do exército inglês. Aliás, foi espião durante um certo tempo. Não gostava de questões de metodologia. Tudo era feito numa base empírica, com fontes extraídas dos arquivos. O Boxer interessava-me porque ele tinha uma ideia de estudo comparativo de impérios, algo que Godinho não tinha muito. Godinho, fora das fontes portuguesas, utilizou as fontes espanholas de Simancas, até certo ponto. Conhecia seguramente as fontes italianas, mas nunca teve aquela abertura em relação aos outros impérios. As coisas que ele diz, por exemplo, sobre o império otomano, são totalmente ultrapassadas em relação ao que já se sabia no momento em que ele escreve (anos 60 e 70), pois são baseadas em trabalhos dos anos 30 e 40. Mas eu não pertencia propriamente a nenhuma “linhagem” destas. Aliás, Godinho não gostava de mim. Foi um outro problema, apesar das poucas relações que tive com ele. Com Boxer tive relações pessoais. Mas acabei por dialogar muito mais com o grupo de Luís Filipe Thomaz. Era gente nova e não tinha ideias gerais muito formadas. O próprio Thomaz tinha mais uma conceção filológica da história do que outra coisa, e conhecia melhor que ninguém os arquivos do século XVI sobre o oceano Índico. Depois, dialoguei com [Jean] Aubin e com outros franceses, que também tinham uma ideia muito filológica de história, resultado da influência do orientalismo. O Aubin era um caso muito interessante, pois veio estudar Portugal a partir do Oriente. Era orientalista de formação, e depois voltou-se para Portugal. Finalmente, conversando com gente que trabalhou sobre outros impérios. Na época que escrevi o Império Português, a pessoa com quem falei muitas vezes – até escrevi um artigo com ele – era o Chris [Christopher A.] Bayly, que naquela época estava a transformar-se em especialista do império britânico. Mais ou menos na mesma época, ele escreveu um livro chamado Imperial Meridian, que colocava o império britânico no jogo inter-imperial de finais do século XVIII, inícios do século XIX. Em relação ao que se fazia na época, eu era muito diferente, pois foi com base naquela historiografia que não tratava do império português que tentei definir as coisas. Desde o início era para mim evidente que o interesse era colocar o império português num contexto mais largo e, metodologicamente, mais aberto. Também importava combinar um pouco o ponto de vista filológico com uma perspetiva de imperialismo comparado.
Mas como pensa que deve fazer-se, hoje, a tradução da historiografia portuguesa para um diálogo internacional?
O que eu acho que é diferente relativamente à atualidade, é que na época não havia quase ninguém a publicar, por exemplo, em inglês. Havia pouca gente. Quando um português publicava noutra língua era normalmente em francês. Esse é o caso de Godinho, e também de alguém que nos anos 60 tinha maior importância que hoje em dia, o José Gentil da Silva. Publicou muita coisa. Também o Alfredo Margarido, que também estava muito ligado a França. A historiografia produzida pelos portugueses em inglês… suponho que o único que tinha estado fora foi o Oliveira Marques, pois tinha passado algum tempo nos Estados Unidos, na Flórida. E ele publicou, no essencial, aquele livro de síntese.
NUNO GONÇALO MONTEIRO (NGM) A história de Portugal, de grande divulgação, editada nos Estados Unidos…
Sim, sim, mas em termos de produção monográfica e ensaios, não há grande coisa em inglês. Isso era um outro mundo. Não existia também por causa da situação política. Havia poucos estrangeiros em Portugal. Quando eu trabalhei nos arquivos, quem mais havia? Talvez quatro ou cinco estrangeiros que vi naquele ano. Havia o Francis Dutra, que trabalhava sobre a Ordem de Santiago e a Ordem de Cristo. Quem mais? Havia o Anthony Disney, australiano que trabalhava sobre o império português. Havia pouca gente. Entre os franceses, a Madame [Geneviève] Bouchon. Agora, estamos num outro mundo. Para mim, a situação não é comparável. Ao mesmo tempo, é interessante saber o que fazer, metodologicamente, para entrar noutra discussão. Acho que é essencial abrir outras portas, em vez de ficar dentro do mundo português. Se o historiador português apenas ficar ligado a Portugal, está a auto-guetizar-se. Não é suicídio intelectual, mas não está muito longe disso. Não quero com isto dizer que os portugueses deixem de trabalhar nos arquivos portugueses, mas creio ser necessário que façam a ponte entre o que eles sabem melhor que os outros – a documentação daqui e as suas problemáticas – e outros estudos que não sejam só feitos em segunda mão, mas a partir da experiência direta. Por exemplo, fico perplexo porque é que até hoje não existe ninguém que verdadeiramente trabalhe o império otomano aqui em Portugal. Se alguém o tivesse feito, estou certo de que seria um grande sucesso.
ISABEL CORRÊA DA SILVA (ICS) A sua sugestão vai mais no sentido não de os portugueses se tentarem integrar num debate historiográfico sempre a partir do case-study português, mas sim de que eles próprios ponham a “mão na massa”. Ou seja, fazer como o Sanjay fez, e algumas pessoas na nossa geração já fizeram. Ir aos arquivos estrangeiros e incluir outras fontes no nosso trabalho, e não apenas historiografia estrangeira.
É uma maneira de fazer, é certo. Por exemplo, para um historiador português, há uma coisa que é muito fácil – trabalhar à escala ibérica.
Se há alguma coisa em que a historiografia portuguesa se destacou nestas últimas décadas foi, precisamente, na sua relação com a Península Ibérica e com a Ibero-América. E se alguma coisa deu algum salto em termos de história comparada foi exatamente a história ibérica.
MICHEL CAHEN (MC) Penso, por exemplo, que no domínio africano, era muito bom haver 50% dos jovens investigadores portugueses a trabalharem sobre a África não-portuguesa. Metodológica e cientificamente. Muita gente poderá concordar, mas ninguém o irá fazer. Porque há um problema. É verdade que a comparação entre o império português e o império otomano seria importantíssima e muito rica. Mas vai ser preciso tempo para aprender o turco e o turco antigo. E o árabe também, porque o império otomano não é só a Turquia. É preciso obter dinheiro para viajar. Não é uma crítica, mas é mais fácil ficar aqui, dadas as condições de vida…
Sim, não estou a dizer que a solução é fácil. A única maneira de o fazer é ir para outro sítio e obter formação [linguística] deste tipo. Eu tenho um pouco a impressão de que, no caso da África ex-portuguesa, o problema é o seguinte: quem trabalha sobre a África em geral – por exemplo Fred Cooper, que conheço bem – começou com as colónias inglesas, depois passou para as colónias francesas, mas sobre a África portuguesa, Cooper não sabe quase nada. Até quando faz obras de síntese, não apresenta nenhum conhecimento. Eu acho que seria bom alguém que fosse capaz de fazer, ao mesmo tempo, coisas sobre Angola, Moçambique e Guiné e entrar nestes debates transversais, fora do espaço de língua portuguesa. É complicado, sim. Mas deve ter-se a capacidade de levar a cabo um diálogo de iguais. O que temos no caso africano é isto: todas as historiografias separadas por impérios diferentes, com poucas exceções, como o Elikia M'Bokolo.
MIGUEL DANTAS DA CRUZ (MDC) Na área que conheço melhor, que é o Atlântico, há uma tendência contrária, que é a da fragmentação do saber em torno de uma região mínima, como uma capitania, ou uma câmara municipal. Como é que encara essa questão? Essa opção prejudica por certo o esforço de internacionalização. Salvo raras exceções de carácter comparativo – por exemplo o Rio de Janeiro com Havana – as pessoas tendem a deixar-se ficar presas em pequenas regiões ou unidades administrativas. Como é que encara esta tendência, nomeadamente em relação ao Brasil?
Bem, acho que é mais complicado do que isso. Vou dar um exemplo, já que ensinei durante algum tempo com ele, com Nathan Wachtel. Wachtel estava a acabar o livro intitulado La Foi du souvenir, que era essencialmente sobre os marranos. De certa maneira, é um exercício de micro-história, que trata de famílias de linhagem dos anos 1620 e 1630, a partir de fundos da Inquisição. É um mundo que parece pequeno, mas que é complexo. Nesse livro, Wachtel tratou, por exemplo, o caso muito conhecido de Manuel Baptista Peres, português de origem, mas baseado em Lima, e com ligações a Manila, que fazia comércio por via do galeão de Manila e também tinha ligações com a família no Atlântico. A partir desse caso é possível ver muitas coisas. Eu acho que este é um exemplo que parecia ser a história de uma comunidade dentro de uma cidade, mas com uma riqueza e complexidade para além do case study local. O caso do Brasil não conheço muito bem; e não conheço muito bem nos últimos anos a produção sobre a América colonial, desde os tempos do seminário que fazia com [Serge] Gruzinski. Mas mesmo tratando uma cidade como Puebla e Acapulco chega-se a alguma complexidade. Ao mesmo tempo, e para voltar à questão, não quero dizer que é algo que todos devam fazer. Não é necessário que todos os portugueses deixem as fontes portuguesas, e saiam para fora de Portugal, mas o oposto também é muito prejudicial. Por exemplo, na Índia, não há indianos que queiram trabalhar sobre outro assunto que não seja a história da Índia. Não há! É um grande país, com muitos historiadores, mas todos fazem a história não só da Índia, mas também da sua região. Por exemplo, o historiador do Bengala não quer tratar da Índia do Sul.
É semelhante ao que se passa no Brasil, genericamente.
É essa a ideia que temos. A academia brasileira foca-se maioritariamente, e talvez justificadamente, no Brasil.
Pois, pois. Eu lembro-me quando fui com Gruzinski ensinar em Minas Gerais, há quinze anos atrás. A ideia de falar no império português já era uma abertura. Mas ninguém conhecia nada sobre o Oceano Índico. Não havia bibliografia na biblioteca. Fazer isto era dar o salto.
NUNO DOMINGOS (ND) O debate que estamos a ter a partir do caso português está relacionado com a sua proposta teórica e metodológica. E nós tínhamos interesse em voltar um pouco a essa proposta: à sua ideia de histórias conectadas, que, no fundo, é o que está aqui a defender. Talvez faça sentido pedir-lhe que nos ofereça uma espécie de genealogia desse conceito. Mesmo a vontade de querer trabalhar com fontes de origens diferentes constitui, num certo sentido, a base de uma certa ideia de história. Qual é a genealogia dessa noção?
Suponho que foi por duas razões, pelo menos. Uma era a razão típica de um jovem que não queria fazer a mesma coisa que os seus mestres, não é? Eu não queria ser o “pequeno” Om Prakash, como aquelas matrioshkas. É uma reação básica e psicológica. A outra é um livro que, para nós na Índia, foi muito importante, mas que aqui não teve muita influência, o livro do historiador dinamarquês Niels Steensgaard, Carracks, Caravans and Companies, que um ano mais tarde foi novamente publicado, em Chicago, com o título The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century. Aí, Steensgaard trata as fontes holandesas, italianas e portuguesas. Eu conheci-o mais tarde. Era um tipo muitíssimo inteligente, daquelas pessoas entre a sociologia e a história. Bastante weberiano, na sua formação. Eu achei que aquela ambição era interessante, mas limitada. Para mim era uma abordagem não muito revolucionária, mas muito influente na época. Mas a história conectada não vem diretamente disto. Vem, na realidade, de um outro debate que tive com o historiador americano Victor Lieberman, que publicou os dois enormes volumes intitulados Strange Parallels. É um exercício muito clássico de história comparada. Não sei se conhecem estes livros enormes. Não é uma obra para se ler no avião. Ele era especialista na Birmânia, e achou que ninguém tratara a sério a história da Birmânia. Para valorizar a história da Birmânia, Lieberman tinha construído a ideia de que era possível fazer uma história paralela, para dizer que a Birmânia nos séculos XVI e XVII era na realidade muito parecida com a França: um reino com tendências centralizadoras, um pouco como a França de Luís XIV. A partir daí, começou a fazer uma espécie de classificação de todos os poderes políticos do mundo dos séculos XVI e XVII, para tratar de paralelos e distinções. Era uma classificação global de todos os sistemas políticos do mundo, como os economistas fazem, às vezes. Achei um exercício bastante absurdo. Numa polémica que tivemos, num encontro que teve lugar na School of Oriental and African Studies (SOAS), escrevi o artigo Connected Histories [Histórias Conectadas] para sugerir que se podia fazer melhor do que isso; que era melhor tratar esses sistemas como se estivessem ligados, e não como se estivessem fechados, para fazer uma comparação totalmente mecânica. É um pouco daí que vem esta ideia. O exemplo que pensei foi o dos milenarismos dos séculos XVI e XVII, o que valeu alguma polémica depois. Mais tarde, recomecei a pensar o que tinha feito, e o “antes”. Vi que havia alguma possibilidade de sair dos impérios europeus em torno a outras direções. Não quero dizer que hoje em dia a história comparada seja totalmente inútil, mas acho que alguns aspetos da história comparada não me parecem essenciais.
Quais?
Por exemplo, esta história de pesquisar quem conseguiu o desenvolvimento, e quem não conseguiu. É uma espécie de mania. Quem lê o último capítulo da segunda edição dos Descobrimentos e a Economia Mundial vê que a conceção é essencialmente essa. Porque é que Portugal não foi a Inglaterra? Porque não havia burguesia portuguesa. E porque é que não havia? Por causa das atitudes culturais dos portugueses, etc. Então, o que é Portugal? Portugal é uma Inglaterra falhada. É o resultado de um certo exercício comparativo.
No fundo, esse exercício comparativo é uma checklist à qual se submetem as experiências históricas. Posicionou as connected histories como resposta a essa ideia de história comparada, e não tanto como uma resposta à ideia de história global. Pergunto agora se vê esta proposta de connected histories como uma proposta heurística em si mesmo, como um modo novo de fazer história. Se assim for, como é que vê a sua aplicação a períodos mais contemporâneos em que as coisas estão naturalmente mais conectadas? Ou vê a sua proposta mais circunscrita a um tempo histórico anterior, que é o do âmbito do seu trabalho?
Posso dizer duas ou três coisas sobre isso. A história conectada faz-se sempre em relação a uma situação historiográfica. Isto é: uma situação em que há um certo tipo de divisão convencional e artificial que se faz por uma razão qualquer entre objetos que não devem ser separados. Tomemos, por exemplo, uma obra clássica, o Mediterrâneo de Fernand Braudel. Braudel mostra que, em vez de uma história dividida em fragmentos, era possível fazer – ele não usava a palavra – uma espécie de história conectada deste mar. Assim, como certas pessoas tentam fazer isso com o Atlântico, com o Índico, ou com o Báltico (caso de um livro chamado The Sea dirigido por Peter Miller). Não há uma historiografia enorme sobre o mar Báltico em si, por exemplo. Começa a existir, mas o problema é que temos estes fragmentos. É sempre esta a situação historiográfica. Há que fazer a conexão. Mas não é preciso conectar tudo! Há um livro de Marcel Detienne que se chama Comparer l' incomparable. Eu não diria que é necessário “connecter l' inconnectable”! Não faz muito sentido, por exemplo, falar de uma história conectada no século XVI entre a ilha de Tristão de Cunha e o Japão. Voltando ao período contemporâneo: cada um tem normalmente as suas convenções historiográficas. As do século XIX não são as do século XVI. A minha posição – e disse-o numa lição no Collège de France e houve gente perplexa – é de que o posicionamento da história conectada é sempre de Oppositionswissenschaft, contra uma tendência dominante. A ideia não é de conceber isso como uma proposta de conquista, para se transformar numa posição dominante. A posição é a de ir sempre contra a historiografia dominante existente.
Mas mesmo contra a história global?
Se for necessário, sim. Há histórias globais que acho totalmente sem interesse, como a história global de [Jürgen] Osterhammel. É uma espécie de acumulação de dados sem uma ideia teórica. É como fazer listas de temas e objetos.
Quais são então, na sua perspetiva, histórias globais com interesse? Por exemplo, numa recensão recente à Global intellectual history entrou neste debate. O rótulo “história global” está em toda a parte. Quais são para si exemplos inspiradores de história global?
Vou dar exemplos de livros que li recentemente. Há um livro recente do meu colega Pierre Briant, que é sobre a reinterpretação da figura de Alexandre no século XVIII. É uma espécie de história intelectual. Foi publicado em francês, mas este ano vai sair a versão em inglês, que se chama The First European. Alexandre é aqui visto como o primeiro europeu. Trata-se de uma série de casos interessantes de ingleses, alemães, franceses e de toda uma reflexão sobre Alexandre no mundo islâmico. Briant fala um pouco dos portugueses no século XVI. Em suma, para mim é uma tentativa, que sai um pouco fora da sua zona de conforto pois ele é essencialmente um especialista no império Aqueménida, não é um historiador do século XVIII. Achei interessante, portanto, enquanto tentativa de partir de um objeto particular, e depois tratar disso utilizando várias fontes de vários arquivos.
Porquê classificar isso de história global?
Por duas razões. A figura de Alexandre é já tratada na historiografia como alguém que participa na história global. A segunda razão é pelas fontes que utiliza. Se usasse fontes francesas apenas poderia ser outro exercício como “Alexandre no pensamento francês no século XVIII”. Mas aqui ele vê uma série de fontes diferentes que, muitas vezes, estão em diálogo.
Mas isso é história conectada?
Sim, mas é também uma história global. O outro caso é por exemplo o último livro de Timothy Brook, Mr. Selden's Map of China, em que trata da cartografia de um mapa da China que existe na biblioteca Bodleian [Universidade de Oxford]. Foi comprado no século XVII, e o autor faz todo um exercício sobre quem teria sido o cartógrafo, mas também sobre como aquela carta chegou à biblioteca de John Selden, uma pessoa muito importante, pois era alguém que estava a lutar contra Grotius e Serafim de Freitas, sobretudo na questão do mare liberum. É interessante ver que Selden, preocupado com os mares fechados, tem esta carta marítima aberta, etc. Este tipo de exercício é interessante e baseado em trabalho em primeira mão e num cruzamento de arquivos. O Brook é um especialista na dinastia Ming, mas também pode ler várias fontes europeias da época. Finalmente, para épocas mais recentes, há um livro interessante, apesar de ter alguns problemas. É um livro de Cemil Aydin, um historiador turco, que fez uma análise centrada na relação entre pan-islamismo e pensamento pan-asiático. O pan-islamismo que tem a ver com os finais do Império Otomano, com os finais do sistema de califado e, ao mesmo tempo, com a importância enorme de tudo isto no mundo islâmico. Do outro lado, a ideia de mundo pan-asiático, originária nos japoneses e na maneira como as suas ambições imperialistas interagiram com as dos russos. Eu diria que se centra numa época entre 1880-1930, mas que tem implicações na história da Manchúria, da Índia, até para uma parte da África Oriental. Isto também é um pouco mais do género de “história intelectual e política”.
Continuando o raciocínio, além do período histórico, a história conectada é, por assim dizer, mais cautelosa. Nem tudo é global, mas muitas coisas são conectadas. Porém, isto não produz necessariamente a globalização de cada “pedaço” da terra.
Estou plenamente de acordo. Há dois problemas aqui. Tive um pouco essa diferença com Gruzinski, porque há dez anos começou a produzir aquelas coisas que utilizam muito a ideia.
A primeira globalização.
Sim, esse tipo de escritos. Já o livro Les quatre parties du monde tem essa dimensão. Eu pensava que era necessário proceder com uma certa cautela, porque senão isto iria transformar-se subitamente numa história teleológica. Tenho mais receio desta tendência do que ele, porque Gruzinski não tomou a sério, por exemplo, o problema de [Francis] Fukuyama. E com Fukuyama, a gente vê como esta espécie de teleologia funciona como proposta política. Fukuyama é, afinal de contas, uma espécie de milenarista. Só o Mercado é o D. Sebastião… Eu prefiro não entrar nesta versão da história de globalização e mundialização. Há quem diga, talvez com certa razão, que pode usar-se “global” sem globalização. As duas coisas não estão tão estritamente ligadas ao ponto de uma implicar a outra. Eu acho que antes havia uma outra maneira de usar a palavra. Por exemplo, o livro de Denys Lombard, Le carrefour javanais, publicado em 1988, tem como subtítulo Essai d'histoire globale. Lombard utilizou a história global como se utilizava a histoire totale. Todos os aspetos. Não só políticos, económicos, sociais, mas também culturais, etc. Isto é legítimo. Também é legítimo pensar em certos objetos como sendo “globais”. Não há tantos assim, mas alguns certamente. Por exemplo, o livro de Joyce Chaplin, que trata de circum-navegação, é uma espécie de história global. Quanto à minha cadeira no Collège de France, discuti o tema com o administrador e com Roger Chartier. Disse-lhes que queria dar o nome de “história conectada”. Eles disseram que aquilo não soava bem em francês. E insistiram que fosse histoire globale.
Gostávamos de o ouvir sobre a relação que estabelece com outras abordagens historiográficas, como por exemplo a micro-história, a etno-história e a antropologia histórica. Há, de um lado, uma tradição que se concentra na localidade para procurar questões gerais, de outro lado, a etno-história e a antropologia histórica, que convidam a um enlace entre o pensamento histórico e as historicidades e culturas nativas.
Quanto ao primeiro problema, já pensei bastante nisso. Sobretudo, porque nos últimos anos tenho tido um diálogo intenso com Carlo Ginzburg. Ele escreveu um artigo para uma obra dirigida por mim, a Cambridge World History. The Construction of a Global World. Ginzburg tem aqui um capítulo sobre micro-história e história global, à sua maneira. Mas mesmo antes disso, Ginzburg tinha tratado o problema de uma história ampla e conectada. Tem um artigo sobre um tal Jean-Pierre Purry, um tipo do século XVIII, que andou um pouco em todo o lado do mundo, e tinha relações com a companhia holandesa. Era especialista em vinho. Passou pela África do Sul, pela Austrália e acabou a vida dele na Carolina do Sul. O que é interessante é que Purry, durante a vida, passou por todos os continentes, mas ao mesmo tempo é um objeto de análise relativamente limitado, micro. Por fim, Purry tem também uma teoria sobre o funcionamento do mundo, uma teoria relacionada com latitudes. Uma visão global em que o mundo se organiza por latitudes. O que Ginzburg tentou fazer foi um pouco isso. Analisar o percurso, e as tentativas e os diferentes projetos que ele teve em lugares diferentes. E, não apenas o ator, mas o seu próprio pensamento. Era uma maneira de Ginzburg dizer que fazer micro-história não é necessariamente trabalhar sobre o Friuli. Ou sobre uma aldeia qualquer. O que ele tentou mostrar é que a componente «micro» da micro-história não tem a ver com a escala geográfica, mas sim com a intensidade do olhar do historiador. A leitura intensa de fontes e documentos. Quando escrevi um livro há uns anos atrás, que se chama Three Ways to Be Alien, tentei fazer um pouco isso em relação a esta ideia. Podemos tratar de coisas geograficamente muito dispersas, mas de muito perto em relação à leitura de arquivos e fontes. Quanto à etno-história, é interessante, pois deixou de ser moda. O grande momento foi nos anos 70 e 80. Depois não houve nenhuma “batalha” onde a etno-história fosse destruída. Mas na historiografia, as coisas desaparecem e a gente não sabe porquê.
ANA RITA AMARAL (ARA) Mas houve uma grande batalha entre Marshall Sahlins e [Gananath] Obeyesekere. Uma grande batalha no âmbito da etno-história…
Mas não era para destruir a etno-história. Contrariamente a muitas pessoas, eu prefiro a posição do Obeyesekere em relação à posição do Sahlins. Aquele debate sobre a impossibilidade de o “homem branco” falar sobre as gentes do mar do sul. Foi essa a posição do Sahlins ao caracterizar a posição do Obeyesekere, dizendo que ele o queria excluir: “como ele era nativo do Sri Lanka, tinha direito a falar e eu não. Porque não pertenço ao “sul global”, sou judeu de Chicago, logo não tenho direito a falar”. Achei que isto não era sobre o conteúdo da etno-história em si, mas sobre uma história de identidade, entre “nativos” e “estrangeiros”. Você tem uma outra impressão?
Sim. Aquilo que fica, pelo menos para quem estuda antropologia, tem mais a ver com as potencialidades e cautelas metodológicas que se devia ter quando se aborda a etno-história. Quando se tem determinado tipo de fontes, o que é que se consegue recuperar a partir dessas fontes? Coloca-se a questão da potencialidade e limites da interpretação das fontes disponíveis para perceber a chegada de Cook.
Sim, mas finalmente esse debate ficou preso dentro de um positivismo vulgar e triste sobre a leitura de fontes. O que quero dizer é que, na sequência daquele momento, deixou de ser feita tanta etno-história. Mas não é porque se tenha decidido que, metodologicamente, a etno-história não fazia sentido.
Mas há muitos antropólogos que fazem história e muitos historiadores que se socorrem da antropologia. Talvez não exista propriamente uma escola, além disso não se pode recusar nenhum tipo de fonte em história.
Uma coisa não foi muito desenvolvida naquele debate. É algo partilhado pelos dois. Há uma maneira de abordar o debate entre Sahlins e Obeyesekere, que é exatamente a mesma. Porque Sahlins, finalmente, está a usar o estruturalismo. Mas Obeyesekere, como também era muito estruturalista, não quis acusar o outro de ser estruturalista quando fazia a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente olha para aquelas etno-histórias da América espanhola, Perú, etc., etc., o que se fazia, na geração de Wachtel e outros era, partindo de uma formulação estruturalista, aplicar depois essa formulação como se fosse tudo uma espécie de sincronia. O facto de o estruturalismo já não estar na moda tem um certo efeito sobre a etno-história. Muitos praticantes da etno-história, por exemplo no caso indiano do primeiro trabalho de [Nicholas B.] Dirks, The Hollow Crown, tentam combinar o estruturalismo com a história. E depois, como se abandonou o estruturalismo, não ficou a etno-história. Faz-se história, simplesmente.
Queria voltar à relação entre micro-história e connected histories – já que a micro-história é uma ótima forma de fazer connected histories – e regressar ao império português, e à questão inicial. Como é que, pegando em objetos de análise do império português, se pode transcender o próprio império português? Parece-me que essa combinação – uma análise simultânea entre connected histories e micro-história – pode ser uma maneira de levar a cabo uma internacionalização de questões e problemas que se passam no império português, mas não ficam lá contidas. Que lhe parece?
Uma vez, num colóquio com Georgina dos Santos e colegas da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, eles tentaram fazer isso. Combinar a micro-história com a história do império português. E saiu um volume, que foi totalmente esquecido; havia aí uma certa tentativa – foi há 10, 15 anos atrás. No caso do império português, não vejo tanto estas tentativas até agora. O problema é que há resistências, mas não são muito bem formuladas. Uma vez estava a falar com Christopher Bayly sobre esta questão, porque os ingleses não gostavam muito da micro-história. Os ingleses nunca gostaram daquilo porque têm outra maneira de ver as fontes. Uma vez eu fiz esta pergunta a Bayly, sobre como é que ele utilizava as fontes. Qual era a sua maneira de abordar as fontes? Se ele tinha pensado em problemas de base, por exemplo, na narratologia? Mas não quis entrar nessa discussão. Toda esta discussão vem de direções muito diferentes, porque há ainda uma discussão mais antiga do que a micro-história, que é a discussão filológica sobre Quellenkritik. Como tratar as fontes; o que fazer com as fontes. E aí é interessante que, afinal de contas, há sempre escolas muito diferentes. E ao mesmo tempo há sempre pessoas que querem tratar os arquivos como se fossem transparentes.
Já falámos da tendência para a micro-história, por parte da historiografia brasileira. No início da conversa, também falou de um certo retraimento, por parte da historiografia indiana, em sair da história da Índia. Estava a pensar se, de alguma forma, vê alguma conexão entre estas posturas de retraimento, e se elas podem ser consideradas posturas de prudência em relação a uma dimensão intimidatória da hegemonia da historiografia anglo-saxónica. Estou a pensar não só no caso brasileiro e no caso português, mas também no caso da Índia. Porque há aqui limitações no acesso e integração nos debates historiográficos, como o domínio da língua. Como é que vê uma certa hegemonia da academia anglo-saxónica e as posturas de algum retraimento e prudência que acabam por resvalar para a insistência na micro-história?
O caso indiano é muito estranho. Segundo Arif Dirlik o problema é que os indianos fazem parte da hegemonia anglo-saxónica. Quer dizer, isto é assim quase unicamente em relação aos subaltern studies e aos estudos pós-coloniais.
Mas a sua origem é, em grande medida, essa, ou não? Quer dizer, a Índia é marcante na génese…há uma série de campos interdisciplinares do mundo académico anglo-americano cuja génese é a conexão com a Índia.
Sim, sim. O que é interessante é que o problema, como os subaltern studies, por exemplo, começou por ser, a um certo momento, uma espécie de história global. Uma etiqueta onde a gente fazia mil coisas no seu interior sem nenhuma coerência.
Mas foi uma reação contra a história nacionalista.
No início, mas depois… Também há livros muito nacionalistas feitos pelos subaltern studies. Então não se pode definir como “não-nacionalista” quando ao mesmo tempo participa plenamente no nacionalismo cultural. O que é interessante, neste caso, é que havia pessoas que tentaram estabelecer uma relação com a micro-história. Essa relação passou por Natalie [Zemon] Davis, não por Ginzburg. Nem por Giovanni Levi. Nem pelo grupo do Quaderni Storici. Era aquela abordagem que fazia Natalie Davis, que não era exactamente micro-história, mas tinha alguma coisa a ver, sobretudo no livro sobre Martin Guerre…
Na Índia há sobretudo o caso de um historiador indiano que se chama Shahid Amin, que tentou fazer uma espécie de micro-história sobre uma questão muito concreta: o mito de Gandhi, como homem que tinha poderes sobrenaturais; como, na consciência dos camponeses indianos, Gandhi era concebido não como líder nacionalista, mas como uma espécie de figura divina. Mas os subaltern studies nunca saíram fora do âmbito da Índia. O que também é uma espécie de reflexão nacionalista.
Mas será que a questão da escala geográfica não poderá ter algum peso nisso? Isto é: tanto o Brasil como a Índia são países tão grandes, que criam uma comunidade suficientemente ampla que dialoga entre si…
Sim, mas o que não percebo muito bem é que quem mora nos Estados Unidos, como é o caso do Dipesh Chakrabarty e de outros… não é como se fosse um caso de pouco acesso. Ou de quem não pode viajar. Ele fala com quem? Fala com os colegas do departamento de História, de Chicago. E, em geral, eles não fazem nada a ver com a Índia, não é? Ou seja, ele joga um pouco o papel de native informant. E esconde-se nesta história de: “eu conheço a Índia, você não conhece”.
Para continuar… É verdade que trabalhar só sobre Portugal, por exemplo, que perfaz cem mil quilómetros quadrados, não é a mesma coisa do que trabalhar só sobre a Índia, ou trabalhar só sobre o Brasil. Intelectualmente, pode ser a mesma coisa, mas também é verdade que entre Caxemira e o Tamil Nadu, ou que entre o Maranhão e o Rio Grande do Sul, a Índia e o Brasil não são países, são impérios!
Sim, sim. Mais uma vez: eu acho que é totalmente legítimo trabalhar sobre o espaço nacional porque há muitas questões que são nacionais. Por exemplo, algo que tenha a ver com o sistema legal. A gente sai fora do país. Estamos no Paquistão. É outro sistema legal. Mas isso não se aplica ao período em que o Estado-Nação da Índia ainda não existia. Também não é verdade que todas as questões possam ser controladas dentro do espaço nacional. O que eu gostaria era que uns 15 ou 20 % não mais, de historiadores indianos também trabalhasse sobre outras coisas fora do espaço nacional. Não podemos imaginar uma situação em que seria uma maioria. E também não quero que seja a maioria!
Uma questão final tem a ver com a relação entre presente e passado. Em 2015, foi co-editor de Historical Teleologies in the Modern World com o Dipesh Chakrabarty e Henning Trüper. No mesmo ano fez uma conferência em Marselha, na qual também estabelece um diálogo entre o mundo contemporâneo e as experiências históricas do passado. Tem interesse em estabelecer pontes maiores com a atualidade? Como é que vê um historiador da época moderna a sua relação com o mundo atual, como cidadão do mundo contemporâneo?
Pois, é interessante. Tenho intervenção pública em dois contextos diferentes: o contexto indiano e o contexto francês. Como resultado da cadeira do Collège de France tenho a possibilidade de falar para um público muito mais amplo, não em aulas num sentido normal. Não nas próprias aulas, mas noutros contextos, por exemplo em entrevistas de rádio, há sempre perguntas sobre o trabalho do historiador e a sua relação com a atualidade. Achei que não tinha sentido evitar essas perguntas. Mas não faço isso em ensaios que têm notas de rodapé. É um outro registo. E até acabei por publicar uma coletânea de ensaios em francês, chamada Leçons Indiennes, que são ensaios que escrevi para jornais. Coisas que têm a ver com historiografia e com o mundo atual. Aí acho que o historiador pode fazer uma intervenção, não só como cidadão. Hoje em dia, quando fazemos um programa de rádio em França, aos historiadores perguntam sempre sobre o problema da imigração. E como é que o historiador vê isso? Qual é o passado da imigração? Em que medida podemos falar destes espaços como “fechados” no passado, e agora “atacados” pelos estrangeiros? E aí, não é só para dar a minha opinião política, porque seria uma banalidade dizer que não gosto da Marine Le Pen, não é. Mas sim para dar uma opinião mais informada com o passado histórico. No caso indiano, sinto a necessidade de intervir na questão do Islão. Há tantos mitos relacionados com a presença muçulmana na Índia, que é necessário historicizar as coisas. Os políticos, todos os dias, fazem declarações sobre história. O nosso primeiro-ministro, na Índia, até nem tem licenciatura respeitável. Mas tem muitas opiniões, como se vê da sua conta Twitter…[2]
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMIN, S. (1995), Event, Metaphor, Memory: Chauri Chara 1922-1992, Deli, Oxford University Press. [ Links ]
BAYLY, C. A. (1989), Imperial Meridian: the British Empire and the World, 1780-1830, Londres, Longman. [ Links ]
BRIANT, P. (2017), The First European. A History of Alexander in the Age of Empire, Harvard University Press. [ Links ]
DAVIES, N. Z. (1984), The Return of Martin Guerre, Cambridge Mass., Harvard University Press. [ Links ]
DETIENNE, M. (2000), Comparer l' incomparable, Paris, Le Seuil. [ Links ]
DIFFIE, B. W., WINIUS, G. (1977), Foundations of the Portuguese Empire, 1415-1580, Minneapolis, University of Minnesota Press. [ Links ]
DIRKS, N. (2007 [1988]), The Hollow Crown: Ethnohistory of an Indian Kingdom, Nova Iorque e Cambridge, Cambridge University Press. [ Links ]
GODINHO, V. M. (1969), L´Economie de l´empire Portugais aux XVe et XVIe siécles, Paris, S. E. V. P. E. N. [ Links ]
GODINHO, V. M. (1982-1984), Os Descobrimentos e a Economia Mundial, 2.ª ed., Lisboa, Presença, 4 vols. [ Links ]
GRUZINSKI, S. (2004), Les quatre parties du monde: histoire d´une mondialisation, Paris, Éditions de La Martinière. [ Links ]
LOMBARD, D. (1990), Le carrefour javanais. Essai d´histoire globale, 3 vols., Paris, EHESS. [ Links ]
MILLER, P. N. (ed.) (2013), The Sea: Thalassography and Historiography, Ann Arbor, The University of Michigan Press. [ Links ]
OSTERHAMMEL, J. (2015), The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century, Princeton University Press. [ Links ]
RAYCHAUDURI, T. (1962), Jan Company in Coromandel, 1605-1690: A Study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economies, The Hague, Martinus Hijhoff. [ Links ]
STEENSGAARD, N. (1973a), Carracks, Caravans and Companies: the Structural Crisis in the European-Asian Trade in the Early 17th century, Copenhaga, Studentlitteratur. [ Links ]
STEENSGAARD, N. (1973b), The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Companies and the Decline of the Caravan Trade, Chicago, Chicago University Press. [ Links ]
SUBRAHMANYAM, S. (1990), The Political Economy of Commerce: Southern India 1500-1650, Nova Iorque e Cambridge, Cambridge University Press. [ Links ]
SUBRAHMANYAM, S. (2011), Three Ways to Be Alien: Travails and Encounters in the Early Modern World, Waltham, Mass., The Menahem Stern Jerusalem Lectures, Brandeis University Press. [ Links ]
SUBRAHMANYAM, S. (2015), “Global intellectual history beyond Hegel and Marx”. History and Theory, 54 (1), pp. 126-137. [ Links ]
SUBRAHMANYAM, S. (2015), Leçons Indiennes. Itinéraires d´un historien, Paris, Alma. [ Links ]
TRÜPER, H., CHAKRABARTY, D. e SUBRAHMANYAM, S. (ed.) (2015), Historical Teleologies in the Modern World, Nova Iorque e Londres, Bloomsbury Academic. [ Links ]
WACHTEL, N. (2001), La Foi du souvenir – Labyrinthes marranes, Paris, Le Seuil. [ Links ]
[1] 26 de novembro de 2014.
[2] Transcrição da entrevista por Hélder Carvalhal.