Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Etnográfica
versão impressa ISSN 0873-6561
Etnográfica vol.18 no.1 Lisboa fev. 2014
Seria preciso que a selvageria se me pegasse: Afonso de Castro e a festa das cabeças em Timor colonial
“I’d have to be infected by the savagery”: Afonso de Castro and the “feast of the heads” in colonial Timor
Ricardo Roque*
*Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Portugal. E-mail: ricardo.roque@ics.ul.pt
RESUMO
Neste artigo investigo as transações coloniais entre civilização e barbárie através da análise da controvérsia sobre a participação do governador de Timor, Afonso de Castro, na chamada festa das cabeças, cerimónia associada à celebração de vitórias guerreiras e decapitação de inimigos em Timor Leste, em 1861. Exploro de uma perspetiva dupla, interligada, o mimetismo colonial do governador nesta selvajaria ritual. Por um lado, abordo o mimetismo enquanto relação vivida com o espaço envolvente, um modo prático de entrega do sujeito às circunstâncias do rito, marcado pela tensão entre a assimilação ao meio e a demarcação da diferença. Por outro lado, concebo-o enquanto relação inscrita numa racionalidade política de tipo parasitário, com vista à governação colonial. Por conseguinte, argumento que o mimetismo colonial encontra no parasitismo a expressão da sua produtividade política.
Palavras-chave: mimetismo, parasitismo, lorosae, caça de cabeças, colonialismo português, Timor-Leste.
ABSTRACT
In this article I explore the colonial trade between civilization and barbarity by drawing on the case of Governor Afonso de Castros controversial participation in the so-called feast of the heads, a customary ceremony associated with the celebration of headhunting raids and war victories in East Timor, in 1861. I explore the colonial mimicry of the governor in this ritual savagery from a double and interconnected perspective. On the one hand, I approach mimicry as a felt, practical, relation to space, a mode of a subjects yielding into circumstances marked by a tension between assimilation to the surroundings and the creation of difference. On the other hand, I approach mimicry as part of a parasitic rationality that turns the mimetic action of being subject to alterity into a productive political gesture of abuse and extraction of the energies of headhunting rites. Therefore, I argue that colonial mimicry finds in parasitism the expression of its political productivity.
Keywords: mimesis, parasitism, lorosae, headhunting rites, Portuguese colonialism, East Timor.
DUAS NARRATIVAS E UMA CARTA JUSTIFICATIVA[1]
No dia 23 de junho de 1862, o governador do distrito de Timor, capitão de infantaria Afonso de Castro, remeteu uma extensa carta para Lisboa como resposta a reprimendas que lhe foram dirigidas, em anterior correspondência de caráter confidencial, pelo então ministro e secretário dos Negócios da Marinha e Ultramar, Carlos Bento da Silva.[2] A portaria confidencial a que dava resposta incorporava também opiniões do próprio rei de Portugal, à época o jovem D. Luís. O tema dessa correspondência confidencial era incómodo e delicado. O governador justificava-se perante críticas do ministro e da autoridade real a certos atos da sua administração, ocorridos durante as celebrações da vitória portuguesa sobre os reinos timorenses rebeldes de Lacló e Ulmera, no ano de 1861.[3] Estendendo-se de março a setembro desse ano, a guerra levara o governador, conforme era costume na colónia, a recorrer ao auxílio de guerreiros timorenses. Carente de soldados do exército convencional, o governo português em Timor socorria-se, desde tempos antigos, de guerreiros nativos (designados arraiais e moradores), que cumpriam serviço militar voluntário na forma de tributo ao governo, nas guerras dos portugueses contra os seus inimigos locais. Castro produziu diversos ofícios e relatórios sobre essa campanha de 1861, os quais remeteu inclusos na prolífica documentação sobre os eventos enviada então para Lisboa. A portaria confidencial expedida do Ministério resultava da leitura das autoridades imperiais de um desses documentos sobre a guerra. Num dos seus textos, Castro terá descrito, em pormenor, a sua vivência direta de ritos de caça de cabeças promovidos pelas tropas auxiliares timorenses, em Díli, sede da colónia, em setembro desse ano. Em causa estava o facto de Afonso de Castro ter não apenas tolerado como também participado, em pessoa, num bárbaro ritual designado no discurso colonial da época por festa ou dança das cabeças, cerimónia que, na sua designação nativa em língua tétum, recebia também o nome de dança ou rito do lorosae. Justifica-se o governador – lê-se na súmula descritiva do ofício redigida então pelos seus recetores nos gabinetes do Ministério – por ter permitido q[ue] dentro da Praça de Díli tivesse lugar a bárbara solenidad[e] da = Festa das cabeças =.[4] O conteúdo exato da carta de admoestação expedida para Timor em janeiro de 1862 é, por enquanto, desconhecido; a dita portaria confidencial não sobrevive nos atuais arquivos.[5] Sabemos apenas do que tratava e o que continha pela resposta defensiva remetida de Díli por Castro. O governador iniciava assim essa carta justificativa:
Com toda a submissão e respeito recebi a suave admoestação que em nome de Sua Majestade V. Ex.ª se serve fazer-me relativamente à solenidade que aqui teve lugar no mês de setembro último [1861] e a que se chama festa das cabeças, e que Sua Majestade quer que nunca mais se consinta dentro da Praça [Díli].
Permita-me V. Ex.ª que eu justifique o meu procedimento que poderá parecer inculcar da minha parte sentimentos pouco em harmonia com as ideias de civilização e piedade de que devo dar o exemplo ao povo que tenho a honra de governar.
O ato a que assisti, forçado por imperiosas circunstâncias, que logo mencionarei, repugna-me como deve repugnar a todo o homem civilizado. Seria preciso que a selvageria destes povos pelo contacto em que vivo com eles se me pegasse para assistir de livre vontade a cenas tais como a que descrevi a V. Ex.ª unicamente como historiador.[6]
Que cenas descritas por Castro unicamente como historiador teriam suscitado a indignação do rei e as invetivas críticas de Lisboa? Que palavras e documentos teriam chegado ao conhecimento do ministro, capazes, agora, de obrigar o governador a alongar-se na justificação dos seus atos? E, a ser verdade, quais os motivos deste célebre governador de Timor – cantado na literatura vindoura como pioneiro modernizador e civilizador da colónia – para sucumbir à selvageria?
A resposta a estas questões implica que comecemos por averiguar a história dos textos através dos quais a festa das cabeças se foi tornando visível e legível nos circuitos da correspondência trocada entre Díli e Lisboa. Foi nos vários escritos de Castro – no vaivém de epístolas em lento fluxo nos circuitos informativos da administração do império, nos trajetos censurados e truncados entre as palavras que seguiam em correspondência e aquelas que partiam para publicação – que a festa tomou forma como evento e como problema colonial. É da festa das cabeças nesses circuitos textuais que trato de seguida.
Uma notícia histórica sobre usos e costumes, 1860
Afonso de Castro (1824-1885) governou o distrito de Timor entre 1859 e 1863. A sua fama como governador dinâmico, visionário e modernizador tem atravessado a literatura sobre Timor, praticamente até à atualidade. Castro celebrizou-se por dinamizar a produção de café em regime de plantação e por lançar as bases formais de uma efetiva organização administrativa do território, abrindo caminho a uma colonização de laivos modernos. Central à sua reputação foi também a sua obra publicada acerca de Timor, e baseada em experiência e conhecimento adquiridos in loco, no decurso da sua ação governativa. Afonso de Castro é, com efeito, o mais influente autor português oitocentista sobre Timor, a ponto de as suas palavras sobre a história e os usos e costumes timorenses se encontrarem reproduzidas, citadas, copiadas, ou de algum modo referidas, na literatura sobre Timor-Leste até bem dentro do século XX. O seu livro As Possessões Portuguezas da Oceânia, editado em Lisboa em 1867, e dois artigos em francês, editados em 1862 e 1864 na revista holandesa Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land- En Volkenkunde, especializada em história e etnografia indo-asiática, tornaram-no referência pioneira e incontornável na historiografia da presença portuguesa na ilha, quer em Portugal quer no estrangeiro (Castro 1862, 1864, 1867).
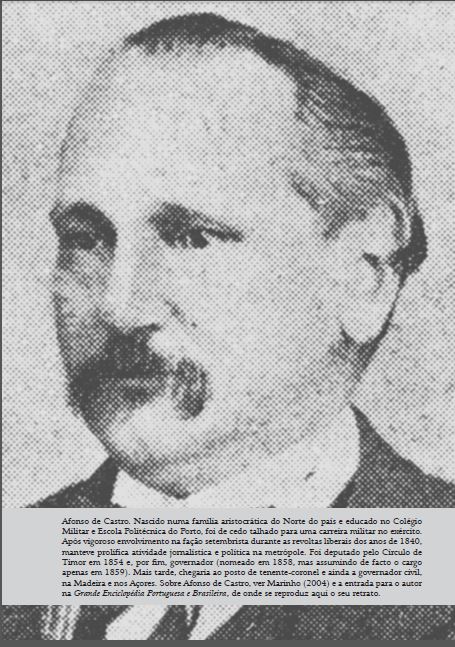
Antes de alcançarem publicação, os escritos de Castro sobre história e costumes de Timor circularam em âmbito epistolar restrito, a título de ofícios e relatórios, na qualidade de correspondência oficial do governador para o seu superior hierárquico direto. Nesse contexto histórico (Timor usufruía então de um breve estatuto como província autónoma), esse superior correspondia à figura do ministro do Ultramar, em Lisboa.[7] Foi num desses ofícios que o episódio de envolvimento português na festa das cabeças chegou ao conhecimento das autoridades imperiais. De facto, foram duas as descrições dessa cerimónia que chegaram a Lisboa, assinadas por Afonso de Castro. A primeira, datada de 1860, relatava a história do ritual em segunda mão, com base em indicações de um informante timorense. A segunda, de 1861, descrevia a cerimónia testemunhada e participada diretamente por Afonso de Castro, após a campanha contra Lacló.
A primeira descrição da festa das cabeças foi assinada por Castro e enviada para Lisboa antes dos eventos da guerra de Lacló e Ulmera. Em novembro de 1860, na expetativa de granjear publicação oficial, Afonso de Castro fez chegar ao ministro uma resenha histórica de sua autoria acerca da colonização portuguesa de Timor, acompanhada de uma notícia sobre usos e costumes timorenses.[8] Na introdução, Castro solicitou ao governo de Lisboa a publicação integral da sua notícia, reclamando para ela amplo valor documental para o conhecimento da história e dos costumes da colónia. O Ministério atendeu ao pedido. Porém, as autoridades optaram por encaminhar parte apenas do texto para publicação na secção não oficial dos Anais do Conselho Ultramarino, na qual saiu impressa em 1863 com o título Notícia sobre os usos e costumes dos povos de Timor (Castro 1863). Esta publicação constituía uma versão substancialmente reduzida, e visivelmente censurada, do manuscrito original: entre as passagens truncadas inclui-se a descrição que Castro efetuou do histórico costume da festa das cabeças em Díli.
Este primeiro relato da festa das cabeças jamais será publicado em língua portuguesa. Em As Possessões Portuguezas da Oceânia, editado pela Imprensa Nacional em 1867, em Lisboa, Castro não voltaria a fazer referência à prática do rito na história colonial de Timor – sinal, porventura, dos problemas com que se confrontara na divulgação desse costume colonial aos leitores portugueses em 1861. Para mais, fora do espaço público nacional, Afonso de Castro não se inibiu (nem foi inibido) de relatar a história da festa das cabeças. Longe do olhar e do escrutínio dos seus superiores, Castro publicaria uma versão revista – e um pouco mais suavizada – dessa sua primeira descrição da festa das cabeças, em 1862, em francês, na revista holandesa Tijdschrift, num artigo em que todo o ofício original de 1860 sobre usos e costumes reaparece, praticamente sem cortes (Castro 1862: 506). Este mesmo artigo inclui outras secções que seriam retiradas ou censuradas da versão portuguesa do texto, nomeadamente a extensa secção histórica introdutória e certas referências mais críticas à administração portuguesa na ilha. Ainda assim, poderá essa publicação não refletir ainda a reação de Castro ao juízo crítico e censório dos seus congéneres metropolitanos. O artigo dos Tijdschrift data de Díli, 28 de agosto de 1860, o que indica que o texto terá sido concluído cerca de dois meses após a primeira notícia enviada para Portugal e, portanto, bem antes ainda de receber em Timor o correio contendo as repreensões de Lisboa.
A censura ministerial do relato histórico de Castro – na sua passagem para o domínio público, fora dos circuitos de informação administrativa – é um primeiro indício do desconforto das autoridades com a complacência dada à cerimónia pelas autoridades portuguesas, em Timor; indício da perceção, em Lisboa, dos perigos do contacto entre selvajaria nativa e governação colonial, primeiros sinais do drama mimético, como abaixo direi, suscitado pela imersão portuguesa no ritual timorense. Com efeito, como continuaremos vendo, a textualização da experiência da guerra e do ritual, feita pelo governador, por um lado, e as reapropriações e depurações dessa textualização original por parte das autoridades imperiais, por outro lado, indiciam os complexos problemas simbólicos e políticos que a vivência concreta da festa (a par da exposição pública e textual dessa vivência) gerava na identidade dos colonizadores portugueses. Estes trânsitos textuais – entre público e privado, entre exposição e censura – são, por conseguinte, eles próprios, parte integrante das tensões que se enunciam na relação mantida com a selvajaria do rito timorense. Adiante no artigo explicitarei o modo como esta textualidade permite ler uma relação colonial de mimetismo estabelecida, no terreno, com os gestos e as matérias do meio envolvente. Mais adiante, por fim, na secção conclusiva, esboçarei uma discussão teórica, amplificando a discussão das implicações analíticas deste caso para a literatura sobre mimese e colonialismo. Regressemos, agora, aos circuitos dessa textualização; retomemos os trâmites das cartas e palavras de Afonso de Castro.
Nesse primeiro relato, de 1860, Castro teve como fonte a voz autorizada do rei Timor Alferes-mór da província de Belchior, homem de idade e bastante inteligente, cujo nome não era revelado. Esta descrição, portanto, não apelava à autoridade de Castro como participante ou observador direto dos ritos guerreiros. Castro terá recolhido desse rei timorense informação sobre o costume de realizar-se sempre em Díli, no final de grandes campanhas, o rito do lorosae: as guerras da praça [i. e., promovidas pelo governo de Díli] terminaram sempre, contava Castro, por fortes multas impostas aos vencidos, e por uma festa selvagem dos vencedores, a que se chama – festa das cabeças. A afirmação dá a entender que, em caso de vitória das armas do governo, a celebração de festas das cabeças na capital era uma prática costumeira, consentida e participada por anteriores governadores, muitos anos antes da chegada de Afonso de Castro. Neste ponto, Castro aproveitava para informar Lisboa de que o seu antecessor (governador Luís de Augusto Macedo) havia tentado (sem êxito) proibir, por macabra, a prática de pontapeio das cabeças decapitadas. Apenas esta prática e não mais do que ela. Isto é: a ocorrência efetiva do rito, na sua globalidade, não tinha sido alvo até então de qualquer regulação ou proibição.[9] Para mais, destacada na mesma descrição de Castro estava evidência de que o próprio governador português jogava um papel tradicional na cerimónia, assistindo à dança de pontapeio dos restos humanos e presidindo à distribuição de insígnias de decapitadores aos timorenses mais bravos, designados, em tétum, por assuai. Reunidas todas as forças do arraial vencedor na Praça de Díli, no dia determinado para a festa, escrevia Castro ao ministro, trazem os Assuai [bravos, guerreiros, cortadores de cabeças] as cabeças que cortaram ao inimigo, e colocam-nas no meio de um largo, obrigando-se os prisioneiros, homens, mulheres ou crianças, a sentarem-se em roda daqueles repugnantes troféus. E prosseguia: O governador sai da sua residência, acompanhado pelo seu pessoal, e toma posição junto às cabeças. Então os assuais aproximam-se, dançam e cantam em volta das cabeças dos inimigos, nas quais não param de dar pontapés.
A seguinte função cerimonial do governador consistia em recompensar os guerreiros, distribuindo aos mais bravos as insígnias de assuai – discos ou luas de ouro e de prata. Acabada a distribuição, terminava Castro,
retira-se o governador, dando o destino que lhe parece aos prisioneiros, e ordens para tirar do largo as cabeças, que são espetadas em paus e colocadas fora da Praça numa iminência para de todos serem vistas. Eis em que consiste a festa das cabeças a que os timores ligam uma grande importância e seria coisa que muito os desgostaria o acabar com esta cena repugnante.
Este cenário, portanto, não apresentava o governador como um elemento externo e passivo; antes o descrevia como um agente integrante do rito que interferia produtivamente na cerimónia, a partir de um lugar ritualmente previsto. Por conseguinte, Castro apresentava uma situação na qual o governador se ajustava e confundia com o ambiente reconhecidamente selvagem que o rodeava. Pois muito embora se esforçasse por atribuir o curso do rito à alteridade imaginada dos povos timorenses, não era apenas alteridade que o seu relato revelava. Pelo contrário: descrevia um espaço de relações onde as fronteiras entre o Eu e o Outro pareciam esbater-se, na prática. Governadores, oficiais e guerreiros engajavam-se em uníssono na performance de um mesmo ritual. A distinção entre governador e governado, entre civilização e barbárie, parecia esbater-se no caos ruidoso e violento de uma paisagem de selvajaria, volatilizando-se na coreografia ritual. Perante o facto, Castro confessava inconveniência em pôr termo à cerimónia, prenunciando a argumentação pragmática e parasitária que, como veremos, desenvolveria, meses mais tarde, na resposta dada às críticas de Lisboa. Embora repugnante, a grande importância que esta cerimónia possuía para os timorenses era a razão alegada para que o governador se rendesse a essa mesma importância, abafando sentimentos de repúdio. Mas esta justificação comunica também um sentido de ameaça ontológica à condição colonizadora dos portugueses, como que prevendo os efeitos que a sua imagem literária da festa poderia despertar nos leitores metropolitanos.
Em 1861, outra descrição chegaria a Lisboa, de novo ficando restrita, em língua portuguesa, aos circuitos confidenciais da administração. Esta, contudo, não consistia já na narrativa de um costume antigo, de tempos passados, assente na autoridade da distância histórica e em evidência indireta reportada por um rei Timor. Afonso de Castro expediu então para Lisboa um segundo relato da festa na sequência da vitória sobre Lacló, no centro da qual estava a sua experiência pessoal e vivida da cerimónia, na praça de Díli, a 12 de setembro de 1861. Conforme se depreende da posterior carta justificativa (reação de Castro à reação de Lisboa), foi especialmente a leitura deste segundo relato, feito na primeira pessoa e reportando acontecimentos contemporâneos, que levou a que o rei e o ministro repreendessem o governador, dando instruções categóricas para que a cerimónia nunca mais se repetisse.
Uma notícia sobre os festejos de uma vitória portuguesa, 1861
No dia 12 teve lugar a festa chamada das cabeças da qual eu farei a V. Ex.ª uma ligeira descrição para dar ideia dos costumes destes povos. Às oito horas formaram-se as Companhias irregulares da Praça em força de perto de 200 homens no largo de Díli, e ao lado do arco de triunfo, que se tinha levantado naquele largo, no alto do qual se liam em grandes carateres estes dois versos:
Distintos vós sereis na lusa história
Pelos louros que ganhastes na vitória.
Em frente do arco e ao lado de uma barraca colocou-se uma guarda oficial do Batalhão. Às nove horas dirigi-me com alguns oficiais para a barraca e coloquei-me em frente do pavilhão real que ali se achava levantado. Nas barracas tomaram lugar muitas Senhoras de Díli. Dei então ordem para entrar o arraial [força irregular, guerreiros timorenses], o qual avançou da seguinte forma.
À frente de cinquenta cavalos montados pelos chefes vinha o Alferes Xavier, e atrás deste esquadrão o arraial com as suas bandeiras. Os assuais (valentões) de espada desembainhada na mão direita, a espingarda na esquerda dançando, formando mil trejeitos e carantonhas e dando grandes gritos, que eram correspondidos pelo arraial. Chegado o esquadrão a trinta passos de mim pôs pé a terra e fez-me o seu cumprimento, o arraial em massa colocou-se na minha frente, e então o Alferes Xavier levantou três vivas a Sua Majestade, à Nação e ao Governador, que foram correspondidos pelo arraial.
Até aqui o espetáculo tinha tudo de fantástico e era interessante, mas daqui por diante o espetáculo torna-se repugnante e horrível para um europeu.
Terminados pois os vivas, as companhias de moradores [companhia de soldados nativos] romperam as fileiras e tomaram parte nas danças, o arraial fez círculo e dois assuais de Caiman avançaram tendo um deles uma cabeça na mão agarrada pelos longos cabelos que ainda conservava. O meu Secretário entregou então a dois Comandantes de moradores duas canas, na ponta das quais estavam atados dois lenços encarnados e dois círculos de prata a que se chamam luas. Os Comandantes pegaram cada um na sua cana e começaram a saltar em frente dos assuais, que saltando também e fazendo carantonhas procuravam desviar o corpo. Depois de alguns saltos os Comandantes arremessaram as canas, os assuais agarraram-nas, tiraram as luas que penduraram no pescoço e vieram colocar a cabeça ao pé do pavilhão real e isto se repetiu doze vezes que tantas eram as cabeças cortadas. Vieram depois os assuais que tinham feito prisioneiros, e que eram três mulheres, dois homens e uma criança, e estes assuais depois de receberem as luas colocaram os prisioneiros ao pé das cabeças. Terminado isto entraram os tabedaes [grupos de dançarinas / os timorenses] para dançar em roda das cabeças e então via-se uma coisa que V. Ex.ª terá dúvida em acreditar e com que vai ficar horrorizado: Um grande valentão que saltava em roda do tabedaes, agarrou a cabeça que havia cortado e segurando-a pelos cabelos com os dentes começou como um possesso a dançar com aquele troféu na boca!
V. Ex.ª pode avaliar por este facto o estado de selvajaria em que se acha este povo![10]
Esta poderosa e vívida descrição foi redigida por Afonso de Castro dois dias apenas após a sua vivência da cerimónia. Através destas palavras, o governador comunicava ao ministro a efervescência coletiva sentida nesse dia 12 de setembro, quando, em Díli, os festejos oficiais da vitória das forças portuguesas decorreram sob a égide do seu governo, incluindo, num misto de pompa e horror, a festa das cabeças. A festa surgia assim como um ato do governo colonial, cerimónia contígua e justaposta à ocasião festiva programada pela administração após a campanha contra Lacló. Esta conjunção festiva fazia do governador Afonso de Castro, dos funcionários europeus, dos Comandantes, participantes efetivos da cerimónia. Contudo, o relato mostra também a preocupação do governador em descrever o momento estabelecendo fronteiras; mostra o seu esforço em demarcar, no texto, os momentos em que, durante o ritual, a sua posição enquanto europeu se distinguia da amálgama do rito propriamente timorense. O Eu colonial esforçava-se assim por afastar de si a selvajaria imputada ao Outro em que, não obstante, se via inevitavelmente imerso.
Em Lisboa, a notícia de uma retumbante vitória portuguesa foi recebida com satisfação – muito embora os detalhes dos festejos tenham sido convenientemente ocultados do olhar público. Os cerimoniais adotados em Díli causaram visível perturbação entre as autoridades. Em 11 de fevereiro de 1862, o Diário da Câmara dos Senhores Deputados deu brevíssimo registo das mais satisfatórias notícias chegadas de Timor: Os rebeldes haviam sido completamente debelados. Escrevia-se: Em Díli celebrou-se com muitas festas esta vitória das armas portuguesas (Anónimo 1862). Neste mínimo apontamento oficial, a festa das cabeças passava a coberto de um eufemismo (com muitas festas); a sua existência suavizava-se a ponto de eclipsar-se do registo histórico formal. Mas, em privado, as autoridades imperiais foram mais verbosas e menos mansas, como se presume da correspondência admoestatória dirigida a Afonso de Castro.
Este último, por seu lado, enquanto a indignação dos superiores discretamente se erguia em Lisboa, foi dando em Timor outra difusão aos seus escritos. À semelhança do que fizera com a anterior descrição do rito (de 1860), Castro encaminhou uma variante mais literária e algo autocensurada da segunda descrição para a revista holandesa Tijdschrift, publicando-a em francês enquanto parte de um artigo mais longo a que chamou Une rébellion à Timor en 1861 (Castro 1864).[11] Castro optou aqui pela distância da terceira pessoa (o governador) para referir-se à sua parte nos festejos da vitória. Foi assim em tom quase jornalístico que relatou esses mesmos ritos do lorosae a que presidiu em Díli, em setembro de 1861. Com pompa, sob um arco do triunfo erguido especialmente para o efeito, os montanheses e os irregulares desfilaram com as cabeças cortadas perante o governador, rodeado do seu estado-maior e algumas damas, que observavam com deleite o momento, no remanso de uma tenda (1864: 402-403). Neste texto da Tijdschrift, Castro descreveu a festa das cabeças como cenas de uma fantasia excêntrica, um ato exótico de selvagens, ao qual o governador assistia como mero espectador, atraído pelo fascínio magnético da alteridade extrema – como se, algures na Europa, se visse defronte das extravagâncias de um zoo animal ou de um circo de bizarrias humanas: Um Europeu maravilhar-se-ia, escrevia adiante sobre o arranjo dos guerreiros para a campanha, ao ver estas vestimentas coloridas, estes panaches flutuando sobre cabeleiras fabulosas, este arsenal de armas diversas [ ] (1864: 404).
Em ambas as variantes deste segundo relato, relativo a festejos nos quais Castro diretamente participou, a figura do governador apresenta-se-nos passiva, silenciosa, vestindo a pele de um espectador distante. Ambos os registos desta descrição direta contrastam, assim, com aquela outra, a descrição histórica, que primeiro foi enviada ao ministro, e na qual, recorde-se, o governador (em abstrato) aparecia como agente do ritual, totalmente implicado no meio, presidindo à dança e distribuindo as recompensas aos guerreiros. Em qualquer dos casos, uma coisa é certa – e este é um importante ponto a reter desta necessária excursão analítica pelas subtilezas das textualizações diversas da festa das cabeças: onde quer que fosse que os textos de Afonso de Castro localizassem o governador e os oficiais europeus no espaço da festa das cabeças, não havia modo de evitar nos seus leitores a impressão de que o governador era parte integrante da selvajaria timorense. Não existia maneira de estar fora. Não havia forma de evitar ser percebido como estando possuído pelas circunstâncias do ritual; não havia forma, enfim, de escapar a uma relação de mimetismo. Ao apenas tomar lugar no espaço da festa – permitindo-a como governador, assistindo a ela como espectador, ou reclamando um lugar como historiador – Castro parecia criar entre civilizado e selvagem continuidades de substância, onde descontinuidades apenas eram moralmente admissíveis. Na festa das cabeças, o europeu civilizado ameaçava diluir-se num meandro de topos selvagens – fosse qual fosse a qualidade (governador, militar, chefe de guerra, espectador, observador, ou historiador) em que ocorria a sua participação.
MIMETISMO E PARASITISMO NA FESTA DAS CABEÇAS
Em qualquer das suas variantes, as textualizações da festa das cabeças redigidas por Afonso de Castro eram gestos perigosos: expunham a subjetividade europeia e a moral cristã do governador, bem como, nesse mesmo passo, o império inteiro que representava, ao perigo de dissolução na alteridade selvagem dos timorenses. As descrições expedidas de Timor despertaram assim nos governantes metropolitanos a perceção de um problema, de escala imperial, marcado pelas tensões resultantes da presença do governador no ritual. Para os superiores em Lisboa, a presença do governador português na festa das cabeças apresentava-se, assim, como um drama mimético, uma crise da situação colonial suscitada pela perceção do esvaziamento da virtude europeia da diferença; uma crise expressa pela sensação de perda, por diluição no espaço envolvente, do privilégio da distância entre civilizado e selvagem, a dualidade fundacional do projeto e do sujeito coloniais oitocentistas. O problema maior era que um representante máximo da autoridade real portuguesa – e, bem assim, com ele, também o rei, o império e o colonialismo português em Timor – constituísse parte integrante e propulsora do espaço ritual da festa das cabeças, a ponto de se confundir com a alteridade bárbara que esse mesmo espaço representava. O problema maior, em suma, era que Afonso de Castro se tivesse tornado Outro, tornado selvagem. Porque apenas estabelecera contacto e tomara posição num ritual supostamente proscrito, Castro sucumbira à tentação mimética da assimilação ao meio envolvente e ao risco de subsequente despersonalização do sujeito, de que nos falou o antropólogo e surrealista francês Roger Caillois, num iluminador ensaio de 1935 (Caillois 1984 [1935]).[12]
Para Caillois, o princípio último da ação mimética (no mundo humano como no dos organismos vivos não humanos) consiste menos na busca de semelhança do que na orientação do ser para se assimilar à envolvente, o impulso para ser tentado e possuído por aquilo que o rodeia. O mimetismo, seguindo a inspiração de Caillois, pode assim ser visto como uma tentação pelo espaço, em que o Eu se deixa possuir pelo que o circunda. No mimetismo, argumentou Caillois, o drama da individualidade é o da atração do ser pelo espaço envolvente, a ponto de a sua existência se dissolver nele. Nas palavras de Caillois:
a criatura viva, o organismo, não é mais a origem das coordenadas, mas um ponto entre outros; é desapossado do seu privilégio e literalmente não sabe mais onde se posicionar a si mesmo. [ ] O sentimento da personalidade, considerada como o sentimento de distinção do organismo em relação ao seu meio envolvente, da conexão entre consciência e um ponto particular no espaço só pode, nestas condições, ser seriamente deteriorado [ ] (Caillois 1984 [1935]: 28, itálicos no original).
A tensão enunciada por Caillois entre ser-se possuído pelo meio e desapossar-se de si mesmo encontra eco empírico na ideia de sujeição do colonizador às circunstâncias – no duplo sentido de uma contingência e de tudo aquilo que está em volta –, uma ideia que encontraremos, insistente e repetida, no discurso justificativo do governador Afonso de Castro. Presente na festa das cabeças, entregue às circunstâncias, o governador português arriscava um género de desindividuação, tornando-se um constituinte indistinto daquilo que o rodeava; não mais do que um ponto entre pontos, não mais do que um selvagem entre selvagens.
O drama entrevisto nas denúncias de Lisboa era assim o da incapacidade do governador para realizar, nesse espaço de contacto intenso com a alteridade, o privilégio colonial da diferença. Ao mesmo tempo, também, o drama sentido em Lisboa apontava para outra preocupação metropolitana, de cariz político. Com a imersão no Outro, arriscava-se a perda do mandato moral da missão civilizadora que legitimava a moderna vocação colonial dos europeus e, com ela, o seu mandato de poder. Incapaz de sustentar hierarquias de diferença, diluído em lugares de barbarismo indígena, receava-se que o governador fosse incapaz de exercer o mandato colonial de governo e dominação. Pois, como poderia um governador manter-se europeu, colonizador e civilizado, se a sua posição fosse indistinta dos seus súbditos nativos, se não apenas o seu lugar como o seu estado de consciência e sentimentos se tornassem unos com aqueles de povos selvagens?
A carta justificativa de Afonso de Castro entende-se como reação à perceção deste drama, constituindo um exercício de refutação do princípio de que, ao autorizar, tolerar e integrar o ritual, Castro anulava a sua condição subjetiva de partida e, com ela, o império inteiro. Esta refutação passou por duas ordens de justificação. Primeiro, Castro argumentaria que o seu posicionamento no meio da festa não configurava uma situação de contágio imitativo e, por conseguinte, não incorria na anulação da diferença. Segundo, argumentaria que tomar lugar nesse meio ritual era um ato politicamente virtuoso. Tinha sentido no quadro de uma estratégia política de poder parasitário, que enriquecia a dominação portuguesa, libertando-a das suas múltiplas vulnerabilidades em Timor. Em suma, teorizando a práxis colonial em Timor como uma arte de subordinação à força das circunstâncias, a argumentação de Castro sugere que o seu papel na festa das cabeças constituía um gesto mimético de assimilação ao meio que encontrava na exploração parasitária da alteridade a sua orientação política.
Contacto e contágio
Seria preciso que a selvageria destes povos pelo contacto em que vivo com eles se me pegasse: esta expressão, acima citada na carta justificativa, exprime a tentativa de circundar a sugestão de que a existência de contacto correspondia à produção de semelhança. Assinalava a rejeição lógica da possibilidade de o governador sofrer os efeitos de uma relação mágica de contágio imitativo, só pelo facto de partilhar um meio ritual com os timorenses. Castro negava pois que a relação colonial pudesse reger-se por princípios de transmissão de qualidades ou substâncias por relação simpática, negando, como contrários à moderna Razão, que o mero contacto com coisas, pessoas ou circunstâncias, por exemplo, do mundo indígena fizesse com que um europeu comungasse das qualidades substantivas desse mundo, doravante convertendo-o em seu semelhante. Afonso de Castro rejeitava assim a atuação de princípios mágico-simpáticos no contacto colonial, argumentando que a conjunção ritual entre corpos portugueses e corpos timorenses não bastava para que entre estes se produzisse um nexo de consubstanciação; logo, não correspondia a um caso de desindividuação mimética. Pensar, pois, que um ente civilizado pudesse tornar-se cópia de outro, selvagem, por contacto e contágio; pensar que a selvajaria pudesse transmitir-se, pegar-se, como uma doença correspondia a cair nos absurdos do pensamento mágico, primitivo, irracional, ou pré-moderno.[13] O facto de Castro se ver na necessidade de evocar estes princípios, contudo, é indicador bastante de que, de facto, em Lisboa, se temia que um qualquer género de princípio simpático de consubstanciação tivesse sido acionado no contacto causado pela copresença entre governador, império português e barbaridade dos ritos.
Esta declaração de princípio, rejeitando a ideia de um contágio imitativo como irracional, não constituiu justificação bastante. Castro acrescentaria que o contacto com a festa das cabeças podia até revelar cumplicidade e ambivalência identitária; mas diria também que tal não bastava para presumir similitude sem diferenciação. Mais: o seu alegado mimetismo da selvajaria não implicava nem dissolução da diferença, nem perda da posição de poder. Assumindo tomar parte na festa das cabeças, a argumentação de Castro em favor da dupla possibilidade de, nesse contexto, manter diferença e exercer governo desenvolveu-se em torno de duas ideias principais: o argumento do retorno a si mesmo, a negação da negação de si; e o argumento da assimilação ao Outro como forma de exploração política, o mimetismo como abuso parasitário da selvajaria.
A assimilação ao meio e o retorno a si mesmo
Castro elaborou o argumento de que contacto e presença não eram por si sós capazes de destituir o Eu do governador da sua individualidade europeia, cristã e colonial. Embora forçado pelas circunstâncias a mergulhar no ritual, o governador afirmava bastar-lhe um duplo ato reflexivo – de suspensão de crenças, primeiro; de posterior retorno a si mesmo, segundo – para assegurar diferença e individualidade. Afonso de Castro procurava, desta forma, serenar o rei e o ministro, dizendo que a permissão e a imersão pessoal no ritual não o inibiam de continuar a abraçar afetos, sentimentos e valores cristãos. Em primeiro lugar, porque o envolvimento na festa das cabeças não tinha sido um ato feito de livre vontade mas sim um ato constrangido, dizia, pela força imperiosa das circunstâncias.[14] Em segundo lugar, porque, não obstante esta coação do meio, a negação de si mesmo a que se obrigara o governador não o impedira de preservar uma identidade distintamente europeia e civilizada. Do meu amor ao progresso e civilização, dos meus sentimentos íntimos de religiosidade, afirmava Castro, creio que tenho dado suficientes provas para que V. Ex.ª esteja bem certo deles; a festa, reiterava, repugna-me como deve repugnar a todo o homem civilizado. Por fim, declarava ao ministro:
cheio de repugnância e contristado e quase envergonhado do papel de espectador num ato de tanta selvageria, venci aquelas repugnâncias, abafei no peito os meus sentimentos de respeito aos mortos, os meus sentimentos de humanidade, e fui assistir àquele ato, [ ] Mas em presença da exposição que acabo de fazer eu espero que V. Ex.ª não me julgue indiferente a estes atos de ferocidade e menos que eu partilhe os sentimentos deste povo.[15]
Não obstante o desapossamento de si mesmo imposto pelo contacto com a festa das cabeças (abafei no peito os meus sentimentos), o governador mantinha-se em condições reflexivas de reposicionar-se a si mesmo enquanto entidade distinta dos selvagens e dos sentimentos deles. Esta capacidade de, por um lado, suspender sentimentos e, por outro, ser capaz de a eles regressar após o contacto permitia a Castro justificar a ativação de um mimetismo momentâneo que em nada ameaçava o privilégio da diferença. Para Afonso de Castro, então, a sua relação mimética com a festa de cabeças adquiria sentido num campo duplamente negativo de negação de si e de rejeição de não-si. Adquiria sentido nesse campo de não eu, não não-eu, onde, como articulou o antropólogo Rane Willerslev, a imitação do Outro supõe uma negação de si mesmo que jamais chega a ser uma plena dissolução no Outro (Willerslev 2007). Por conseguinte, Castro alegava partilhar com os timorenses o sítio do ritual, nele participando e dele adotando a alteridade – sem contudo a ela se assemelhar integralmente. Os seus sentimentos, afetos, valores e emoções permaneciam bem europeus; apenas eram suspensos por momentos, a elas depois regressando, incólume, o mesmo sujeito. Tomar lugar no espaço da festa, portanto, não implicava a perda do eu, não matava o domínio colonial da diferença. Apenas obrigava a uma negação parcial e transitória, logo recuperável por um movimento reflexivo de retorno do governador a si mesmo. O governador mantinha assim o sentimento de distinção em relação ao meio, de que nos falava Caillois, evitando a morte da individualidade a que o seu mimetismo o ameaçava. Na condição de exercitar a sua reflexividade, então, a participação do governador na festa das cabeças preservava em Timor – quer individualmente para o sujeito Afonso de Castro, quer coletivamente para o império português – o privilégio colonial da diferença.
O mimetismo como relação parasitária
Paralelamente, Castro articulou a ideia de que a autorização concedida, bem como a participação no rito, não destituía o governador do seu lugar de poder. Ao invés, constituía uma forma estratégica de apropriação parasita da alteridade, ao serviço da dominação portuguesa. Por conseguinte, o mimetismo a que Afonso de Castro se sujeitava, articulava-se com uma teoria do parasitismo como princípio de governação colonial de ritos e costumes da vida timorense. A inserção mimética no ritual incluía, pois, uma relação parasitária. A capacidade para desligar-se temporariamente de si próprio, suspendendo reflexivamente valores civilizados, permitia ao governador manter poder sobre si, sobre o próprio rito e sobre as populações nativas que o incluíam na ação ritual. A participação no meio-outro possuía assim um sentido estratégico, possibilitando ao governador e ao império manter, em Timor, uma posição de soberania, expressa num género de exploração das forças da barbárie imputada aos timorenses.
Com efeito, a segunda justificação avançada por Afonso de Castro aponta para a racionalidade política inscrita no seu ato de entrega ao ritual. Castro justificou a sua vivência do rito como um gesto de sacrifício patriótico, uma entrega mártir do indivíduo ao barbarismo, feita em nome de valores coletivos mais altos, a expensas da negação de si mesmo. Em simultâneo, Castro esforçou-se por demonstrar que o papel ativo do governador no meio ritual constituía um movimento estratégico, um ato racional e premeditado com o objetivo – e cito Castro – de salvar a nossa dominação nestas paragens. Ao tomar lugar no rito da caça de cabeças, no meio timorense, o governador Afonso de Castro comportava-se, então, como um parasita, utilizando a sua dissolução com e entre guerreiros, tabedais, militares, prisioneiros e cabeças humanas, para deles extrair as energias que faltavam ao estabelecimento colonial português em Timor.
No estudo do filósofo francês Michel Serres sobre parasitismo – Le parasite – encontro os fundamentos conceptuais para pensar este tipo de ligação (cf. Roque 2010). O parasita, escreveu o filósofo Michel Serres, obtém o poder, menos por ocupar o centro do que por preencher o meio [milieu]; posicionado neste lugar, ele [ ] desvia parte dos fluxos produzidos por outros, para seu proveito próprio, ou para proveito de uma instância a que atribua certo respeito [ ] (Serres 1997 [1980]: 18 e 174). Nos usos de Michel Serres, a noção de milieu comporta a dupla aceção não apenas de ambiente mas de espaço-entre (cf. Connor 2002). Por conseguinte, se explorado desta perspetiva, o parasitismo colonial de Castro constitui ainda uma relação ao meio num sentido duplo: (i) no sentido de uma relação com o meio (com o espaço ou ambiente envolvente do ritual); e (ii) de uma relação no meio, um modo de ocupar o espaço-entre, uma mediação (abusiva, porque parasitária) dos trânsitos entre civilização e selvajaria proporcionados pelo evento da festa e envolvendo quer timorenses entre si, quer portugueses e timorenses uns com os outros. Creio que o topos do poder parasita assim evocado por Serres se encontra produtivamente com o topos da relação mimética descrita por Roger Caillois. A posição do parasita não é o centro, mas os interstícios, o espaço-entre; e, tal como o mimetismo se forma através da associação com aquilo que está em volta, o parasitismo manifesta-se igualmente na exploração abusiva da envolvente e das transações que aí tomam lugar. Na verdade, entre parasitismo e mimetismo, pode dizer-se, a relação é mutuamente produtiva. Pois é na lógica mimética de assimilação ao meio que o parasita encontra a condição de possibilidade para as suas atividades de interceção e sonegação das energias da alteridade em que se hospeda. Segundo Michel Serres:
O parasita joga com o mimetismo. Não sei se o mimetismo é todo inteiramente parasitário, mas ele é um subterfúgio necessário ao ladrão, ao estrangeiro, ao convidado; é um disfarce, uma camuflagem às cores do meio, quando o meio é o hospedeiro, que é o outro. [ ] É um apagamento da individuação e a sua dissolução no meio é uma boa proteção na defesa e no ataque (Serres 1997 [1980]: 363).
A dissolução no meio que orienta o agente mimético – essa mesma a que aludia Caillois – é o subterfúgio fundamental do parasita. E porque esse meio é o mundo outro do hospedeiro, no parasita a associação mimética com o meio corresponde a uma associação mimética com a alteridade. A esta luz, o lugar de Afonso de Castro na festa das cabeças emerge como o estratagema do parasita. A relação parasitária acrescenta assim à imersão do governador na festa uma racionalidade política, profundamente colonial. Essa presença serve para proteger-se do Outro; mas serve também para aproveitar-se dele. Mimetismo e parasitismo combinam-se: a assimilação do indivíduo ao meio-outro configura, em simultâneo, uma relação de exploração da selvajaria da cerimónia.
A força das circunstâncias
No cerne das justificações dadas por Afonso de Castro para esta conjunção entre mimetismo e parasitismo encontra-se, por fim, um sentido tático e uma filosofia pragmática da ação colonial, uma forma do que designei praxiologia (Roque 2010). No presente contexto, a expressão-chave desta praxiologia é o termo circunstâncias. Nos apelos do governador à força das circunstâncias, essa expressão evocava um duplo sentido: por um lado, designava aquilo que está no espaço em volta, o que existe em redor, um meio-ambiente; por outro lado, referia-se àquilo que é temporalmente contingente, inesperado, impremeditado, a ponto de determinar o curso dos acontecimentos. Esta ideia de que as circunstâncias locais, em Timor, governavam efetivamente o curso da ação colonial é presença regular no discurso do governador. Ela evoca sentidos que nos remetem para a lógica de associação ao meio, discutida acima, em que as ideias de parasitismo e mimetismo se encontram. Concedendo às circunstâncias o papel dirigente da ação colonial, Castro parecia demitir o sujeito-governador da posição de centro de governo, delegando nos múltiplos elementos do meio envolvente (incluindo o simples acaso) o comando da sua orientação governativa.
Com efeito, central à sua justificação de entrega ao ritual – e, a bem da verdade, central a muita da retórica política do governador – estava a ideia de que o governo dos timorenses devia subordinar-se menos a princípios últimos, externos e abstratos, e mais à especificidade local e imediata das circunstâncias. Esta filosofia da ação – coadjuvada ainda, nesse contexto histórico, pela autonomia administrativa de que gozava temporariamente Timor e pela sua distância extrema em relação à metrópole – é legível em outros momentos da correspondência para Lisboa. Amiúde Afonso de Castro evocou a ideia da prioridade das circunstâncias, para justificar desvios do seu governo em relação a instruções gerais ou a princípios abstratos emanados da metrópole. Nesses anos iniciais da década de 1860, o governador de Timor tinha mais latos poderes e correspondia-se, sem intermediário, com as autoridades de Lisboa, das quais dependia diretamente. Todavia, alguns desacordos ocorreram acerca da orientação administrativa imprimida por Castro. Neste sentido, a portaria confidencial criticando a ocorrência da festa das cabeças acrescenta-se a outras tensões que acompanharam esse relacionamento direto.
Em 1860, por exemplo, em aberta oposição a instruções metropolitanas, Afonso de Castro explicou ao ministro que decidira atribuir especial importância ao uso da violência na repressão de conflitos em Timor. O motivo: a força das circunstâncias. Justificava assim ser seu sistema privilegiar a ação punitiva através do recurso ao terror em contradição com instruções gerais do governo imperial, as quais insistiam na mediação pacífica de conflitos: Não me afastarei das instruções gerais que o Governo de Sua Majestade me dá [ ] em relação às frequentes guerras que dilaceram estes povos, mas há casos em que eu terei de obrar conforme as circunstâncias o determinarem.[16] Contrariamente a ordens de Lisboa, o governador preferia a eficácia local do uso da força. Nesta defesa do recurso à violência estamos perante um mesmo apelo a ser possuído pelo espaço, pelo meio envolvente. A prioridade concedida às circunstâncias expunha o princípio governativo da adaptação mimética à localidade da colónia em detrimento da reprodução de normas imperiais genéricas, externas e abstratas. Plasmava-se igualmente o princípio da relação parasitária com a barbárie dos usos timorenses, a expropriação estratégica das suas forças.
A relação com a festa das cabeças evocava esse mesmo princípio pragmático de sujeição da administração à ação fortuita das circunstâncias. Neste sentido, Castro explicou que o seu papel na festa das cabeças não resultava da sua vontade, mas sim das circunstâncias de Timor e da guerra de Ulmera em 1861. Afinal, as circunstâncias singulares dessa guerra tinham obrigado o governador a abdicar de valores morais de partida para, em seu lugar, abraçar usos e costumes timorenses. Essa força das circunstâncias era de tal modo dominante que, em nome da eficácia da governação, Afonso de Castro confessava ter decidido abdicar (logo em 1859, cedo após a sua chegada a Timor) do seu inicial ensejo em proibir por completo a selvagem solenidade dos ritos do lorosae; em vez disso, retrocedeu até em medidas proibitivas do seu antecessor, voltando a autorizar que as cerimónias incluíssem o hábito de pontapear as cabeças cortadas do inimigo.[17] Por conseguinte, contrariamente a proibir ou regular, Castro deu rédea solta, espaço livre à festa das cabeças. A justificação oferecida para os episódios festivos de 1861, em Díli, seguia a mesma linha de argumentação: Inda assim, se outras fossem as circunstâncias em setembro [de 1861], eu teria tentado abolir semelhante espetáculo como é o da tal festa das cabeças. Mas quais, perguntava retoricamente Castro, eram aquelas circunstâncias? Quais? E Afonso de Castro explicava:
Os arraiais acabaram de escalar, isto é, de assaltar Lacló, e depois de uma campanha de cinco meses tinham de empreender outra contra Ulmera (ao poente de Díli).Se eu pretendesse proibir a solenidade os arraiais tomariam isso, primeiramente como uma afronta, como uma demonstração de desprezo pelo valor dos seus assuais (bravos) e [ .] indo tal proibição de encontro às suas antigas tradições e aos seus estilos ficariam perturbados e ninguém seria capaz de os despersuadir de que a campanha que empreendessem lhes seria fatal.
O resultado seria que a solenidade não se fazia, mas os arraiais desapareceriam e ninguém mais os reunia. [ ] Ora sem arraiais eu não podia de modo algum debelar a revolta [ ].
Se eu por uma imprudência, por uma inovação filha sem dúvida de louváveis sentimentos fornecesse o pretexto para que a situação de favorável que nos era, se tornasse temerosa, eu seria merecedor de um severo castigo.
Sendo pois o meu primeiro dever salvar a nossa dominação nestas paragens, sustentar a nossa soberania, a esse dever me cumpre sacrificar quaisquer considerações, e transigir com todos os usos e costumes destes povos, quando tal transigência não seja vergonhosa. Foi o que fiz.[18]
O governador defendia a vantagem pragmática de extrair dos guerreiros as energias necessárias para assegurar vitória e soberania colonial, invertendo assim a situação de fragilidade que caracterizava a presença portuguesa na ilha (cf. Roque 2010). No mesmo sentido, rendido à força do meio envolvente, entre os timorenses no espaço da festa das cabeças, Afonso de Castro podia continuar a resolver as fragilidades da ocupação portuguesa, extraindo do meio selvagem da cerimónia os poderes que a comunidade colonizadora parecia incapaz de gerar por si mesma. Não era o primeiro a fazê-lo e não seria o último. À participação de Afonso de Castro no rito do lorosae outras se seguiriam nas décadas seguintes. A festa das cabeças continuou a ser um espaço tão problemático quanto produtivo da presença colonial dos portugueses em Timor (veja-se Roque 2010). A documentação histórica fornece registo de cumplicidade, presença e participação de governadores e militares portugueses nestes ritos até, pelo menos, à década de 1910. No culminar das terríveis guerras de 1912, por exemplo, após a vitória sobre os rebeldes de Manufahi, o então governador de Timor, Filomeno da Câmara, permitiu o rito da festa das cabeças na cidade de Díli. Filomeno da Câmara presidiu ele próprio aos lorosae, dando início à cerimónia com um tradicional pontapé no monte de cabeças decapitadas (Chico 1953; Duarte 1944: 86-87; Inso 1939: 19-20, 37; Pélissier 1996: 294). Talvez que, como queria Afonso de Castro, a selvajaria não se pegasse aos portugueses. Eram antes os portugueses que se pegavam a ela.
MIMETISMO, CIVILIZAÇÃO E BARBÁRIE
Em Mimesis and Alterity, precedido do magistral Shamanism, Colonialism, and the Wild Man, Michael Taussig lançou uma série de importantes hipóteses de trabalho sobre a centralidade da mimese na expansão colonial europeia (Taussig 1993, 1987). O colonialismo europeu, afirmou Taussig, constitui um processo histórico onde por excelência é legível a relação sentida pelo processo civilizacional com a selvajaria (Taussig 1993: xiv). A imaginação da selvajaria imputada ao Outro alimenta a relação colonial, num jogo de espelhos, ao longo do qual a selvajaria imaginada se inscreve no corpo do nativo e na prática da violência colonial. Taussig desenvolveu argumentos originais de Adorno e Horkheimer, para quem a violência brutal, primitiva, imposta a corpos e vidas de judeus durante o nazismo constituiu uma mimese da mimese organizada: o excesso de (re)ação material ao profundo medo induzido pela representação nazi antissemita do judeu enquanto ser inumano e demonizado (Adorno e Horkheimer 2002: 137-173; cf. Taussig 1993: 45-46, 59-63).[19] Assim também o colonialismo, nas palavras de Taussig, não é concebível sem uma rede de imagens apaixonadas geradas durante vários séculos pelo tráfico colonial com o que era selvagem [wildness] e que assegurou à civilização a sua selvageria [savagery] (Taussig 1993: xviii). Civilização e selvajaria não podem merecer tratamento em separado. Constituem núcleos de termos interdependentes, integrados e dinâmicos, em volta dos quais se joga a história política e epistémica da expansão colonial do Ocidente na modernidade. Deste ponto de vista, a história colonial europeia tem entre as suas chaves de compreensão o díptico mimese e alteridade e, com ele irmanado, o díptico civilização e selvajaria– afinal, esse referente central da autoconsciência europeia nas suas gestas imperialistas desde o Iluminismo (Elias 1989).[20]
Neste artigo, segui no encalce destas pistas, dirigindo a atenção para formas de mimese praticadas nos encontros coloniais, não na perspetiva de manifestações nativas de contrapoder, mas sim na qualidade de relação e de prática colonial material, protagonizada por europeus autoproclamados colonizadores e civilizados.[21] Aprofundando um episódio do império português como estudo de caso, averiguei esta hipótese abrangente e experimentei novas linhas conceptuais, propondo o conceito de mimetismo parasitário. Concentrei-me no complexo de transações miméticas entre civilização e selvajaria que os agentes coloniais portugueses mantiveram com esses ritos de violência chamados festa das cabeças, em Timor, durante os séculos XIX e XX. Foquei essas transações no contexto dos atos de governo de Afonso de Castro com a intenção ainda de assinalar a produtividade política do imbricamento colonial em ritos nativos – mas também as profundas tensões políticas, simbólicas e identitárias que essa ligação igualmente acarretava.[22]
O meu olhar sobre o regime de transações coloniais com a selvajaria não foi guiado por uma ideia convencional de mimese no seu sentido estrito de imagem ou representação simbólica. Inspirado em metáforas que cruzam a biologia com a filosofia, guiei a análise por uma conceção mais material da relação mimética enquanto modo prático de assimilação ao espaço envolvente, uma relação ao e uma posição no meio, relação em que meio e sujeito se interpossuem. Inspirando-me em Caillois e Serres, conceptualizei o mimetismo colonial como uma relação espacial de contacto do colonizador com o meio selvagem, um modo prático e vivido de possessão por, e assimilação a, circunstâncias. Ao experimentar aqui esta abordagem não pretendo esgotá-la nas especificidades de Timor ou nas do colonialismo português, vendo-o como uma espécie de traço excecional ou de constante do império. Ao invés, penso que esta abordagem pode abrir caminhos de interpretação na investigação circunstanciada, histórica e antropológica, do colonialismo europeu em geral – em Timor, no império português e, julgo, para além deles. O meu objetivo foi, assim, ensaiar instrumentos analíticos de alcance geral e comparativo, capazes de permitir a produção de relações coloniais, nos exatos pontos em que civilização e barbárie se cruzam, fertilizam, colidem, independentemente da inscrição nacional dos impérios. Para concluir, gostaria brevemente de destacar dois pontos deste programa analítico, ciente, porém, de que o seu teste comparativo foge ao alcance deste ensaio.
O primeiro aspeto aponta para a seguinte ideia: o mimetismo exprime, ao nível das subjetividades coloniais, uma tensão dinâmica entre assimilação ao espaço e preservação reflexiva da diferença. Este ponto é especialmente válido no tocante ao contacto colonial (contacto físico ou simbólico) com coisas, lugares e domínios classificados como bárbaros, abjetos, impuros, e dos quais decorrem ameaças de poluição simbólica, como diria Mary Douglas, para o sujeito colonial (Douglas 2002 [1966]). Tais perigos de queda moral e perda de identidade viram-se associados à ideia de tornar-se nativo, tópico marcante do imaginário colonial, em especial no século XIX e na primeira metade do século XX. Vimos como essa tensão se enunciou nos esforços do governador para dirimir acusações de perda de identidade europeia, civilizada e cristã e subsequente conversão (quer individual – de si mesmo; quer coletiva – do império enquanto todo) ao barbarismo, em resultado da assistência que prestou à festa das cabeças. Um gesto reflexivo de suspensão de si servia o propósito de manter a integridade do eu civilizado e suster a contaminação simbólica derivada da momentânea entrega à alteridade do ritual. Assim, abordar a relação mimética nesta e noutras situações análogas implica perceber as estratégias, os discursos e as práticas acionadas para lidar com os efeitos gerados pelos riscos de consubstanciação e de dissolução da individualidade no meio Outro. No coração desta conceção, portanto, antes, durante e após os momentos do contacto, está o problema da produção prática da diferença e, logo, da existência do agente colonial, como diria Gabriel Tarde (1999 [1893]). Porque refletir sobre mimetismo obriga a considerar a problemática da diferença em conjunto com a problemática da semelhança (cf. Melberg 1995); compreendê-lo no contexto colonial implica ultrapassar o imaginário teórico do hibridismo. Este imaginário, apanágio do luso-tropicalismo e agora moeda corrente nos estudos pós-coloniais contemporâneos, acentua (e enaltece) o amalgamamento e a mistura, eliminando dos emaranhados interculturais os processos de diferenciação e poder que os atravessam (cf. Coombes e Brah 2000; para um esboço crítico nesta direção: Roque 2010: 17-39, 216-222).
Este aspeto remete para o segundo ponto geral que gostaria de realçar, a saber: a ideia aqui avançada de que o mimetismo colonial pode exprimir um gesto político legível numa estratégia de poder de caráter parasitário. O caso da relação mantida pelo governador Afonso de Castro com a festa das cabeças permitiu explorar a prática mimética como indissociável do que, na esteira de Serres e no seguimento de anteriores trabalhos (Roque 2010, 2012), tratei como relação parasitária, isto é: a relação presidida por uma racionalidade política de extração abusiva, ainda que subtil, das energias da alteridade do hospedeiro, para proveito próprio. A cedência ao Outro articulava uma vontade de poder. O princípio mimético de sujeição às circunstâncias via-se aqui unido ao princípio parasitário de subtil extração das energias do meio. Mimetismo e parasitismo conjugam-se, então, para compor relações coloniais marcadas pela difícil gestão da dualidade civilização e barbarismo. No caso que acompanhei aqui, o governador permitia e entregava-se a um ritual (que sabia) bárbaro, na expetativa de que a sua copresença e participação aumentasse o poder e autoridade colonial. Pois era assimilando a selvajaria desse espaço, mutuamente participado por europeus e por nativos, que a administração colonial parecia ir encontrar as forças de que carecia. Com as festas, o governador continuaria a ser referência ilustre entre os reinos timorenses; mais guerreiros se juntariam ao governo, novas guerras poderiam voltar a ser vencidas. O parasitismo mimético de Afonso de Castro garantia, assim, ao império português na ilha a selvajaria sem a qual este não podia manter-se vivo.
BIBLIOGRAFIA
ADORNO, Theodor W., e Max HORKHEIMER, 2002, Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. Stanford, Stanford University Press. [ Links ]
ANÓNIMO, 1862, Notícias do Reino: Ultramar, Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão Legislativa 2, 28: 471. [ Links ]
BHABHA, Homi, 1984, Of mimicry and man: the ambivalence of colonial discourse, October, 28: 125-133. [ Links ]
CAILLOIS, Roger, 1984 [1935], Mimicry and legendary psychastenia, October, 31: 16-32. [ Links ]
CASTRO, Afonso de, 1862, Résumé historique de létablissement portugais à Timor, des us et coutumes de ses habitants, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, XI: 465-506. [ Links ]
CASTRO, Afonso de, 1863, Notícia dos usos e costumes dos povos de Timor, Anais do Conselho Ultramarino (parte não oficial): 29-31. [ Links ]
CASTRO, Afonso de, 1864, Une rébellion à Timor en 1861, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, XIII: 389-409. [ Links ]
CASTRO, Afonso de, 1867, As Possessões Portuguezas na Oceânia. Lisboa, Imprensa Nacional. [ Links ]
CHENG, Joyce, 2009, Mask, mimicry, metamorphosis: Roger Caillois, Walter Benjamin and Surrealism in the 1930s, Modernism / Modernity, 16 (1): 61-86. [ Links ]
CHICO, 1953, Nova visita, Seara, novembro / dezembro, 6: 302-304. [ Links ]
CONNOR, Steven, 2002, Michel Serress milieux, comunicação apresentada em conferência na Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic) , 23-26 de julho de 2002, disponível em <http: / / www.stevenconnor.com / milieux / > (acesso em fevereiro de 2014). [ Links ]
COOMBES, Annie E., e Avtar BRAH (orgs.), 2000, Hybridity and Its Discontents: Politics, Science, Culture. Londres, Routledge. [ Links ]
DOUGLAS, Mary, 2002 [1966], Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Londres, Routledge. [ Links ]
DUARTE, Teófilo, 1944, Ocupação e Colonização Branca de Timor. Porto, Educação Nacional. [ Links ]
ELIAS, Norbert, 1989, O Processo Civilizacional. Lisboa, Dom Quixote. [ Links ]
FRAZER, James, 2000 [1922], The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. Nova Iorque: Macmillan / Bartleby.com, disponível em <www.bartleby.com / 196 / > (acesso em fevereiro de 2014). [ Links ]
GIRARD, René, 1972, La violence et le sacré. Paris, Grasset. [ Links ]
INSO, Jaime, 1939, Timor: 1912. Lisboa, Cosmos. [ Links ]
KRAMER, Fritz, 1993, The Red Fez: Art and Spirit Possession in Africa. Londres / Nova Iorque, Verso. [ Links ]
MARINHO, Maria José, 2004, Afonso de Castro, em Maria Filomena Mónica (coord.), Dicionário Biográfico Parlamentar 1834-1910. Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa / Assembleia da República, vol. 1, 725-727. [ Links ]
MELBERG, Arne, 1995, Theories of Mimesis. Cambridge, Cambridge University Press. [ Links ]
OLIVEIRA, Luna de, 1950, Timor na História de Portugal. Lisboa, Agência Geral das Colónias, vol. 2. [ Links ]
PELISSIER, René, 1996, Timor en guerre: Le crocodile et les portugais (1847-1913). Orgeval, Pélissier. [ Links ]
ROQUE, Ricardo, 2010, Headhunting and Colonialism: Anthropology and the Circulation of Human Skulls in the Portuguese Empire, 1870-1930. Basingstoke, Palgrave Macmillan. [ Links ]
ROQUE, Ricardo, 2012, Marriage traps: colonial interactions with indigenous marriage ties in East Timor, em Francisco Bethencourt e Adrian Pearce (orgs.), Racism and Ethnic Relations in the Portuguese-Speaking World. Londres, Oxford University Press, 203-225. [ Links ]
SERRES, Michel, 1997 [1980], Le Parasite. Paris, Hachette. [ Links ]
SHAPIN, Steven, 1999, A Revolução Científica. Lisboa, Difel. [ Links ]
SILVA, José Celestino da, 1896, Instrucções para os Commandantes Militares. Macau, s / ed. [ Links ]
STOLLER, Paul, 1995, Embodying Colonial Memories: Spirit Possession, Power and the Hauka in West Africa. Nova Iorque, Routledge. [ Links ]
TARDE, Gabriel, 1999 [1893], Monadologie et Sociologie. Paris, Institut Synthélabo. [ Links ]
TAUSSIG, Michael, 1987, Shamanism, Colonialism and the Wild Man: A Study in Terror and Healing. Chicago, The University of Chicago Press. [ Links ]
TAUSSIG, Michael, 1993, Mimesis and Alterity. A Particular History of the Senses. Nova Iorque / Londres, Routledge. [ Links ]
TRAJANO FILHO, Wilson, 2006, Por uma etnografia da resistência: o caso das tabancas de Cabo Verde, Série Antropologia, 408, Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. [ Links ]
WILLERSLEV, Rane, 2007, Soul Hunters: Hunting, Animism, and Personhood among the Siberian Yukaghirs. Berkeley, University of California Press. [ Links ]
NOTAS
[1] Este ensaio é resultado do projeto Mimetismo Colonial na Ásia e na África Lusófonas, desenvolvido no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (PTDC / CS-ANT / 101064 / 2008). Este trabalho beneficiou também de uma Postdoctoral Fellowship do Australian Research Council (FL 110100243), desenvolvida na Universidade de Sydney. Uma versão inicial do texto foi apresentada no Seminário de Antropologia do ICS-UL, em 2011. Agradeço os importantes comentários dos restantes membros da equipa desse projeto, Cristiana Bastos, Ananya Chakravarti, Tiago Saraiva e Ângela Barreto Xavier. O Gonçalo Antunes prestou valiosa colaboração na pesquisa de arquivo para este artigo. Ao longo do texto, atualizei a ortografia das citações e traduzi para português as passagens originalmente em francês e inglês.
[2] Carlos Bento da Silva era o ministro da Marinha e Ultramar entre 4 de julho de 1860 e 21 de fevereiro de 1861, data em que foi substituído no cargo por José da Silva Mendes Leal, titular do ministério até dezembro de 1864. Assim, embora Bento da Silva tenha sido o presumível autor da portaria confidencial, terá sido provavelmente o seu sucessor, Mendes Leal, a receber e dar seguimento à carta de resposta de Afonso de Castro.
[3] Sobre esta revolta (incluindo referências à mesma festa das cabeças), veja-se também Castro (1864), Oliveira (1950: 33-35), Pélissier (1996: 42-50).
[4] Correspondência de Afonso de Castro para ministro da Marinha e Ultramar, 5 de junho de 1862, Ofício n.º 44 – Confidencial (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Macau e Timor, ACL_SEMU_DGU_005, Caixa 28, 1862).
[5] A pesquisa realizada no Arquivo Histórico Ultramarino e no Arquivo da Marinha não encontrou registos desta correspondência confidencial enviada para Díli.
[6] Correspondência de Afonso de Castro para ministro da Marinha e Ultramar, 5 de junho de 1862, Ofício n.º 44 – Confidencial (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Macau e Timor, ACL_SEMU_DGU_005, Caixa 28, 1862), sublinhado no original, itálicos meus.
[7] Ao contrário do que fora e seria a norma no século XIX, durante os anos da governação de Afonso de Castro o governo de Timor correspondia-se diretamente com Lisboa, estando independente da tutela de Goa e de Macau. A situação modificar-se-ia em 1866, de novo passando Timor para a tutela do governo provincial de Macau; em 1896 Timor voltaria à condição de distrito autónomo.
[8] Correspondência de Afonso de Castro para ministro da Marinha e Ultramar, 1 de novembro de 1860, Ofício n.º 112 (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Macau e Timor, ACL_SEMU_DGU_005, Caixa 26, 1860). Até indicado em contrário, as posteriores referências a Castro neste parágrafo e seguintes são a este documento.
[9] Não o seria outra vez até 1896. O governador Celestino da Silva emitiu então uma instrução aos comandantes militares recomendando-lhes que (somente) evitassem contacto com as festas das cabeças que se celebravam durante ou após guerras coloniais (Silva 1896).
[10] Correspondência de Afonso de Castro para ministro da Marinha e Ultramar, 14 de setembro de 1861, Ofício n.º 63 (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Macau e Timor, ACL_SEMU_DGU_005, Caixa 28, 1862), sublinhados no original.
[11] Embora publicado apenas em 1864, Castro assinou este artigo com a data de março de 1862. O que significa que o finalizou pouco depois da admoestação de Lisboa (emitida em janeiro de 1862), e pouco antes de ser forçado a reagir-lhe em carta justificativa (em junho de 1862).
[12] Uso aqui a versão inglesa do texto publicada em 1984; o artigo original surgiu em francês na revista Minotaure, em 1935. Sobre Caillois e a sua abordagem ao tema do mimetismo no contexto modernista do início do século XX, ver Cheng (2009).
[13] Afonso de Castro comunicava assim aos seus leitores a sua adesão a uma racionalidade materialista moderna, que, desde a Revolução Científica do século XVII, rejeitava ideias de contacto e teorias simpáticas como explicativos da ação entre matérias e da transmissão de qualidades entre corpos materiais (cf. Shapin 1999). Alguns anos após Castro produzir estas observações, como é sabido, James Frazer sistematizaria as suas pioneiras reflexões antropológicas sobre magia e simpatia (mas compare-se Frazer 2000 [1922]).
[14] Correspondência de Afonso de Castro para ministro da Marinha e Ultramar, 5 de junho de 1862, Ofício n.º 44 – Confidencial (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Macau e Timor, ACL_SEMU_DGU_005, Caixa 28, 1862).
[15] Correspondência de Afonso de Castro para ministro da Marinha e Ultramar, 5 de junho de 1862, Ofício n.º 44 – Confidencial (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Macau e Timor, ACL_SEMU_DGU_005, Caixa 28, 1862).
[16] Correspondência de Afonso de Castro para ministro da Marinha e Ultramar, junho de 1860, Ofício n.º 67 (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Macau e Timor, AHU_ACL_SEMU_DGU_005, Caixa 26, 1860).
[17] Correspondência de Afonso de Castro para ministro da Marinha e Ultramar, 5 de junho de 1862, Ofício n.º 44 – Confidencial (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Macau e Timor, ACL_SEMU_DGU_005, Caixa 28, 1862).
[18] Correspondência de Afonso de Castro para ministro da Marinha e Ultramar, 5 de junho de 1862, Ofício n.º 44 – Confidencial (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Macau e Timor, ACL_SEMU_DGU_005, Caixa 28, 1862).
[19] A relação genérica entre mimese e violência foi também explorada, em sentidos distintos dos de Taussig (e também daqueles que me preocupam neste artigo), por René Girard, na sua teoria do desejo mimético (cf. Girard 1972).
[20] Mas compare-se com os argumentos de Fritz Kramer sobre o nexo crucial entre mimese e barbarismo. A presunção do Outro imaginado como estrangeiro bárbaro e selvagem foi, segundo Kramer, um ingrediente central à representação mimética da alteridade (quer em representações europeias, quer africanas) nos encontros coloniais (cf. Kramer 1993).
[21] O tratamento convencional dos temas da mimese e da imitação tem privilegiado quase em exclusivo os fenómenos miméticos protagonizados pelos colonizados e enquanto manifestação de resistência (cf. Bhabha 1984; Stoller 1995; Taussig 1993). Para uma crítica do excessivo enfoque da antropologia na conexão entre mimese e resistência, veja-se Trajano Filho (2006).
[22] Cumpre reconhecer, evidentemente, que a análise esboçada neste artigo oferece uma leitura parcial da festa das cabeças. Uma compreensão mais abrangente implicaria, pelo menos, um enfoque etno-histórico na mutualidade dessas transações, incluindo o significado nativo atribuído ao valor da participação de governadores e oficiais portugueses nessas cerimónias, enquanto atores investidos de autoridade jural e guerreira (mas, para essa discussão, veja-se Roque 2010: caps. 2 e 3).














