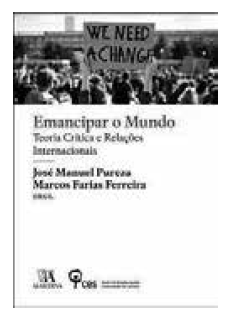Em 2019, estudiosos das Relações Internacionais (RI) celebraram o centenário da criação da primeira cátedra em Política Internacional na Universidade de Aberystwyth. Desde esta relativa autonomização face à Ciência Política, as RI têm vindo a experienciar diferentes debates, diversas viragens e a emergência de novas escolas de reflexão que contestam as suas bases ontológicas, epistemológicas e metodológicas. Todavia, o envolvimento nestas discussões tem sido geograficamente desigual. Existem espaços epistémicos, como as academias canadiana ou brasileira, que estão engajados na produção deste pluralismo teórico, e outros espaços que permanecem distanciados da discussão, como o caso da academia portuguesa, cuja participação nesta produção é rara, vingando, ao invés, uma geral adesão dóxica às abordagens ditas mainstream das RI. Neste sentido, a obra Emancipar o Mundo: Teoria Crítica e Relações Internacionais é um passo necessário, que tarda, para o maior envolvimento da academia portuguesa na construção do pluralismo em RI. (Figura 1)
Na Introdução, José Manuel Pureza e Marcos Farias Ferreira explicam que o objetivo do estudo é «da[r] voz a uma leitura do mundo inconformada com as relações de poder que o habitam e com a teoria que as legitima» (p. 22). Propõem, por isso, um terreno comum para as abordagens críticas e que pode ser usado como referente de crítica: os trabalhos da Escola de Frankfurt, o eixo Cox-Linklater, o nexo distribuição-reconhecimento, a ideia da possibilidade imanente de mudança social e resistência, e o fim de revelar estruturas de dominação, exclusão, privilégio e discriminação na ordem mundial.
No capítulo 1, André Saramago recupera as noções de «orientação» e «cosmopolitismo», sugerindo que a crescente interdependência global impõe a necessidade de desenvolver entendimentos mais cosmopolitas que apreciem a «totalidade das condições humanas globais» (pp. 25-26). Saramago propõe-se discutir os limites da Teoria Crítica internacional através do contributo de um dos seus fundadores, para avançar uma forma de articular a denúncia de formas historicamente constituídas de dominação e a projeção de uma consciência coletiva mais democrática e norteada pelo princípio da dignidade humana. Saramago sugere, então, uma abordagem sociológica-histórica, na esteira da «sociologia processual» de Norbert Elias, que, indo além da orientação filosófica-utópica da Escola de Frankfurt, avança uma Teoria Crítica internacional apoiada na realidade empírica das mudanças históricas e torna inteligíveis as lutas sociais na presente ordem mundial.
No capítulo 2, João Nunes examina uma dimensão crucial da segurança internacional: a saúde global. Entendendo o poder como dominação e a dominação como lente crítica, Nunes investiga a «reprodução sistemática da invisibilidade» nas narrativas biomédicas-neoliberais dominantes em matéria de governação nacional e global da saúde (p. 52). A crítica da saúde global, para Nunes, ao revelar dinâmicas de exclusão e opressão, poderá oferecer maior visibilidade a grupos (e regiões) cujas experiências quotidianas, corporais e situadas, de doença e saúde permanecem negligenciadas. Aliás, é através de uma «economia política internacional do quotidiano» que, para Nunes, é possível investigar os impactos concretos das dinâmicas e estruturas de poder globais, como o capitalismo, nas relações sociais concretas, e aferir as possibilidades imanentes de transformação emancipatória.
O capítulo 3, redigido por Sarah da Mota, compara os imaginários de (in)segurança que atravessam o sistema internacional de segurança, desde o final da Guerra Fria, e analisa os seus efeitos no uso da força militar. Explorando o eixo Cox-Linklater para elaborar os conceitos de «individualização da segurança» e «desumanização da segurança», da Mota demonstra como, quer no período das intervenções da nato nos Balcãs para o primeiro, quer no período do pós-11/09 para o segundo, estes padrões, ao invés de realizarem o potencial emancipatório dos dois períodos, partiam de uma biopolítica particularista e exclusivista e reproduziam a hegemonia militar dos principais atores securitários. Assim, ao flexibilizarem as condições para a ação militar, estes padrões acabaram por incentivar ora guerras em nome do indivíduo (pp. 78-79), ora práticas de segurança que, ao capearem o elemento humano, desprezam os interesses de segurança dos vulneráveis (p. 83).
No capítulo 4, João Terrenas propõe recuperar o «potencial emancipatório» dos Estudos Críticos de Segurança através de práticas metodológicas que exigem compromissos mais reflexivos e coletivos por parte de quem investiga, como a autoetnografia e a etnografia colaborativa (p. 93). Para Terrenas, a crítica apoiada em práticas colaborativas oferece-se a «pessoas reais em lugares reais» (p. 95), porquanto parte da experiência quotidiana de (in)segurança de grupos vulneráveis para desafiar narrativas hegemónicas e relações de poder. A «viragem etnográfica» aproxima - afetiva e analiticamente - quem investiga de quem está exposto às experiências de insegurança, por um lado, e a modos alternativos «de ser e de estar», por outro (p. 95). Quem investiga a partir de uma abordagem crítica, segundo Terrenas, tem a responsabilidade ética de contribuir para a mitigação da insegurança de quem se estuda e escreve, seja tornando os grupos marginalizados provedores (não meramente recetores) da sua própria segurança, seja tornando-os participantes ativos na produção e na comunicação do conhecimento que informa as suas práticas de segurança.
No capítulo 5, João Rodrigues investiga, a partir de uma análise da história da economia política internacional, a emergência de consensos e de dissensos em matéria de política económica desde os anos 1970. Rodrigues destaca, primeiramente, o projeto político, anti-imperialista e anticolonial da nova ordem económica internacional (NOEI), cujo falhanço, enquanto consenso e estrutura contra-hegemónicos ao «liberalismo incrustado» do pós-Segunda Guerra Mundial, terminou na estabilização do Consenso de Washington (1989). O último, segundo Rodrigues, estabelece-se como consenso do pós-Guerra Fria, sendo sustido por uma estrutura hegemónica que coloca os Estados Unidos, as organizações por si dominadas (e. g., FMI) e os seus principais parceiros económicos em Londres e Bruxelas no centro da economia internacional (p. 125). Aliás, é esta partilha transatlântica dos encargos de manutenção da estrutura que, no contexto europeu dos anos 1990, leva Rodrigues à recognição de uma declinação do consenso inicial: o Consenso Bruxelas-Frankfurt, promovido pela Comissão Europeia de Jacques Delors, sustentado por uma hegemonia regional alemã, patente na troika BCE, Comissão Europeia e FMI. Por fim, Rodrigues analisa, sinteticamente, a germinação de um Consenso de Pequim, um movimento contra-hegemónico comandado pela República Popular da China depois da crise iniciada em 2007-2008, defendendo, todavia, que é ainda prematuro declarar a sua emergência ou afirmar a crise da estrutura hegemónica norte-americana (p. 141).
No capítulo 6, partindo da desmistificação da ideia de que o Antropoceno é uma escolha da maioria da população mundial, João Camargo avança uma crítica da incapacidade de se edificarem narrativas capazes de animar o esforço coletivo a favor da justiça climática e contra as alterações climáticas (p. 148). Nesse sentido, Camargo propõe a construção de uma metanarrativa, uma «Grande História», que conteste, por um lado, as narrativas dominantes do positivismo tecnológico e a impotência da espécie humana face ao avanço das alterações climáticas, e, por outro, as alternativas do «Behemoth climático». Segundo Camargo, as alterações climáticas e a justiça climática global podem compor essa metanarrativa alternativa - de cariz ecossocialista, guiada por princípios como o planeamento democrático da produção, a justa distribuição dos recursos e o multilateralismo -, com fundações empíricas objetivas, do Rio (1992) ao Relatório do IPCC (2007) (pp. 150, 151, 167).
No capítulo 7, Bruno Góis propõe as bases para uma «política internacional dos 99%» de inspiração marxista (p. 171). Recuperando as premissas base do marxismo e partindo do espaço aberto pela economia política de lente marxista, Góis sugere que o materialismo histórico poderá ser a pedra de toque de tal proposta, se entendido como uma ontologia crítica que reconhece um conjunto mais alargado de unidades ontológicas, das classes aos géneros, sem, todavia, negar a relativa autonomia do Estado (p. 176). Não obstante, e como a análise dos movimentos antiausteridade ilustra, a ontologia crítica proposta - que aporta uma referência clara ao realismo crítico e à tríade conceptual de Cox - não deixa de lado a crítica ao pressuposto da natureza monolítica do Estado (p. 177).
No capítulo 8, Sofia José Santos desenvolve uma crítica da internet e da web a partir dos Estudos Críticos da Internet (p. 187). Santos desafia a democraticidade e horizontalidade da internet, caracterizando-a, ao invés, como um espaço de poder e de contrapoder nas relações internacionais, no qual os mundos offline e online se interpenetram. Observando a expansão da big data, Santos ilustra como as relações de poder offline (e. g., controlo sobre a produção de algoritmos) são, por um lado, constitutivas da distribuição de poder online que define o «lugar de enunciação» de cada ator, e, por outro, se materializam e reproduzem através de práticas online que aprofundam a nebulosidade da rede (p. 192). Ademais, e partindo da análise das narrativas e contranarrativas de (in)segurança sobre migrantes e refugiados veiculadas por média europeus, Santos mostra como a internet pode, simultaneamente, realizar o seu potencial emancipador se promover a visibilidade de conceções de segurança mais democráticas e inclusivas e se facilitar a conversão de micronarrativas de (in)segurança de subjetividades subalternas em macronarrativas (p. 200); ou operar como um mecanismo de dominação através de algoritmos que tendem a destacar conceções de segurança que reproduzem hierarquias raciais, de género, ou epistémicas, que vedam o lugar de enunciação às subjetividades subalternas (pp. 202-203).
No capítulo 9, Sílvia Roque e Rita Santos investigam os pontos de diálogo entre a Teoria Crítica e as abordagens feministas, seja explorando a dimensão crítica das últimas, seja questionando se a primeira deve ser feminista (e pós-colonial) (p. 231). Segundo Roque e Santos, pese embora a partilha de pressupostos (e. g., crítica ao positivismo), a primeira tende a desvalorizar o processo de «masculinização teórica» que silencia as hierarquias de género/sexo na política internacional e nas RI (p. 215). Assim, Roque e Santos pensam a «feminização da teoria crítica», a reformulação da última no sentido de a tornar atenta às estruturas de desigualdade de género/sexo e às relações sexuadas/genderizadas que atravessam o quotidiano, porquanto o patriarcado é indissociável de outras estruturas hegemónicas de dominação, tais como o neoliberalismo ou o colonialismo, com as quais mantém relações de reforço mútuo (pp. 221, 227).
Por fim, e à semelhança do capítulo anterior, o capítulo 10, escrito por Marta Fernández, desenvolve o diálogo entre a Teoria Crítica e as abordagens pós-coloniais e decoloniais. Ao propor a descolonização da Teoria Crítica europeia através da ideia de «colonialidade do poder e do saber» (pp. 237-238, 250), Fernández demonstra as origens violentas e extraeuropeias da Modernidade e a interdependência ontológica do mundo europeu vis-à-vis os mundos não europeus. Fernández propõe o reconhecimento, por parte da Teoria Crítica europeia, dos corpos e das temporalidades subalternizadas, e da experiência do genocídio colonial, que se interliga com a experiência do Holocausto, sem pôr em causa a singularidade de ambas (pp. 241-242). Ao provincializar a experiência e agência ocidentais, Fernández defende que é possível visualizar a expressão subalterna de atos subtis e quotidianos de resistência que pouco têm que ver com os discursos e práticas contra-hegemónicas antecipadas pelo modelo eurocêntrico e racialmente omisso da Escola de Frankfurt (p. 250). Só a abertura aos discursos e práticas oprimidos pelo poder colonial permitirá, para Fernández, o diálogo com «outras temporalidades e mundos múltiplos» (p. 253) que subjaz às novas aspirações críticas de transformação emancipatória.
Em suma, não é por demais reconhecer a pertinência desta obra coletiva para o estudo das RI em Portugal. Porém, é uma introdução que tarda às abordagens críticas e às suas várias declinações feministas, pós-coloniais, decoloniais ou neomarxistas. Estas não são recentes nas RI, mas os seus ecos têm sido limitados em Portugal: a este respeito, é de destacar o contributo dos Estudos para a Paz - e que, porventura, mereceria um capítulo na obra. Do mesmo modo, uma vez que são expostos os elementos dialógico e plural da crítica, teria sido pertinente, no início de cada capítulo, a elaboração de uma autoanálise por parte de quem o escreve. Desde logo, tal elaboração permitiria resgatar a dimensão pessoal inscrita em cada capítulo e atestar a extensão da estruturação promovida pela passagem por instituições de ensino, como a Universidade de Aberystwyth ou o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, cujos ethos predispõem quem pesquisa para a elaboração de análises das relações internacionais a partir de abordagens críticas. Assim, o responder à pergunta «de onde se escreve?» apenas enriqueceria o propósito, já muito bem conseguido, do livro: a identificação pluriangular, por parte de um grupo composto por pessoas com diferentes experiências e trajetórias - que, em certos casos, se entrecruzam -, da interconetividade intrínseca das diversas estruturas de dominação que enquadram as relações internacionais e as RI; e, na sequência desta identificação, a recognição da potencialidade imanente de transformação emancipatória, materializada pelas múltiplas resistências à força totalizante dessas relações de poder. No fim, quiçá, o contributo mais relevante da obra será, na esteira do «trabalho de tradução» proposto por Boaventura de Sousa Santos 1, o de avançar a «inteligibilidade recíproca» entre as distintas abordagens críticas que partilham o projeto polissémico da emancipação.