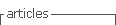Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Revista de Ciências Agrárias
Print version ISSN 0871-018X
Rev. de Ciências Agrárias vol.36 no.2 Lisboa Apr. 2013
Na linha dos descobrimentos dos séculos XV e XVI
Intercâmbio de plantas entre a África Ocidental e a América*
Exchange of plants between West Africa and America in the 15th and 16th centuries discoveries
José Eduardo Mendes Ferrão1
1 Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal.
RESUMO
Nos Descobrimentos dos séculos XV e VI, o contacto dos europeus com as especiarias orientais era objetivo prioritário. Os portugueses rumaram para sul, procurando passagem entre os Oceanos Atlântico e Índico, os espanhóis para oeste, ambos condicionados pela repartição Papal entre os dois, das terras descobertas ou conquistadas. Os portugueses acompanharam a costa africana, atingiram Cabo Verde. Conhecedores do regime dos ventos alísios do hemisfério norte, rumaram a sudoeste, atingiram o Brasil, regressando à Angra de Santa Helena perto do Cabo da Boa Esperança. As ligações entre a costa ocidental africana e América intensificaram-se com a escravatura destinada às atividades da grande cultura agrícola nas colónias americanas dos povos europeus: portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses. Da costa ocidental africana, introduziram-se na América plantas consumidas pelos escravos originalmente: milho-zaburro, palmeira-dendém, inhames; mais industriais: coqueiro, gengibre, bananeiras e cana-sacarina, estas não africanas, já aí chegadas. Contrariamente, da América para a costa ocidental africana, introduziram-se: mandioca, batata-doce, pimentos, tomateiros, milho-maíz, tabaco, inhames, ananases, várias frutas e, posteriormente, cafeeiro-arábica e cacaueiro, «árvores de sombra» para estas duas culturas, purgueira e carrapato. Sobre estas plantas fornecem-se algumas notas explicativas da forma como ocorreu este intercâmbio.
Palavras-chave: Primeira globalização, viagem, plantas-alimentares
ABSTRACT
On Discoveries of 15th and 16th centuries, which the East Spices were the main target, the Portuguese went south searching for path between the Atlantic and Indian Ocean; the Spanish went to West, both of them conditioned by division of Pope concerning discoveries or conquests realms. The Portuguese went through African Coast reaching Cape Verde. Knowing the Northern Hemisphere Alisian winds, they went southwest to Brazil, returning to Angra de Santa Helena, near the Cape of Good Hope. The connections between the African East Coast and America were intensified due to the slavery needed for the farming activities on the American colonies of the Europeans: Portuguese, Spanish, French, Dutch and English. From the West Coast of Africa, were introduced in America a variety of plants that the salves used to consume in their homelands, corn zaburro, palm oil, yams; and more industrial ones: coconuts, ginger, bananas and sugar cane, these not of African origin, had already been introduced. Contrary, from America to Africa West Coast, were introduced: cassava, sweet potato, chilies, tomatoes, maize, tobacco, yams, pineapple, several fruits, and later, coffee Arabica and cacao, shady trees for both cultures and physic nut and Mauritius hemp. About these plants, are presented some notes as this interchange was made.
Keywords: First globalization, trip, food-plants
Introdução
O estabelecimento de colónias europeias nas Américas e a contribuição dos escravos
A estrutura social da Europa do fim da Idade Média, com Clero, Nobreza e Povo, começou a ser alterada pela valorização dos comerciantes, que passaram a ter um lugar cada vez mais importante na sociedade da época. O comércio passou, em toda a Europa, a ser uma atividade muito relevante e os seus praticantes queriam, cada vez mais, alargar os mercados para os seus produtos e ter acesso a matérias-primas ou outros, muito valorizados nos seus mercados. Estabeleceu-se, por isso, na Europa um movimento de sensibilização para as grandes viagens e o interesse de contatos com povos fora da Europa. Esta postura também se verificou nos reinos ibéricos, que nela se integraram com muita facilidade. Tinham a seu favor principalmente uma grande experiência de contacto com o mar e necessidades alimentares que desejariam satisfazer a partir de uma agricultura realizada fora das suas fronteiras onde, para isso, eram limitadas as condições naturais favoráveis de que foram dotados.
Portugal e o reino espanhol eram muito deficientes em cereais e tentaram encontrar nas Américas o celeiro para a produção de trigo que lhes faltava nas suas terras, como documentos da época comprovam. O mar e o descobrimento de novas terras que pudessem povoar ou, com as suas gentes estabelecer comércio, foi para os reinos peninsulares um incentivo poderoso para saírem dos seus limites geográficos e procurarem expandir-se e desenvolver os seus interesses noutras zonas do Globo onde, de princípio, não havia concorrência com os seus vizinhos europeus.
Atingir as especiarias Orientais fabulosamente pagas na Europa e fazê-las chegar por via marítima, foi o grande objetivo dos reinos peninsulares, os portugueses, procurando atingi-las navegando ao longo da costa ocidental africana com a procura de uma passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico e os espanhóis rumando para Ocidente.
Havendo interesses peninsulares em jogo, sendo os reinos peninsulares católicos e reverentes às instruções papais e propondo-se ao lado dos seus interesses mais imediatos «fazer cristandade», o mundo a descobrir foi dividido, de acordo com a orientação papal, quase geometricamente, por um meridiano a 370 léguas marítimas a ocidente dos Açores, conforme a Bula Alexandrina de 4 de Maio de 1493. As terras a oriente do meridiano eram as de influência portuguesa e a ocidente dessa linha, as de influência espanhola.
Os portugueses navegaram ao longo da costa africana procurando conhecer e estabelecer relações comerciais com os povos que iam encontrando que pudessem atenuar os encargos duma navegação orientada, sobretudo, na procura de uma passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. O regime de ventos das regiões tropicais, com os ventos alísios, fez dividir o progresso das navegações em duas linhas, uma continuando a acompanhar a costa africana e outra a partir de Cabo Verde, que aproveitando os ventos alísios de nordeste, levou os portugueses às costas do Brasil. Mantendo secreta a descoberta de terras americanas pelos portugueses, por se situarem dentro da zona de influência espanhola, em 1494 foi assinado o Tratado das Tordesilhas entre os Reis Católicos de Espanha e D. João II Rei de Portugal, pelo qual, o meridiano de referência foi deslocado mais para ocidente, com base agora na ilha de Santo Antão do arquipélago de Cabo Verde. Por este Tratado o Brasil ficou integrado na área de influência portuguesa.
Usando o regime de ventos, foi passando pelas costas do Brasil e pela ilha de Santa Helena que se estabeleceu a rota da Índia, na ida e no regresso das embarcações ao Reino.
As ligações diretas entre a costa ocidental africana e a América só se desenvolveram mais tarde, sobretudo com o comércio dos escravos, passando então os barcos muitas vezes pelas ilhas de Santa Helena, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, que funcionavam como estações intermédias. Assim se compreende porque muitas das plantas que se trocaram entre os dois Continentes tenham passado por estas ilhas. Conhecem-se muitas descrições de encontros na ilha de Santa Helena de barcos portugueses, que no século XVI regressavam da Índia pelo Brasil, com outros que do Brasil se dirigiam para a costa africana.
Os povos europeus, chegados às novas terras, por um lado procuraram ouro e prata e outros materiais valiosos e por outro tentaram desenvolver a agricultura, aproveitando as condições muito favoráveis que encontraram, expressas numa vegetação luxuriante. Animava-os o duplo objetivo de produzirem alimentos para os povoadores europeus que se iriam instalando nessas terras e que, no geral, só muito lentamente se adaptaram aos alimentos locais, e fazendo culturas de rendimento para exportar os seus produtos para a Europa, no espírito comercial da época, iniciando-se esta atividade com a cultura da cana sacarina.
Outros povos europeus, conhecidos os caminhos, foram instalando também colónias no Novo Mundo, ingleses, franceses e holandeses que procederam de forma semelhante.
As populações locais eram consideradas débeis para o esforço físico, por vezes violento, que a atividade agrícola exigia, principalmente a da cana sacarina e o trabalho dos «engenhos» que extraiam o açúcar e por outro interferia nos seus costumes, habituados como estavam a viver à base dos produtos que a natureza espontaneamente lhes fornecia ou de uma agricultura que faziam sem grande esforço.
Os colonizadores europeus, todos eles, recorreram então ao trabalho escravo levando em grande número os trabalhadores que necessitavam, nesta estrutura, da costa africana.
Para que eles se pudessem alimentar nas viagens entre a costa africana e as Américas, os barcos que os transportavam levavam os seus alimentos tradicionais, sendo natural que algumas sementes ou propágulos tivessem sobejado e instalado nas novas terras. Procurariam assim continuar a usar os alimentos a que estavam habituados e é natural que isso lhes fosse facilitado pelos próprios «fazendeiros», já que a estes interessava, principalmente, que os escravos ao seu serviço fossem boas «máquinas de trabalho».
Os contatos entre a costa ocidental africana e oriental americana tornaram-se por isso muito frequentes e com isso ficou assim muito facilitada a troca de plantas entre as terras dos dois Continentes, não apenas no objetivo de alimentação dos escravos, mas numa visão mais alargada, na alimentação das populações no geral, do que sobretudo os africanos foram os que mais beneficiaram, tal a quantidade e qualidade de plantas que de origem americana foram por este processo introduzidas na costa ocidental africana.
Há uma diferença importante que justifica o movimento de plantas, sobretudo do continente americano para as costas africanas. Como é reconhecido, a agricultura praticada por alguns povos americanos já tinha milhares de anos de experiência e muitas das plantas que utilizavam já haviam sido selecionadas e possivelmente melhoradas, enquanto na África subsariana grande parte das suas populações estava ainda numa fase da pastorícia, deslocando-se à procura de alimentos e água para os seus rebanhos e a agricultura, que exige certo sedentarismo, era ainda incipiente e utilizando plantas que pouco defeririam das plantas silvestres. A chegada das plantas americanas, sobretudo as alimentares, tiveram por isso grande impacto na África e foram rapidamente integradas na agricultura deste Continente.
A bibliografia de suporte ao presente texto, bem documentada ao longo do texto, e outra encontra-se referida no final do texto.
Plantas envolvidas no intercâmbio entre a américa e a costa ocidental africana
Nesta exposição, necessariamente concentrada, com referência apenas a algumas plantas, três situações desejamos exemplificar:
Plantas já introduzidas em África vindas do Oriente e que daqui passaram para a América
Plantas de origem africana introduzidas na América
Plantas vindas da América para África
Plantas já introduzidas em África vindas do Oriente e que daqui passaram para a América
Gengibre
O gengibre (Zingiber officinale Roscoe), originário da Ásia tropical, foi uma especiaria que os portugueses trouxeram para o Reino, por via marítima, do Indostão, onde era abundante e de produção local, logo a partir das primeiras viagens comerciais à Índia. Para garantir boas condições de conservação, era hábito envolver os seus rizomas em terra barrenta para os proteger do contacto com o exterior. Algumas vezes os comerciantes se queixaram de que, para aumentar a massa, engrossavam-se esta camada de terra.
Há informações de que os portugueses introduziram o gengibre em África, pelo menos na ilha de São Tomé, e daqui passou para o Brasil. Isso não significa que outras introduções se não tivessem feito no Brasil a partir diretamente do Oriente.
Gabriel Soares de Sousa, grande agricultor brasileiro que escreveu nos meados do século XVI, esclarece que «Da ilha de S. Tomé levaram à Bahia o gengibre e começou-se de plantar obra de meia arroba dele, repartido por muitas pessoas, o qual se deu na terra de tal maneira que daí a quatro anos se colheram mais de quatro mil arrobas, a qual é com muita vantagem do que vem da Índia em grandeza e fineza, porque se colhe dele penca que pesa dez, doze arráteis, mas não o sabem curar bem como o da Índia, porque ficava denegrido, do qual se fazia muita e boa conserva».
No Brasil, a cultura prosperou muito facilmente e interessou de tal forma os agricultores que as quantidades produzidas rapidamente passaram a exceder as necessidades do comércio, o que poderia provocar um indesejável aviltamento dos preços na Europa, contrário aos interesses do Reino no seu conjunto. Assim se compreende que o mesmo autor chame a atenção de que «dele se não usa já na terra, por El-Rei defender que o não tirem para fora e como se isto soube, o deixaram os homens pelo campo sem o querem recolher e não terem nenhuma saída para fora, apodreceram na terra muitas léguas cheias dele». Este segundo relato de Soares de Sousa refere-se à medida aconselhada a D. Sebastião para concentrar a produção de gengibre na Índia, proibindo assim a colheita do gengibre em São Tomé e no Brasil.
Esta situação de proteção do gengibre comerciado a partir da Índia, manteve-se até 1671, quando então o Príncipe Regente D. Pedro autorizou os residentes e moradores no Estado do Brasil a plantar o gengibre e em 1677 manda mesmo levar mais plantas de gengibre para o Brasil, para aí desenvolver a cultura, numa época em que os portugueses já haviam perdido em grande parte o poderio do comércio das especiarias no Oriente.
Há quem admita que a proibição da cultura do gengibre no Brasil e em São Tomé não teve grande efeito prático. Por um lado, as determinações vindas de Lisboa perdiam força pela distância e pelo tempo que levavam a chegar ao seu destino, sendo muitas vezes recebidas quando as condições já poderiam ter mudado. Por outro lado, nem sequer era necessário semear o gengibre em cumprimento das determinações do Reino, pois os pedaços de rizoma que ficam na terra na altura da colheita eram mais que suficientes para que a planta se multiplicasse sem ser cultivada.
Bananeiras
As bananeiras cultivadas são formas híbridas ou poliplóides das espécies Musa acuminata Colla e Musa balbisiana Colla, originárias do sueste asiático. Devido às suas origens genéticas, as formas cultivadas não produzem sementes e os frutos desenvolvem-se por partenocarpia.
Os portugueses registaram a planta primeiro no Oriente e depois em vários outros locais, mesmo em Portugal e nas terras das margens do Mediterrâneo e deram-lhe o nome de «figueira» e aos seus frutos de «figos-da-horta». Pensa-se que esta designação pode provir do facto de no tempo dos Descobrimentos se usarem as bananas secas (passa-de-banana ou banana-seca, ainda hoje muito usada) para servirem nos barcos de alimento de reserva, tal como os figos da figueira (Ficus carica L.), como várias descrições da época comprovam. Garcia de Orta, informa que esta planta nasce em muitas regiões do Oriente, dá-se também «em muitos outros lugares e naquela parte de África chamada Guiné, onde lhe chamam bananas». O nome de «banana», supõe-se assim ser de origem africana.
As bananeiras já eram conhecidas em muitas terras africanas antes dos Descobrimentos, principalmente na sua costa oriental, onde deverá ter sido introduzida a partir do Continente asiático, mas também já era conhecida no interior do Continente e nalguns pontos da Costa Ocidental, como muitas referências confirmam. Vários autores portugueses dos séculos XVI e XVII referem a existência de extensos bananais em muitas regiões africanas.
Os portugueses introduziram bananeiras nas ilhas atlânticas que encontraram desertas e possivelmente nalguns pontos da costa ocidental africana.
Em Anónimo (1989) comenta-se que o Piloto de Vila do Conde refere a existência de uma «bananeira» na ilha de São Tomé nos princípios do século XVI que designa por «avelaneira», cuja presença na ilha antes da chegada dos portugueses não se encontra comprovada.
Tem sido muito discutido se a bananeira já existiria nas Américas quando chegaram os europeus.
Soares de Sousa cita no Brasil a «pacoba» que «é uma fruta natural desta terra, a qual se dá em uma árvore muito mole e fácil de cortar, cujas folhas são de onze a vinte palmos de comprido e de três quatro de largo, as de junto ao olho são menores e muito verdes umas e outras e a árvore da mesma cor mas mais escura. Na índia chamam a estas pacobeiras figueiras e ao fruto figos». O autor continua com uma descrição pormenorizada que não deixa dúvidas que se está a referir a uma «bananeira».Mas o mesmo autor e no mesmo texto, refere a existência nas terras da Bahia das «bananeiras têm arvores, folhas e criação como as pacobeiras e não há nas árvores de umas e outras nenhuma diferença, as quais foram ao Brasil de S. Tomé aonde ao seu fruto chamam bananas e na Índia chamam a estes figos-da-horta, as quais são mais curtas que as pacobas, mais grossas e de três quinas, têm a casca da mesma cor e grossura da das pacobas e o miolo mole e cheira melhor com são de vez as quais arregoa a casca quando vão amadurecendo e fazendo algumas fendas no alto, o que fazem na árvore e não são tão sadias como as pacobas. Os negros da Guiné são muito afeiçoados a estas bananas». A descrição pormenorizada do fruto faz supor a «banana-prata», ainda hoje consumida em São Tomé e que no Brasil ainda é conhecida como «banana-de-São-Tomé».
Esta extensa descrição faz admitir que no Brasil, e possivelmente em outras regiões americanas, já existiria uma bananeira (a pacoba), que se distinguiria da «bananeira-figo» de Garcia de Orta principalmente pelas caraterísticas dos seus frutos. Era outro tipo de bananeira que embora morfologicamente se identificasse com a pacoba, tinha frutos com caraterísticas diferentes. Estamos em presença de «dois tipos» de bananeiras, uma, a pacoba, que se identifica com a chamada «banana-pão» ou «banana-legume» cujos frutos são consumidos cozinhados como outras fontes de amido e a chamada «banana-fruta» cujos frutos normalmente se deixam amadurecer e ficam adocicados e perfumados e consumidos como fruta. Qualquer delas pertence ao conjunto dos híbridos acima referidos, mas a composição genética pode ser diferente entre as muitas variedades que se podem incluir numa ou noutra. A pacoba (os as pacobas, pois podem ser várias) requer condições ecológicas mais quentes, pelo que a sua cultura ou presença só é possível nas regiões em que as temperaturas não sejam muito baixas e a bananeira, segundo este conceito, é mais tolerante às baixas temperaturas e pode mesmo cultivar-se em regiões temperadas, desde que as geadas não sejam frequentes. Assim se poderá compreender a existência da pacoba nas terras quentes da América antes da chegada dos europeus que teriam levado a bananeira-fruta. A primeira não se adaptaria às condições ecológicas mediterrânicas e por isso não ser esta a bananeira que os portugueses conheciam do reino.
Admitindo a existência da pacoba em terras americanas antes dos Descobrimentos, falta explicar como lá terá chegado, pela via do Pacífico, possivelmente por migrações polinésicas e então porque esta forma e não a outra ou as duas simultaneamente.
Vidal é de opinião de que a bananeira, nas suas diferentes formas, foi introduzida na América pelos descobridores que se instalaram no litoral e fizeram as suas culturas alimentares para sobreviverem. Entre as plantas estaria a bananeira que os nativos apreciaram logo e a levaram para o interior, de tal forma que algum tempo mais tarde, quando os europeus penetraram nas terras do interior, já lá estaria instalada a planta que eles próprios tinham introduzido. Trata-se de uma opinião com alguma dificuldade de aceitar.
À semelhança do que se passou com Gândavo que considerou como duas espécies diferentes a mandioca amarga e a mandioca doce (aipim), supõe-se que também no caso das bananeiras os autores que a elas se referem nesse tempo considerariam duas espécies diferentes, a pacobeira e a bananeira-figo e assim se explicará tudo que se refere a estas bananeiras.
Coqueiro
O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma palmeira muito elegante, originária das ilhas da Polinésia, já muito difundido na costa oriental africana quando por aí passaram os portugueses na armada de Vasco da Gama e que a esta planta se referem especialmente. Além disso, é muito comum em todas as terras do sueste asiático.
Planta considerada «providencial», ela existiria num hipotético «Paraíso Terreal» de qualquer religião, por dela tudo se aproveitar, de tal forma que, no dizer dos orientais, o homem poderia viver utilizando apenas os seus produtos.
Os portugueses, chegados ao Oriente, depressa aprenderam com os árabes que o coco transportado a bordo dos barcos era um excelente processo de manter comida fresca e água potável como reserva. Este conhecimento deve ter recebido enorme importância entre os navegadores que conheciam bem as dificuldades de manter comida fresca e água potável a bordo durante as longas viagens, durante as quais não podiam receber qualquer abastecimento de terra.
É natural, valorizando este conhecimento, que os portugueses fossem introduzindo o coqueiro nas estações de apoio às armadas e, por isso, é referido como existindo na ilha de Santiago em Cabo Verde, pouco tempo depois de se chegar a terras do Oriente por via marítima.
Os portugueses conheceram o coqueiro na costa oriental africana, na primeira viagem de Vasco da Gama à Índia. O cronista desta viagem refere que «As palmeiras desta terra dão um fruto tão grande como melões e o miolo de dentro é o que comem e sabe como junça avelanada». Esta descrição dever ser entendida como quem conhecia já palmeira-do-dendém da costa ocidental africana principalmente pela forma como se refere aos frutos.
O Piloto de Vila do Conde, em Anónimo (1989), por volta de 1545 já referia a presença do coqueiro nas proximidades da Ribeira Grande na ilha de Santiago de Cabo Verde, onde já haviam sido plantadas «palmeiras que produzem cocos» isto é, a «noz da Índia» e indica também que em São Tomé existiam já coqueiros «que trouxeram da costa da Etiópia», de que «a amêndoa desse fruto quando é fresca é de gosto delicado e o líquido que se encontra no interior utilizam-no para numerosos fins porque tem um sabor agradável». Gaspar Frutuoso, escrevendo poucos anos depois, também refere que na ilha de Santiago há «muitas palmeiras que dão cocos», o que significa que neste tempo a planta já tinha sido introduzida a alguns anos e já frutificava.
A introdução do coqueiro na costa ocidental africana deve ter-se dado mais tarde. O interesse pela introdução desta nova planta seria mais limitado, porque pois aí existia a palmeira-do-dendém com utilizações muito próximas. Assim se compreende que em carta de 3 de Julho de 1619, escrita por Diogo Ximenez Vargas a D. Francisco de Bragança, ainda refira «alguns cocos que mando em sacas de lona porque se não troquem, estimarei que cheguem em paz e frescos» como sendo ainda uma raridade na costa africana.
O coqueiro foi introduzido na Bahia a partir de Cabo Verde, como é referido por Soares de Sousa. «As palmeiras que dão os cocos se dão na Bahia melhor que na Índia, porque metido um coco debaixo de terra, a palmeira que dele nasce dá cocos em cinco e seis anos e na Índia não dão estas palmas fruto em vinte anos. Foram os primeiros cocos à Bahia de Cabo Verde, donde se encheu a terra e houvera infinidade deles se não secarem». O autor parece ter um conhecimento ainda superficial do coqueiro ao admitir que na Índia a planta só frutificava aos vinte anos, o que pode fazer supor uma planta de introdução recente na Bahia.
Tem-se estabelecido grande controvérsia quanto à forma como o coqueiro chegou à América, admitindo muitos que esta planta já lá existiria antes desta introdução feita a partir de Cabo Verde. Embora não seja de eliminar uma introdução através de cocos arrastados pela água do mar, já que os frutos boiam quando estão secos, podendo ter sido transportados por via marítima desde as ilhas da Polinésia até às costas americanas, isso não elimina a introdução claramente expressa na descrição de Soares de Sousa.
Os primeiros autores espanhóis que se referem às plantas que encontraram no Novo Mundo contribuíram muito para a versão do coqueiro já existir na América antes da chegada dos europeus. Um dos seus autores desenhou uma planta «que dá cocos», mas não necessariamente o coqueiro a que referimos. O desenho e a gravura contida num desses trabalhos podem ajudar a esta confusão. Nas Américas há muitas «palmeiras que dão cocos», pertencentes a variadas outras espécies.
Pedro José da Silva recorda que no Brasil o nome de «coqueiro» é genérico e vulgar e dado a diferentes palmeiras, umas brasileiras e outras de diversas origens e, entre estas, o coqueiro-da-índia ou «coqueiro-da-baía». Nicolau Jorge Moreira no seu «Dicionário de plantas medicinais brasileiras», cita que só no Brasil, existem 24 géneros e 122 espécies de «coqueiros».
O coqueiro é cultivado ao nível industrial para a produção do coco ralado e da copra. No entanto no Brasil a maior produção de cocos é destinada á «água de coco», adocicada e refrescante e muito utilizada como bebida muito apreciada.
Plantas de origem africana introduzidas na América
Palmeira-dendém
A palmeira-dendém é originária da costa ocidental africana, desde S. Luís no Senegal até às proximidades de Dombe Grande em Angola, estendendo-se em faixa estreita ao longo da costa e prolongando-se marcadamente para o interior do Continente na Bacia do Zaire. Planta a que os nativos já davam enorme importância, dela tiravam uma hortaliça (as raízes novas e o gomo terminal), e os mais variados produtos de seu uso comum como as folhas com que cobriam as suas habitações, cercavam as suas propriedades, faziam redes rudimentares para a pesca, fabricavam cestos (coales) de uso comum e outros recipientes artesanais usados na agricultura. Os frutos, reunidos em infrutescências interfoliares, têm uma polpa fibrosa rica em óleo de palma envolvendo um caroço que encerra uma semente rica em óleo de outro tipo. O óleo de palma é usado localmente entre outras, como alimentar, para iluminação, para fabricar sabão artesanal, na higiene pessoal e como veículo de certas plantas medicinais. A semente (coconote ou palmiste) é localmente utilizada na alimentação humana e animal, é rica em gordura e proteína bruta. O gomo terminal, o palmito, é uma das hortaliças mais apreciadas. Ferindo o gomo terminal e a base das inflorescências, por serem zonas muito ricas em seiva, recolhem-na para consumo. É uma bebida adocicada usada em natureza ou depois de ligeira fermentação constituindo o chamado «vinho-de-palma» (que outras palmeiras também produzem pelo mesmo processo) muito apreciado pelos nativos e a que muitos dos europeus não deixaram de dar elogios.
É muito natural que os navios dos escravos levassem estes frutos, ou pelo menos as sementes, envolvidas no caroço, por serem alimento tradicional dos povos da costa ocidental africana e para consumirem durante as viagens. No destino, algumas sementes sobrantes foram semeadas possivelmente até com a concordância dos donos dos escravos por se interessarem que eles se alimentassem bem, como «máquinas de trabalho». Destas sementes apareceram na zona da Bahia, pelos seus contatos com Angola, as primeiras palmeiras-dendém da América. A alimentação tradicional dos escravos que vinham do Continente africano que incluía o óleo de palma e o palmiste, acabou por generalizar-se à população baiana e de tal forma que ainda hoje a maior parte dos pratos tradicionais da cozinha baiana são confecionados à base de óleo-de-palma.
Tudo indica que nos primeiros tempos esta palmeira tivesse ficado praticamente circunscrita às terras baianas, uma vez que na América já existiam muitas outras palmeiras integradas na vida das populações locais, não havendo assim lugar fácil para a dispersão desta nova espécie no Continente americano.
Só muito recentemente esta palmeira se difundiu nas zonas tropicais de muitos países americanos por entretanto ter aumentado no mercado internacional o interesse comercial pelo óleo-de-palma, ao qual foram descobertas novas utilizações industriais incluindo a sua utilização com combustível.
A bibliografia portuguesa do período dos Descobrimentos é muito rica no que se refere à planta enquanto situada nas sua área de origem, mas não se conhecem documentos que permitam afirmar terem sido os portugueses que deliberadamente a tenham introduzido em terras americanas, embora tudo o faça supor, tomando em atenção os elementos que se deixam.
«Inhames» asiáticos e africanos
Sob a designação genérica de «inhame» e «falso inhame» inclui-se um conjunto relativamente numeroso de espécies dos géneros Dioscorea Plum. ex L., Colocasia Schott, Alocasia (Schott) G.Don, Xanthosoma Schott e, até por confusão, a Ipomoea batatas (L.) Poir. (a batata-doce). As espécies pertencentes ao género Dioscorea, umas têm formações tuberosas aéreas, outras subterrâneas e outras subterrâneas e aéreas. As massas tuberosas das plantas deste género, umas são comestíveis e muitas das espécies constituem, em muitos locais, um dos alimentos básicos dos seus habitantes, mas noutras, as formações tuberosas são venenosas, devido sobretudo à presença de dioscorina, constituindo um perigo o seu uso alimentar.
Sob a designação comum de «inhames», estas plantas, muitas vezes sem se conhecer a espécie em causa, são referidas pela literatura como sendo utilizadas na Ásia, África e América. Diversas espécies de Colocasia e Dioscorea são de origem asiática, outras africanas e outras ainda americanas.
Uma das mais importantes do primeiro do género referido é a Colocasia esculenta (L.) Schott, conhecida por «taro» e «cocoyam», que alguns autores admitem ter constituído a base da alimentação dos povos orientais antes da utilização do arroz, que veio a substituir a primeira nos campos armados em terraços para permitirem uma cultura exigente em água.
Esta espécie estava muito difundida em África, pelo menos nas terras do Vale do Nilo onde já tinha chegado, e foi muito difundida pelos portugueses. Nos Açores foi muito utilizada para a produção de álcool e ainda hoje constitui, tal com na ilha da Madeira, uma cultura alimentar importante. A planta é conhecida por falso-inhame, inhame-do-Egito, e inhame-dos-açores ou taro, ente outros nomes.
Estas espécies e outras de origem asiática foram trazidas nas embarcações portuguesas com suprimento de alimento fresco. Possivelmente, já em estado adiantado de desenvolvimento e menos apropriados para serem consumidos ou propositadamente para cultivarem nas estações intermédias de apoio, como eram sobretudo as ilhas atlânticas, os inhames devem ter sido trazidos para a costa ocidental africana onde foram bem aceites pelas populações locais que já cultivavam ou utilizavam na alimentação espécies africanas como alimento fresco.
Pouco se sabe sobre o nome científico das espécies envolvidas neste processo. As descrições da época, como as de Frei João dos Santos referentes à Etiópia Oriental, várias vezes referem os «inhames» ou o «inhame» como base de alimentação de muitos dos povos com os quais contactaram, mas não nos permitem averiguar qual a espécie ou espécies em causa. Como algumas vezes usam o singular e outras o plural, isso pode ser indicação do cultivo de várias espécies com o mesmo nome e com as mesmas utilizações.
Também de origem oriental e introduzido em África é a Dioscorea polystachya Turcz., conhecida como inhame-da-china e também conhecido na América, segundo Júlio Henriques, onde é designado por «batata-doce», onde ainda hoje, segundo Gossweiler, é de todos os inhames o mais rústico, cultiva-se em África e na América, sobretudo no sul dos Estados Unidos da América, onde é consumido como a batata comum.
Valentim Fernandes, escrevendo sobre a África nos princípios do século XVI, já estabelece diferenças entre «inhames» pertencentes ao género Dioscorea que já existiam na África como tendo «uma raiz como cenoura, se não que são mais grossas», e outros, a que o autor chama «erva-coco», (que alguns autores têm confundindo com o coqueiro) que «é uma raiz redonda com cebola, as folhas têm a feição de adarga em grandura e largura», de plantas pertencentes aos restantes géneros acima referidos, uma delas conhecida hoje como «matabala» e largamente consumida em substituição da batata-doce. Segundo o mesmo autor, na costa ocidental africana, a população «come inhames cozidos ou assados e come erva-coco» e na ilha de S, Tomé «criam-se muitos. Suas folhas são como de silva e assim jaz pelos chãos como silva de espinhos e assim se cria em paus» (certamente espécies de Dioscorea) e acrescenta que «têm nesta ilha outra raiz de que usam no seu comer como do inhame. E se chama coco. E é erva e tem a folha comprida como de jarro» (certamente espécies de Colocasia, Alocasia ou Xanthosoma). Tudo indica que o «coco» de Valentim Fernandes será a Colocasia esculenta, o «micoco» da linguagem crioula, «matabala» em São Tomé e «falso-inhame» ou simplesmente «inhame-da-madeira.
O Piloto de Vila do Conde (Anónimo, 1989) confunde o inhame com a batata-doce quando refere que os negros cultivavam em São Tomé «as raízes de inhame» que «constituem a base principal da sua alimentação», mas acrescenta que «a raiz a que os indianos da ilha Espanhola chamam batata, chamam os negros de S. Tomé de inhame e cultivam-na como fazendo dela o seu principal sustento», mas refere também a existência na ilha do inhame chicoreiro que será muito provavelmente a «erva coco» de Valentim Fernandes e ainda, as «batatas» trepadeiras, naturalmente do género Dioscorea, chamadas «inhame-do-Benim», «inhame-do-manicogo» e «inhame-amarelo»» que seriam variedades diferentes, possivelmente trazidas da costa africana com os escravos comprados «em Guiné, no Benin e no Manicongo» para «trabalhar a terra e fazer açúcar».
Os portugueses levaram para o Brasil os inhames e falsos-inhames que conheciam das terras africanas, fundamentalmente para alimentar os escravos. Ainda hoje a Dioscorea alata L., originária do sueste asiático, cultivada em África, e também nas Antilhas, é a «white Lisbon» cujo nome faz supor uma introdução americana feita pelos portugueses. Os navios portugueses abasteciam-se nas ilhas africanas a caminho de Lisboa com este inhame quando iam à ilha de São Tomé carregar açúcar, como diz o Piloto de Vila do Conde (Anónimo, 1989).
«Milhos» do Velho Mundo
O nome de «milho» foi dado no Velho Mundo pelos portugueses a um conjunto de plantas pertencentes a mesma família e produtores de grão que depois de farinado era muito utilizado no fabrico do pão. O nome terá resultado do vocábulo latino «melica» que é referido em documentos europeus muito antigos. Em Portugal conhecem-se referências ao milho (ou milhão ou milhon) desde os tempos da primeira dinastia.
As designações de «milho», «milhos» e «painço» aparecem com frequência nos autores do século XVI. À medida que os portugueses foram conhecendo novas terras, já nalgumas delas um «milho» era alimento muito importante e não raros os autores se referem a «lavras de milho» nas terras com que iam contatando.
Até ao século XVI, isto é, até o contacto dos europeus como Novo Mundo, o nome de «milho» era dado indistintamente a várias espécies do Velho Mundo, pelo que a simples indicação do nome não permite verificar qual a espécie ou espécies a que os autores se referem. Veja-se que em Portugal, o nome genérico de «milho», é dado ao Panicum miliaceum L., conhecido por «milho-alvo», «milho-miúdo» e «milhinho», a Setaria italica (L.) P.Beauv., por milho-painço, ainda hoje cultivado em Portugal principalmente para alimento das aves, o Sorghum bicolor (L.) Moench, conhecido por «milho-das-vassouras», «milho-zaburrão», «milho-zaburro» e «sorgo», vindo até à Europa pelo norte de África das terras indianas ou do centro-este de África, Pennisetum glaucum (L.) R.Br. o «milho-africano, milho-preto», também conhecido por «milho-painço».
Soares de Sousa também se refere à existência de «milhos» no Brasil, dedicando-lhe um capítulo completo da sua obra, o XLV, intitulado «Em que se contém o milho que se dá na Bahia e para que serve». Aqui se diz que «Dá-se outro mantimento em todo o Brasil, natural da mesma terra a que os índios chamam ubatim, que é o milho da Guiné que em Portugal chamam zaburro». O autor está mal informado ao dizer ser este milho «natural da mesma terra», porquanto deve ter sido levado no período da escravatura para alimentar os escravos, por ser um cereal a que já estavam habituados. A descrição que o autor faz deste milho não deixa dúvidas de que se não trata do milho americano, embora o autor o considere essa a origem. Com efeito diz o autor que «as espigas que este milho dá são de mais de palmo, cuja árvore é mais alta que um homem e de grossura das canas da roça com nós vãos por dentro e dá três, quatro e cinco espigas em cada vara». O facto de ter nós vãos por dentro do caule, logo afasta a ideia de se estar a tratar do «milho-americano» ou ser uma descrição imprecisa, o que é menos provável. Segundo o mesmo autor, «este milho come o gentio assado por fruta e fazem seus vinhos com ele cozido com o qual se embebedam e os portugueses que comunicam com o gentio e os mestiços não se desprezam dele e bebem-no mui valentemente» este milho não foi considerado pelo autor como mantimento de importância principal, já que explica que «Plantam os portugueses este milho para mantença dos cavalos e criação de galinhas e cabras e ovelhas e porcos, aos negros da Guiné o dão por se fruta os quais o querem por mantimento sendo o melhor da sua terra; a cor geral deste milho é branca e outra almacegada, outra preta, outra vermelha e toda se planta à mão e tem uma mesma qualidade», admitindo-se que seja um dos vários Sorghum Moench do Velho Mundo, muito possivelmente o «milho-zaburro» acima referido. O mesmo autor informa que nas terras da Bahia. «Há outra casta de milho que sempre é mole, da qual fazem os portugueses muito bom pão e com ovos com açúcar, do mesmo milho quebrado e pisado no pilão é bom para se cozer com caldo de carne e de pescado e de galinha, o qual é mais saboroso que o arroz». Este preparado culinário muito se assemelha aos «carolos» ainda hoje muito consumidos em certos meios rurais portugueses. Possivelmente será este o milho americano que nesse tempo e nesse local ainda não tinha grande interesse económico e alimentar não só porque havia outras plantas basilares da alimentação, nomeadamente a mandioca, mas também porque a zona ecológica do milho se situa em regiões tropicais mais frescas.
Plantas vindas da América para África
O cafeeiro-arábica
O cafeeiro-arábica (Coffea arabica L.) é, sem dúvida, uma planta de origem africana, introduzida na África Ocidental através da América. Este cafeeiro é originário das terras montanhosas da Abissínia e limítrofes, das florestas frescas de certa altitude e grande humidade. De uma forma condensada recorda-se que este cafeeiro foi introduzido na «Arábia Feliz», daqui passou para o sul da Índia e desta vasta região foi levado pelos holandeses para as suas antigas Índias Orientais Neerlandesas onde a cultura prosperou. A procura do café na Europa até aí satisfeita praticamente pelas zonas produtoras da «Arábia Feliz», impulsionou muito a atividade dos colonos neerlandeses.
Os holandeses trouxeram alguns destes cafeeiros para o Real Jardim Botânico de Amesterdão onde vegetaram e frutificaram, sem dificuldade, em ambiente abrigado. O Burgo Mestre de Amesterdão ofereceu um exemplar aos franceses, a quando do Tratado de Utreque, que o receberam com muito agrado e colocaram-no no «Jardin-des-Plantes» em Paris ao cuidado do botânico Jussieu.
A partir dos cafeeiros existentes em Paris e Amesterdão e possivelmente depois de uma tentativa falhada a partir das índias Orientais Neerlandesas, este cafeeiro foi introduzido nas colónias francesas e holandesas na América. Embora alguns fantasiosos admitam já existir este cafeeiro no Brasil antes dos Descobrimentos, a realidade é que esta planta foi aqui introduzida a partir da Guiana francesa por Francisco de Melo Palheta em 1727 iniciando-se a cultura pelo norte e caminhando progressivamente para sul na procura de melhores condições ecologias, até atingir e tomar grande desenvolvimento nas terras paulistas. O Brasil deu grande prioridade à cultura do cafeeiro-arábica e ainda hoje é de longe o primeiro produtor mundial de café produzido por este tipo de cafeeiro.
Embora originário da África, este cafeeiro não existia na sua zona ocidental antes dos Descobrimentos, o que bem demonstra as dificuldades em vencer as grandes barreiras do «interland» dos Continentes e só aí foi introduzido nos fins do século XVIII, começando pelas ilhas de São Tomé Príncipe.
João Batista da Silva, ao tempo capitão-mor da ilha de São Tomé, nomeado para o lugar em 17 de Agosto de 1787, apercebendo-se do estado de abandono em que se encontrava a ilha e tendo contactos com o Brasil, possivelmente pelo movimento dos escravos que passavam pela ilha e pela dependência económica em que esteve relativamente ao «cofre da Bahia», trouxe este cafeeiro do Brasil, conforme ele próprio o assinala em Memória de 5 de Maio de 1789 e intitulada «Descrição da ilha de S. Tomé» onde afirma que . «nesta ilha e na do Príncipe o deve dar e a experiência agora me mostra em uns caixões de pequenas árvores que dele levei do Brasil, o fiz plantar, vendo que a terra e o clima o abraçam ». Tendo em conta as duas datas referidas não é abusivo concluir que a introdução do cafeeiro-arábica na ilha de São Tomé se efetuou entre 1787 e 1789.
Em Cabo Verde, o cafeeiro-arábica começou por ser introduzido na ilha de S. Nicolau em 1790 por António Leite com sementes trazidas das Antilhas por um capitão de navios seu amigo. Mais tarde, Joaquim Pereira iniciou a cultura na ilha de Santiago também a partir de sementes das Antilhas. O cafeeiro difundiu-se por quase todas as ilhas, mas razões de ordem ecológica, agrícolas e culturais, determinaram que esta cultura só assumisse algum interesse ao nordeste da ilha do Fogo com algumas pequenas plantações noutras ilhas.
Em Angola, onde a cafeicultura se desenvolveu a partir dos cafeeiros do tipo Robusta, o cafeeiro-arábica difundiu-se nalgumas zonas planálticas em tempos ainda mais recentes, sendo sobretudo de assinalar as plantações na zona da Ganda feitas por colonos alemães vindos da Tanzânia depois da Primeira Guerra Mundial.
Inhames americanos
Pêro Vaz de Caminha anota que as populações da «Terra de Santa Cruz» consumiam «muito inhame e outras sementes» sem indicar qual a espécie. José d´Anchieta cita no Brasil o «carei» que é o nome que ainda hoje é dado aos «falsos inhames» dos géneros Colocasia Schott, e Xanthosoma Schott. Gândavo cita no Brasil a existência de «muitos inhames e batatas e outros legumes que fartam muito a terra».
Gabriel Soares de Sousa cita a existência de dois «inhames» no Brasil e esclarece que um deles é de origem americana, o carai (os cará) e outros vieram da África, parecendo entender-se que trazidos para alimentar os escravos. Com efeito, «Da ilha de Cabo Verde e de S. Tomé foram à Bahia inhames que se plantaram na terra logo onde se deram de maneira que pasmam os negros da Guiné que são os que usam mais deles e colhem inhames que não pode um negro fazer mais que tomar às costas um; o gentio da terra não usa deles porque os seus, a que chamam carazes, são mais saborosos». Em Angola, segundo Gossweiler, o nome de cará é genérico é dado a numerosas espécies do género Dioscorea L., algumas delas também cultivadas no Brasil, no norte de Angola, principalmente a Dioscorea alata L., de origem asiática, trazida muito cedo do Oriente.
Frei Cristóvão de Lisboa, refere-se ao cará como existindo no Maranhão, a cuja flora se referiu, de «três castas. Uma é roxa, as outras são brancas, são tamanhas como a cabeça de uma criança e os pequenos é bom comer assados ou cozidos e são melhores que pêra de Portugal e os selvagens as sabem bem apontar (multiplicar) que as vão quebrando por pedacinhos e cada pedaço dá cinco ou seis raízes» planta que pelo desenho que o autor apresenta já identificámos como D. trifida L.f.
Amendoim
O amendoim (Arachis hypogaea L.) é uma leguminosa de origem americana, segundo Purseglove, possivelmente da chamada área do «Gran Chaço», incluindo o vale do Paraguai e o rio Paraná. A planta difundiu-se pela América muito antes da chegada dos europeus, de tal forma que já foram encontradas sementes de amendoim em escavações no Peru correspondentes a 88 a.C.
Dubard defende que ao longo dos tempos e dada a dispersão da planta, se formaram na América dois tipos de amendoim, um o chamado amendoim brasileiro, de vagens mais curtas, geralmente com duas sementes por fruto e que será o que os portugueses difundiram e outro, o amendoim do tipo peruano, com frutos geralmente mais alongados, quase sempre com três sementes, que os espanhóis difundiram pelo Oriente, usando a via do Pacífico.
Soares de Sousa descreve com certo pormenor a planta afirmando que o amendoim «é coisa que não se sabe haver senão no Brasil, os quais amendões nascem debaixo da terra, onde se plantam à mão, um palmo do outro, as suas folhas são como as dos feijões de Espanha e têm os ramos ao longo do chão». Esta descrição parece indicar que o autor conhecia mal a planta, referindo-se apenas à forma prostrada do amendoim e lhe seriam estranhas as formas ereta e semiprostrada da mesma planta e parecendo reconhecer ser o amendoim uma planta exclusivamente brasileira. Continuando na sua descrição, Soares de Sousa informa que «cada pé dá um grande prato destes amendões, que nascem nas pontas das raízes, os quais são tamanhos como bolotas e têm cascas da mesma grossura, e dureza mas é branda e crespa e têm dentro de cada bainha três e quatro amendões, que são da feição de pinhões com casca, e ainda ais grossos. Têm a tonalidade parda, que lhe sabe como a do miolo dos pinhões, o qual miolo é alvo. Comidos crus, têm o sabor de ervanços, mas comem-se assados e cozidos com casca como castanhas e são muito saborosos e torrados fora das cascas são melhores». É evidente que o autor não reparou que os frutos não nascem «nas pontas das raízes» como diz, mas na extremidade do escapo floral (ginóforo) que se forma na parte aérea após a fecundação da flor e depois penetra no terreno para frutificar junto às raízes. Esta mesma confusão, quanto ao local onde na planta aparecem os frutos, foi assinalada por Cristóvão de Lisboa, já no século XVII que referindo-se ao amendoim entre as plantas que encontrou no Maranhão, faz acompanhar o seu texto de uma gravura da planta onde curiosa e fantasiosamente aparecem frutos quer nas raízes quer na axila de algumas das suas folhas.
É geralmente aceite que foram os portugueses que introduziram o amendoim em África. Valentim Fernandes, escrevendo nos princípios do século XVI, afirma que pelo menos na Costa da Guiné a população «come arroz, milho, inhames e mancarra». Simplesmente o autor não se está a referir ao amendoim, mas a outra espécie de origem africana com hábitos de frutificação muito semelhantes e muito cultivada em algumas regiões africanas de solos leves. A planta produtora desta «mancarra» é a Vigna subterranea (L.) Verdc., muito cultivada ainda nos nossos tempos nas terras da Guiné com o nome de macarra-dos-bijagós e em Angola onde é conhecida pelo nome de ginguba-de-Cambambe. Não admira, por isso, que o amendoim, chegado à África e por ser semelhante à «mancarra» de Valentim Fernandes, sobretudo nos hábitos de frutificação, passasse a ser aqui designado pelo mesmo nome. No entanto, os africanos reconheceram diferenças entre as sementes das duas plantas, as da ginguba-de-Cambambe com teores de gordura relativamente baixos e consumida como os feijões e outras sementes de leguminosas ricas em proteína e a do amendoim, cujas sementes doseiam quase metade da sua massa em gordura.
Na costa da Guiné onde o amendoim foi pela primeira vez introduzido em África, possivelmente durante o comércio da escravatura, a planta foi designada por «tiga» que Dubard considera como uma corruptela de «manteiga» por causa dos teores de gordura na semente mais elevados, o que faz admitir ainda mais a influência portuguesa na introdução desta planta no continente africano.
Ananaseiro
O ananaseiro (Ananas comosus (L.) Merr.) é uma planta herbácea de origem americana, segundo Cavalcante das terras brasileiras de Ibirapitanga onde ainda hoje, no nordeste brasileiro, aparecem formas selvagens nas «capoeiras» e na vegetação aberta da Amazónia.
Planta muito difundida na América tropical e muito apreciada pelas populações locais quando chegaram os europeus, foi encontrada por Cristóvão Colombo em 4 de Novembro de 1493 numa das ilhas das Pequenas Antilhas, conforme o Diário de Colombo, escrito por Pedro Martin d´Anghera. O navegador trouxe frutos para a Espanha como prova de achamento e de qualidade, mas destes só um chegou em condições de ser comido pelos reis que asseguraram que, em sua opinião, levava a palma a todos os frutos conhecidos. Os europeus, de várias nacionalidades, que contactaram depois com as terras americanas dos trópicos, tecem ao fruto os mais rasgados elogios, considerando-o o «rei de todos os frutos», a tal ponto que Deus o quis distinguir dos restantes colocando-lhe uma coroa na cabeça.
Não admira que os portugueses que também o descrevem e elogiam, procurassem cedo fazer a sua difusão pelas terras que iam conhecendo e de tal forma que em 1503, segundo Collins, já existia na ilha de Santa Helena, ponto básico de abastecimento das armadas que circulavam entre o Brasil e a Índia e, em 1549, é referido em Madagáscar.
A introdução do ananaseiro no Continente africano não se encontra bem esclarecida por falta de dados, mas admite-se que tenha sido feita também muito cedo.
Com efeito, frei João dos Santos, que escreveu sobre a Etiópia Oriental nos fins do século XVI, já refere a existência de «muitos ananases» nas hortas da ilha de Moçambique e nas zonas de Tete e Sena e noutros locais «muitos ananases como os do Brasil, excelentíssimos». De referir também que no Atlas de Fernão Vaz Dourado, de 1575, aparecem desenhados numerosos frutos do ananás a ornamentar a carta, pelo que é de admitir que nessa data já fosse um fruto frequente nas terras africanas.
Na costa ocidental africana, encontrámos referências sobre o ananás em Motecúccollo que escreveu em 1687 sobre os Reinos do Congo, Matamba e Angola dizendo que a planta «vegeta em todos os terrenos, até nos baldios». «A planta carrega-se de frutos sucessivamente pequenos, médios e grandes, acerbos e maduros, os maiores não são muito volumosos pois o homem pode encerrá-los em ambas as mãos e consomem-se cortando-os em fatias antes de os comerem e temperando com sal a sua demasiada calidez». «é o melhor de todos os frutos, pelo menos na opinião dos europeus» e « ao ver esta planta vegetar solitária nas florestas e nas matas, julguei que os naturais não fizessem grande caso dela, mas esta negligência provém talvez da sua preguiça e descuido». A descrição faz supor que a planta era ao tempo de introdução antiga, já se encontrando vegetando sem cuidados «nas florestas e nas matas».
Batata-doce
A batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Poir.) é uma rastejante de origem americana, de uma vasta área limitada a norte pela península do Yucatão e a sul pelo rio Orinoco compreendendo a Colômbia, Equador e norte do Peru, mas que já se encontrava muito difundida em toda América tropical quando chegaram os primeiros europeus, sendo um dos alimentos mais utilizados nesta vasta região. As raízes tuberosas podem ser cozinhadas ou consumidas em natureza com um gosto vagamente parecido com as castanhas do castanheiro (Castanea sativa Mill.)
Os espanhóis conheceram a planta na América e trouxeram-na como «novidade» aos reis espanhóis como prova do achamento das terras americanas. José de Anchieta, que foi como missionário para o Brasil em 1553, já aí encontrou a planta, dizendo que «há outras raízes como batatas estas se comem assadas ou cozidas, são de bom gosto, servem de pão a quem não tem outro».
Soares de Sousa, que escreveu pelos meados do século XVI, refere as «batatas que são naturais da terra e se dão nela de maneira que onde se plantam nunca mais se desinçam, as quais voltam a nascer nas pontas das raízes que ficaram na terra quando se colheu a novidade delas». O autor não se apercebeu que as batatas, que são raízes tuberosas, não nascem nas extremidades das raízes, mas em formações caulinares com raízes ou com gomos, as quais podem ficar no terreno após a colheita das batatas, e aceita serem «naturais da terra», possivelmente por ser já nesse tempo uma planta muito vulgar.
Tratando-se de um alimento de «bom gosto» e de fácil propagação (nunca mais se desinçam), é muito natural que a planta fosse rapidamente difundida, admitindo, a maior parte dos autores, como França, que a chegada a outras partes do mundo se terá dado nos séculos XVI e XVII.
Em consequência da grande difusão da planta, formaram-se muitas variedades que diferem entre si no que se refere à morfologia, forma e cor exterior das raízes tuberosas, forma, recorte e tamanho das folhas, número e cor das flores, havendo alguns clones que já não produzem flores e por isso só podem ser reproduzidos por via vegetativa, que aliás é o processo tradicional de multiplicação desta espécie.
A planta foi introduzida em África fundamentalmente para alimentar os escravos e só depois o seu consumo se generalizou.
Frei João dos Santos, na sua Etiópia oriental, escrita nos fins do século XVI, já refere as «batatas» cultivadas na costa oriental africana, devendo entender-se por batata-doce, o que significa que a planta rapidamente se difundiu fora do continente americano.
O Piloto de Vila do Conde que foi a São Tomé carregar açúcar, informou em meados do século XVI que nesta ilha «a raiz a que os indianos da ilha espanhola chamam batata, chamam os negros de S. Tomé inhame e cultivam-na como fazendo dela o seu principal sustento». Houve uma evidente confusão entre alguma das espécies de inhames e a batata-doce o que se atribui ao facto das partes comestíveis de uns e outra poderem ser semelhantes.
Montecúccolo, escrevendo em 1636 sobre os Reinos do Congo Mutamba e Angola, anuncia ser a batata-doce frequente nesta vasta região, que «os portugueses chamam batata a uma espécie de nabo, próprio deste clima, especialmente no Congo. O seu caule vai rastejando e as raízes parecem-se com as da grama. Mantêm-se verdes por algum tempo e o fruto é abundante. Este fruto (raiz tuberosa) exteriormente é tosco, irregular e giboso, com um palmo de comprimento, ou pouco mais, e grosso como um braço; porém às vezes tem tamanho maior. A casca tem a cor de uma laranja bem madura. Assado na cinza quente, torna-se medianamente saboroso. Por ser muito abundante constitui uma utilidade não pequena para as famílias que dele fazem uso». Alguns autores, não especialistas nestes assuntos, admitem ser a descrição referente à batateira comum (Solanum tuberosum L.). A informação não deixa dúvidas da planta a que se refere e a gravura que acompanha o texto é elucidativa.
Batateira
A batateira (Solanum tuberosum L.) é originária das terras frescas andinas, possivelmente da Colômbia ao Chile. Ainda hoje na região de origem se encontram muitas formas silvestres desta planta defendendo alguns autores que só no Peru existirão cerca de dez mil cultivares.
O tubérculo que produz já era muito utilizado pelas populações nativas em épocas pré-colombianas e ainda hoje a «papa» (nome da batata em castelhano) é um dos alimentos mais consumidos nas zonas de média altitude da América do Sul.
Tendo havido inicialmente o contacto dos europeus com as terras costeiras americanas de clima quente, é muito natural que a planta não tivesse chamado tanto a atenção dos espanhóis ou dos portugueses e assim poderá justificar-se porque a planta não figura nos lotes das primeiras plantas trazidas para a Europa como alimentares. Na opinião de vários autores, à volta do consumo da batata criou-se uma ideia de que o seu uso provocava o aparecimento da lepra, doença terrível na época o que deve ter retirado interesse à introdução da batateira na Europa.
Conhecem-se muitas informações sobre esta matéria e as dificuldades de a fazer aceitar na agricultura europeia, mas muito poucas sobre a introdução desta planta na África tropical. Tudo indica que foi uma introdução tardia e só quando os europeus iniciaram a atividade agrícola nas zonas planálticas, mais frescas e por isso mais apropriadas a esta planta. Por exemplo, em Angola a batateira, segundo a opinião de Welwitsch e o Conde de Ficalho, só foi introduzida em cultura nos planaltos centrais angolanos e no sul da Huíla em 1840, onde passou a ser cultivada pelas populações locais.
Mandioca
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é a mais fabulosa planta alimentar de origem americana e que tendo-se difundido em todo o mundo tropical, é hoje o suporte alimentar de centenas de milhões de seres humanos que habitam nas regiões tropicais de baixa altitude de todo o mundo. Considerada com a planta que produz a maior quantidade de alimento por unidade de área cultivada, pode ser consumida de muitas e variadas formas, é de cultura fácil e pouco trabalhosa e as suas raízes tuberosas, o seu principal produto alimentar, podem em certas condições, irem sendo colhidas, mantendo a planta viva.
Cristóvão Colombo encontrou na América grandes campos cultivados com esta planta e da farinha que obtinham, por farinação das suas raízes tuberosas, produziam os povos locais um pão a que chamavam «cazabi» que ofereceram aos espanhóis chegados a estas terras.
Os portugueses também já encontraram esta planta profusamente difundida e utilizada nas terras do Brasil e deram-lhe enorme atenção, como provam as numerosas e por vezes extensas referências que fazem a esta planta e aos produtos que a partir dela preparavam.
O padre Anchieta, chegado ao Brasil pelos meados do século XVI, refere-se à mandioca, confundindo-a com um «inhame» pela semelhança das suas formações tuberosas com as dos verdadeiros inhames, uns locais outros africanos, que os portugueses já conheciam antes de chegar a terras brasileiras.
Duas descrições sobre a mandioca e suas utilizações no Brasil se devem referir, sobretudo pelo pormenor e extensão das descrições, uma de Gândavo, outra de Gabriel Soares de Sousa, este que à planta dedica três capítulos da sua História sobre o Brasil.
Gândavo referindo-se à planta no Brasil, diz que «o que lá se come em lugar do pão é farinha de pau (assim designada pelo aspetos das raízes tuberosas da mandioca). Esta se faz da raiz duma planta que se chama mandioca, a qual é como inhame. E tanto que se tira debaixo da terra, estas curtindo-se em água, três quatro dias, e depois de curtida pisam-na ou ralam-na muito, bem espremem-na daquele sumo de tal maneira que fique bem escorrida, porque é aquela água que sai dela tão peçonhenta que qualquer pessoa ou animal que a beber logo naquele instante morre». A descrição que se faz corresponde aquilo que hoje se chama a mandioqueira amarga. As suas raízes, quando colhidas, doseiam um glicósido do ácido cianídrico muito tóxico. O mesmo autor refere a presença no Brasil de uma outra planta muito semelhante a esta que designou por aipim «da qual se fazem uns bolos que parece pão fresco deste Reino e também esta raiz se come assada como batata de toda a maneira se acha nela muito gosto» Os autores do século XVI consideravam estas duas plantas com espécies diferentes. Os sistematas incluem-nas ma mesma espécie distinguindo formas cujas raízes são isentas do princípio tóxico as «mandiocas-doces» e outras conhecidas por «mandiocas- amargas» que contêm o princípio tóxico em quantidades muito variáveis consoante as inúmeras variedades que se foram formado, dada a extensão que a cultura desta planta assumiu em quase todas as regiões tropicais ao longo dos tempos.
Gabriel Soares de Sousa dedica à mandioca no Brasil quatro longos capítulos procurando dar informações sobre «o que é a mandioca», para que servem as suas raízes, as propriedades da água de maceração das raízes tuberosas e dos diferentes produtos que nesse tempo se preparavam.
Sendo um alimento básico nos trópicos, onde os cereais conhecidos na Europa tinham menos viabilidade, particularmente o trigo, pensa-se que a mandioca deve ter sido uma das primeiras plantas introduzidas em África a partir do Brasil. Os portugueses já nesse tempo conheciam as dificuldades alimentares dos africanos a sul do Sara e devem ter entendido como uma contribuição preciosa levarem-lhe uma planta alimentar tão preciosa em termos de alimento e de facilidade de cultivo. Na opinião do Conde de Ficalho a mandioca foi levada para a África pelos portugueses e cultivada pela primeira vez nas terras angolanas nos princípios do século XVI.
Outros defendem que a planta, antes de entrar no Continente africano, foi cultivada na ilha de São Tomé, o que tem certa lógica dada a posição desta ilha como intermediária entre o Brasil e a costa ocidental africana, principalmente angolana, com intenso movimento no comércio de escravos. Na opinião de Jones os portugueses introduziram a mandioca na bacia do Congo em 1558, não fazendo qualquer referência a uma eventual passagem intermédia por uma das ilhas atlânticas «fornecendo-lhes uma alimentação abundante, posto que grosseira, adaptando-se perfeitamente ao clima, multiplicando-se com extreme facilidade, exigindo poucos cuidados de cultura, circunstâncias apreciadas pela preguiça natural dos mesmos - o manhiot reuniu as condições para ser adoptada pelo africanos» e «daí a cultura penetrou de povo em povo pelo interior, não se afastando muito do Equador», dada a sua sensibilidade as temperaturas baixas.
Montecúccolo, escrevendo em 1687, refere o desenvolvimento que a cultura da mandioca tinha nas terras do Congo, Angola e Mutamba, esclarecendo que «dizem que do Brasil ou da ilha de S. Tomé foi importada uma pequena árvore, ou melhor um arbusto, chamado mandioca cuja raiz, reduzida a farinha, serve de bom sustento para os nativos desta região. É usada de diversas maneiras, quer pelos nobres quer pelos plebeus».
Milho-mayz ou «milho-americano»
No Velho Mundo, como se diz noutro local, existiam várias plantas a que era dado o nome de «milho», todas elas com a caraterística geral de as sementes poderem ser farinadas e utilizadas no fabrico do pão.
Os espanhóis encontraram na América uma planta morfologicamente diferente dos tradicionais «milhos» do Velho Mundo, mas que era utilizada pelas populações locais de forma muito semelhante à usada pelos povos do Velho Mundo com os «milhos daqui originários. Deram-lhe também o nome de milho e Lineu classificou-a como Zea mays, tomando como base a designação da planta entre as língulas locais. Casas explica que os espanhóis, chegados a terras americanas, queriam desenvolver a cultura do trigo destinada ao abastecimento do Reino, mas deram muita atenção a este «milho» novo porque «chega a cem e cento e cinquenta por um, porque de cada grão nasce uma cana e de cada cana três maçarocas. E de cada maçaroca saem seiscentos e outras vezes até setecentos e oitocentos grãos, do que resulta que de um só grão saem mil e quinhentos grãos».
Hernendez d´Oviedo faz uma preciosa descrição deste «milho americano», dizendo que «Nasce o maiz numas canas que suportam umas maçarocas de uma semente e maiores e menores, grossas como um braço ou menos, cheias de grãos grossos como gravanços» (grão-de-bico) e com cuidado acrescenta que «a folha é como a da cana comum de Castela e é muito mais longa e menos larga e mais flexível e mais verde e menos áspera» e «cada maçaroca está envolvida em três ou quatro folhas ou cascas justas junto ao grão, umas sobre as outras, um tanto ásperas». É interessante referir este sistema de proteção da espiga do milho americano que não encontramos noutro cereal. As espigas estão envolvidas num conjunto de «folhas» ricas em sílica o que constitui uma excelente proteção contra o sol tropical e contra as chuvas, como reconhece Peckolt.
O milho americano é originário das zonas das encostas dos Andes no Peru, onde ainda hoje se encontram numerosas formas distintas, sobretudo pela forma e tamanho do grão. Segundo a maioria dos autores ainda não foi encontrada a forma silvestre do milho e as atuais plantas com este nome resultam de hibridações sucessivas com plantas locais, à medida que a planta ia progredindo pela América, antes da chegada dos Europeus. O «milho» que os espanhóis encontraram no México e trouxeram para a Europa e cultivaram nos campos de Sevilha, será um híbrido entre o Zea mays L. e o teosinto (Zea mexicana (Schrad.) Kuntze), que alguns consideram de grão mais farináceo mas outras formas de grão mais duro e teriam sido estas as que foram introduzidas em África. Thadim refere que o milho-maíz «se trouxe a Espanha quando se descobriu o Peru» o que significa ter havido em Espanha várias introduções de «milhos-mays» possivelmente diferentes entre si.
Os autores portugueses do Século XVI que escreveram sobre o Brasil não fazem grandes referências a este milho americano. Possivelmente as terras de baixa altitude com as quais os europeus pela primeira vez contactaram na América eram mais propícias à cultura da batata-doce e mandioca e o milho assumiria um papel secundário por ser cultura de terras mais frescas. Gabriel Soares de Sousa faz uma referência a um outro «milho» quando fala nos «milhos trazidos de África», que se admite ser o milho- americano, dizendo que «Há outra casta de milho que sempre é mole, da qual fazem os portugueses muito bom pão e com ovos, com açúcar do mesmo milho que quebrado e pisado no pilão é bom para se cozer com caldo de carne e de pescado ou galinha». Em certos meios rurais portugueses ainda hoje se come o milho triturado e cozido e por vezes com leite e açúcar. São os chamados «carolos».
Lopes e Pigafetta dizem que encontraram muito milho no Congo «há muito milho branco denominado Maça de Congo isto é grão do Congo e o maíz, que é o mais vil de todos que se dá aos porcos e assim também o arroz é tido por pouco preço» e o maíz designam por Massa Maputo ou seja «grão de Portugal». Esta referência parece demonstrar que a introdução do milho-americano e do arroz na dieta alimentar dos povos desta região não terá sido nem fácil nem rápida.
Valentim Fernandes assinala presença do milho na ilha de São Tomé onde teria chegado em 1502 vindo da América, mas a descrição genérica não permite concluir que seja o milho-maíz.
Papaieira
A papaieira (Carica papaya L.) é uma fruteira de pequeno porte provavelmente originária das regiões andinas de altitudes médias da zona tropical. Conhecem-se mais de três dezenas de espécies deste género, todas ou quase todas originárias da mesma região e algumas com valor alimentar ou medicinal. A espécie indicada é de longe a mais importante.
A planta já estava difundida na América tropical quando chegaram os europeus. Oviedo y Valdez já a encontrou no México em 1515, o que levou alguns autores a admitirem ser esta espécie de origem mexicana.
França é de opinião que a planta terá sido introduzida no Brasil entre 1578 e1586.
Gabriel Soares de Sousa refere-se á papaieira, dizendo que «De Pernambuco veio à Bahia a semente de uma fruta a que chamam mamões, os quais são do tamanho e da feição e cor de grandes peros camoezes e tem muito bom cheiro como são de vez, que se fazem nas árvores, e em casa acabam por amadurecer e como são maduros de fazem moles como melão; e para se comerem cortam-se em talhadas como maçã, e tiram-se-lhes as pevides que são envoltas em tripas com as do melão mas são crespas e pretas»
Há referências à presença da planta nas ilhas de Cabo Verde pelo Padre Barreira em 1606 «e outros frutos trazidos de diversas partes».
A papaieira é talvez a fruteira mais difundida em todo mundo tropical, frutificando todo o ano. Os frutos fazem parte da dieta de quase todos os povos que vivem nos trópicos, recomendados por serem aquosos, de baixo poder calórico e de digestão muito fácil. Pode dizer-se que não há horta ou jardim que não tenha pelo menos uma destas plantas para aprovisionamento da casa.
Purgueira
A purgueira (Jatropha curcas L.) é originária das terras áridas da América Central ou do norte do Brasil. Embora não tenha encontrado referências portuguesas acerca desta planta no período dos Descobrimentos, é muito natural que já fosse utilizada pelos nativos, por causa da sua rusticidade e resistência à secura, e ainda como fornecedora de um óleo que embora seja tóxico, é utilizado na iluminação e no fabrico de sabão.
Uma planta com caraterísticas de rusticidade e resistência á secura, deve ter sido muito cedo introduzida nas ilhas de Cabo Verde para as quais esta planta parecia estar particularmente indicada. Tendo sido política criar rebanhos de cabras nestas ilhas para obtenção de carne fresca para consumo das populações e para abastecimento das armadas que por elas passavam, exportando-se depois as peles dos animais (coirama), a purgueira apareceu como planta ideal para este condicionalismo, já que nem as cabras comiam as plantas a tal ponto, como diz Chelmichi, que chegavam a morrer de fome debaixo das purgueiras e estes animais fertilizavam os purgueirais que eram explorados em regime extensivo.
Os diferentes autores dividem-se quanto à origem da purgueira que chegou a Cabo Verde. Uns defendem que foi trazida do nordeste do Brasil pelos portugueses, outros que terá sido trazida das Antilhas pelos espanhóis, quando eles visitavam estas ilhas no tempo da escravatura.
Feijó fez uma notável exploração botânica nas ilhas de Cabo Verde e nem sequer se refere à purgueira e só Pusich, Intendente da Marinha e em 1810 governador das ilhas, exalta a sua importância na economia Cabo Verdiana. Por isso a planta foi aconselhada, numa possível arborização das ilhas, como apropriada para este condicionalismo. Por isso muitas vezes ao longo dos séculos as autoridades tentaram promover o desenvolvimento da purgueira nas ilhas, mas sem grandes resultados práticos.
Possivelmente destas ilhas a purgueira passou para o Continente, onde facilmente se adaptou e hoje é muito frequente e usada como divisória das propriedades, como medicinal e o óleo das sementes na iluminação e saboaria.
Quineiras
As quineiras são árvores de pequeno porte pertencentes ao género Cinchona L. originárias sobretudo do Peru, conhecidas pelos europeus em anos já adiantados dos seus contactos com os povos americanos. Merecem uma referência neste sumário porque estiveram muito ligadas à permanência do homem branco nas terras tropicais.
Como é conhecido o «paludismo» constituiu e ainda hoje constitui, uma das doenças mais desgastantes dos povos das regiões tropicais. Em muitos locais o paludismo ainda hoje é uma doença endémica. O combate a essa doença foi durante muito tempo feito com o uso do quinino que é extraído destas plantas.
Os povos americanos, conhecedores do efeito curativo das quineiras, encontraram nestas plantas uma defesa natural contra os invasores espanhóis. Não podendo vencê-los pela força das armas, poderiam fazê-lo deixando-os expostos aos ataques da doença.
Conta a história que a Condessa de Chichón, esposa de um Governador do Peru, ficou gravemente doente com um ataque de paludismo. Uma das suas servas que lhe era muito afeiçoada, ter-lhe-á dado a beber às escondidas e sujeitando-se assim aos riscos ao desvendar um segredo do seu povo aos espanhóis, o infuso da casca destas árvores e com isso lhe salvou a vida. Lineu registou o facto, criou em 1742 o género Cinchona L., para reunir espécies que tinham esse efeito curativo em homenagem à Condessa. (Lineu escreveu Cinchona e não Chinchon e assim ficou). Na opinião de outros autores, o remédio teria sido lembrado à família Chichón pelo corregedor D. Juan Lopez Canizares que vivera em Luja (ou Loxa) a 600 milhas a norte da cidade de Lima e que conhecia por experiência própria desde 1630 o efeito curativo do infuso das cascas das quineiras que seriam abundantes na região.
O efeito curativo do infuso da casca teve enorme repercussão na Europa e depois na Ásia, para onde os missionários levaram o «pó-da-condessa» ou «pó-dos-padres», ou «pó-dos-jesuítas» ou «pó-dos-pobres» e outros nomes, tendo feito um sucesso como curativo.
Com o tempo, a fixação de maior número de colonos nas regiões tropicais implicou garantir-se o abastecimento do remédio contra o paludismo.
Como os povoamentos naturais se foram esgotando e os diferentes países europeus com interesses nas regiões tropicais quiseram garantir o aprovisionamento do remédio, vários deles tentaram lançar a cultura nos seus territórios ou colónias.
Durante o século XVIII realizaram-se várias missões de europeus às zonas onde existiam estas plantas no estado silvestre, procurando obter material para a propagação nas suas terras e fazer o estudo dos constituintes da casca. Foram feitas introduções de várias espécies de quineiras, sobretudo no sueste asiático que nos dispensamos de relatar aqui, condensando a nossa atenção no trabalho realizado pelos portugueses, introduzindo estas plantas nas suas colónias africanas e se bem que já muito tarde, relativamente ao período dos Descobrimentos.
Só em 1864 o assunto foi abordado em Portugal por sugestão de Welwitsch e deve-se a Bernardino António Gomes o desenvolvimento da ideia assumida fundamentalmente pelo Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, que mandou vir de Java cerca de 30000 sementes de várias espécies que foram distribuídas pelos vários territórios tropicais, mas soube-se mais tarde, de acordo com a composição da casca, que a espécie que tinha sido introduzida (Cinchona calisaya Wedd.) não era a mais indicada.
Em 1867 Bernardino Gomes ofereceu ao Jardim Botânico da Universidade de Coimbra a Cinchona pubescens Vahl, que se mostrou muito mais interessante quanto aos teores de princípio ativo nas cascas e por diversas vias conseguiram-se sementes de várias outras espécies.
A introdução das quineiras começou a fazer-se pelas ilhas de Cabo Verde por volta de 1869, estendendo-se nos anos seguintes a «diversas possessões africanas», à ilha da Madeira a São Tomé, esta mal sucedida e novamente nesta ilha em 1871, à custa de plantas expedidas pelo Jardim no mês de março em «seis estufazinhas com 120 plantas de C. succirubra (C. pubescens Vahl)» e o Governo mandou cartas aos governadores recomendando-lhes o interesse pela cultura das quineiras. Em 1871 o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra expediu por intermédio de Bernardino Gomes mais «duas estufazinhas» com 40 plantas de C. pubescens e 120 plantas da mesma espécie para a ilha de São Tomé. Em Cabo Verde as plantas foram ensaiadas em diferentes locais da ilha de Santo Antão, mas não foram devidamente acompanhadas de tal forma que uma inspeção revelou que «um grande número de plantações está feito em método, as árvores a distâncias muito próximas e além disso definhadas por outras culturas». Quanto à antiguidade das plantas, refere a inspeção que as plantações foram feitas com certa regularidade entre 1882 e 1885, informando que no Pico da Antónia na ilha de Santiago já havia em 1869 plantas que tinham sido enviadas pelo Jardim Botânico da Universidade de Coimbra.
O valor medicinal das diferentes espécies de quineiras introduzidas foi avaliado em 1878 por Júlio Henriques e foram apresentados dados analíticos complementares da riqueza em quinino das diferentes espécies. Na ilha de São Tomé, por se considerar haver aqui melhores condições ecológicas para as quineiras, forem feitas várias introduções ao longo dos anos, algumas em terras de baixa altitude (Água Palito), a maioria nas zonas altas da ilha (São Nicolau e Nova Moka) e nas dependências de maior altitude das Roças Monta Café (Chamiço) e Rio do Ouro (Poiso Alto).
Foi na ilha de São Tomé que a cultura das quineiras adquiriu maior interesse nas zonas de altitude acima da zona ecológica do cacaueiro. Nicolau José da Costa «foi o primeiro que plantou quinas» e Jacinto de Sousa Ribeiro, médico na ilha, fez uma pormenorizada descrição da forma como as plantações se desenvolveram. Em 1878, Joaquim Dias Quintas, contactou o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra interessado na cultura das quineiras em São Tomé em substituição do cafeeiro-arábica que então atravessava grandes dificuldades, sobretudo pela falta de pessoal para fazer as colheitas.
Cacaueiro
O cacaueiro (Theobroma cacao L.), é originário dos vales dos cursos dos rios Orinoco e amazonas, difundido por toda a América tropical até ao sul do México, constituindo uma das plantas mais valiosas americanas. As sementes circulavam como moeda, armazenavam-se como prova de riqueza e eram consumidas nas casas ricas que só essas teriam poder de compra para tal produto. Os espanhóis conheceram as sementes e foi-lhes servido pelo imperador Montezuma em cálices de ouro uma pasta preparada à base de cacau que eles depois transformaram numa deliciosa bebida para o gosto europeu, retirando-lhe alguns dos seus componentes e acrescentado o açúcar entretanto produzido a partir da cana-sacarina recentemente nas terras americanas. O «chocolate» teve enorme procura na Europa e isso deu origem ao desenvolvimento de novas plantações nas terras americanas, que durante muito tempo foram suficientes para satisfazer a procura. Coloca-se de lado uma possível introdução espanhola da planta nas terras do Oriente onde parece não ter recebido sucesso.
A introdução do cacaueiro nas terras africanas só se deu nos princípios do século XIX a partir da lha de São Tomé.
Nesse tempo os contactos entre a ilha de São Tomé e o Brasil eram muito estreitos por causa sobretudo do comércio dos escravos. João Baptista da Silva, Capitão-mor da ilha de São Tomé, trouxe para a ilha a partir do Brasil as primeiras plantas de cacaueiro que foram aceites como planta ornamental, dada a estranheza de frutificar ao longo do tronco e dos ramos mais grossos e a atividade da ilha estar em pleno sucesso com a cultura do cafeeiros-arábica. Só mais tarde, sobretudo por causa das altas cotações atingidas pelo cacau na Europa, se iniciou a cultura do cacaueiro na ilha que de rapidamente substituiu o cafeeiro na atividade agrícola e a partir dos fins do século XIX passou a ser acultura mais importante.
Sem ser normalmente contestada a prioridade da ilha na introdução do cacaueiro em África, durante muito tempo admitiu-se que a planta fora trazida do Brasil em 1822 por José Ferreira Gomes e plantada com ornamental nas suas terras de Cima-Ló na Ilha do Príncipe, Desta ilha teria passado para a de São Tomé por intermédio de um agricultor santomense, afilhado do primeiro. João Maria de Sousa e Almeida, Barão de Água Izé.
Um manuscrito de Silva Lagos, enquanto Capitão-mor da ilha, guardado no Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa, esclarece, em carta datada de 30 de Novembro de 1821 dirigida ao rei D. João VI, que, em cumprimento de aviso régio de 30 de Outubro de 1819, Silva Lagos «levou da Bahia caixotes de pequenas árvores do cacau, para estas ilhas, que fiz plantar para distribuir pelos lavradores, Passei pessoalmente a reconhecer o terreno assinalando o para a plantação das árvores do cacau»
Ficando esclarecida a prioridade da introdução do cacaueiro nas ilhas por João Baptista da Silva Lagos, não fica invalidada a hipótese de José Ferreira Gomes o ter introduzido na ilha do Príncipe em 1822, ficando por esclarecer, no caso de ser verdadeiro, se trazido da ilha de São Tomé ou se constituiria uma segunda introdução a partir diretamente do Brasil, território com o qual Ferreira Gomes tinha frequentes contactos pela sua atividade comercial.
Plantas de origem americana introduzidas em África
Contam-se por dezenas as plantas de origem americana introduzidas em África ao longo dos tempos como tabaco, pimenteiros, tomates, feijões e as mais variadas fruteiras. Muitas dela terão sido introduzidas com carácter experimental de que não se conhecem registos e outras simplesmente pelo seu exotismo e beleza.
Merece uma referência especial a introdução de «árvores de sombra», sobretudo para a cultura do cafeeiro e do cacaueiro que continuou até aos nossos tempos e que se intensificou sobretudo depois das célebres «derrubadas» que se verificaram nos princípios do século XX.
O comportamento dos administradores da ilha, em que cada um dos mais importantes desejava possuir qualquer planta que os outros ainda não tinham, deu motivo a um movimento, por vezes quase doentio, de juntar em pequenos jardins anexos às suas residências, as plantas mais variadas, não apenas as americanas mas quaisquer que representassem novidade para a ilha e disso faziam grande gala. Para alguns administradores das Roças ou das Empresas agrícolas da ilha, o melhor presente que os seus visitantes poderiam levar, era um conjunto de sementes de plantas diferentes das já existentes na ilha.
Bibliografia consultada
Almada, A.A. de (1964) - Tratado breve dos rios da Guiné e Cabo Verde. In: Monumenta Missionária Africana: Africa Occidental. Coligida e anotada pelo padre António Brásio. Series 2, vol. 3, p. 229-378. Lisboa, Agência Geral do Ultramar. [ Links ]
Anchieta, M.C. (1933) - Cartas. Informações. Fragmentos históricos e Sermões. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 567 p. [ Links ]
Álvares Pe F. (1989) - Verdadeira informação sobre a terra do Preste João das Índias. Lisboa, Europa América. [ Links ]
Anónimo (1989) - Navegação de Lisboa à Ilha de São Tomé, escrita por um piloto português. Tradução e notas de Rui Loureiro. Lisboa, Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Ministério da Educação, 41 p. [ Links ]
Ayensu, E.S. e Coursey, D.G. (1972) - Guinea yams. The botany, ethnobotany use and possible future of yams in West Africa. Economic Botany, 26, 4: 301-318. [ Links ]
Barreira, Baltazar Pe. (1958) - Carta ao Conde Meirinho-mor (13/5/1605). In: Monumenta missionaria africana: Africa ocidental. Edição coligida e anotada pelo padre António Brásio. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 4, p. 67-69. [ Links ]
Bois, D. (1927) - Les plantes alimentaires chez tous les peupleset à travers des ages. Paris, Paul Lechevalier. [ Links ]
Bonafous, M, (1836) - Histoire naturelle agricole et économique du maïs. Paris, Huzard, 131 p. [ Links ]
Braga, R. (1960) - Plantas do nordeste especialmente do Ceará. 2.ª ed. Fortaleza, Brasil, Centro de Divulgação Universitária. [ Links ]
Brigier, F.C. (1944) - Estudos experimentais sobre a origem do milho. Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,1:225-278. [ Links ]
Bruman, H.J. (1944) - Some observations on the early history of the coconut in the New World. Acta Americana, 2, 2: 220-243. [ Links ]
Cadillat, R.M. (1983) - Productión y corrientes de intercambio. In: Anais XIII Congresso NORCOFEL. Islhas Canárias, España, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. [ Links ]
Calzavarra, B.B.C. (1987) - Fruticultura tropical. A fruta-pão. (Artocarpus altilis (Park.) Fosberg. Belém, PA, Embrapa-CPATU, 24 p. (Embrapa-CPATU. Documentos, 41). [ Links ]
Caminha, P.Vaz de (1989) - Carta de Pêro Vaz de Caminha ao rei D. Manuel. In: Albuquerque, L de - O Reconhecimento do Brasil. Lisboa, Publicações Alfa, p. 7-34. [ Links ]
Cardim, F. (1939) - Tratado da terra e gente do Brasil. Rio de Janeiro, Companhia Editora Nacional. [ Links ]
Castro, Dinis de (1867) - Guia do agricultor da ilha de S. Tomé, accomodado ao Continente da África ocidental e oriental. Lisboa, Imprensa de Joaquim Germano de Souza Neves, 80 p. [ Links ]
Oliveros de Castro, M.T. e Pozas, J.J. (1968) - La agricultura de los reinos españoles en tiempo de los Reyes Católicos. Madrid, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, 299 p. [ Links ]
Chelemicki, J.C.C. e Varnagen, F.A. de (1841) - Chorographia Cabo-Verdiana ou descrição geográfico-histórica da província das ilhas de Cabo Verde e Guiné. Lisboa, Tipografia de L.C. da Cunha. [ Links ]
Clúsio, Carlos (1964) - Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud indos nascentium historia. Versão portuguesa do epítome latino de Garcia de Orta. Edição comemorativa do quarto centenário da publicação dos Colóquios dos Simples. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 276 p. [ Links ]
Collins, J.L. (1960) - The pineapple: botany, cultivation and utilization. London, Leonard Hill Ld., 294 p. [ Links ]
Conde de Ficalho (1947) - Plantas úteis da África portuguesa. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 301 p. [ Links ]
Cook, O.F. (1901) -The Origin and distribution of the cocoa palm. Contributions from the U.S. National Herbarium, 7: 257-293. [ Links ]
Corrêa, M.P. (1926-1978) - Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. 6 vol. [ Links ]
Cortesão, A. e Mota, A.T. (1960) - Portugaliae monumenta cartographica. Lisboa, Comissão Executiva do v Centenário da morte do Infante D. Henrique, 31 p. [ Links ]
Costa, A.F. (1944) - O problema das quinas. Lisboa, Cosmos, 140 p. [ Links ]
Coursey D.G. (1967) - Yams: An account of the nature, origins, cultivation and utilisation of the useful members of the Dioscoreaceae. London, , Longmans, Green and Co. Ltd., 230 p. [ Links ]
Dias, J. e Galhano, F. (1963) - Origem e difusão do milho (Zea mayz). In: Dias, J.; Oliveira, E.V. e Galhano, F. (Ed.) - Espigueiros portugueses. Lisboa, Dom Quixote, p. 242-253. [ Links ]
Donelha, A. (1977) - Descrição da Serra Leoa e dos rios de Guiné do Cabo Verde. Lisboa, Junta de Investigações Científicas do Ultramar, 471 p. [ Links ]
Dubard. M. (1906) - Une étude sur l´origine de l´arachide. Bulletin Du Muséum National dHistoire Naturelle, 5:304.Du Tertre, J-B. (1667- 1671) - Histoire générale des Antilles habitées par les François. Paris, Thomas Jolly. [ Links ]
FAO [Food and Agriculture Organization of the United Nations] (1990) - Roots, tubers, plantains and bananas in human nutrition. Rome, FAO, 182 p. [ Links ]
Feijó, João da Silva (1815) - Ensaio económico sobre as ilhas de Cabo Verde em 1797. Memórias Económicas. Lisboa, Academia Real das Ciências de Lisboa, vol. 5, p. 172-193. [ Links ]
Fernandes, V. (1951) - Description de la Côte Occidentale dAfrique (Sénégal au Cap de Monte, Archipels). Bissau, Centro de Estudos da Guiné Portuguesa. [ Links ]
Ferrão, J.E.M. (1957/1959) - Valor alimentar da Voandzea subterrânea Thouars. Agronomia Angolana, 11:3-24. [ Links ]
Ferrão, J.E.M. (1960) - Acerca da data da introdução do Coffea arábica L. em S. Tomé. Agros,43, 5: 325-332. [ Links ]
Ferrão, J.E.M. (1961) - Note sur la valeur alimentaire du vielo ou pois bambara (Voandzeia subterranea. Thouars). Oléagineux, 16, 3: 173-174. [ Links ]
Ferrão, J.E.M. (1980) - A influência portuguesa na difusão de plantas do mundo. 2ª ed. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia. [ Links ]
Ferrão, J.E.M. (1986) - Transplantação de plantas de continentes para continentes no século XVI. História e Desenvolvimento da Ciência em Portugal, Academia das Ciências de Lisboa, vol. II, p.1129-1139. [ Links ]
Ferrão, J.E.M. (1991) - O cacaueiro em S. Tomé e Príncipe. Revista de Ciências Agrárias, 14, 1:85-96. [ Links ]
Ferrão, J.E.M. (1999-2002) - Fruticultura tropical: Espécies com frutos comestíveis. Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 3 vol. [ Links ]
Ferrão; J.E.M. (2005) - A aventura das plantas e os descobrimentos portugueses. 3.ª ed. Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses & Fundação Berardo, , 287 p. [ Links ]
Ferrão, J.E.M. (2008) - O cacau em S. Tomé e Príncipe. In: S. Tomé: ponto de partida. Lisboa, Instituto Marquês de Valle Flôr, Chaves Ferreira Publicações, p. 47-131. [ Links ]
França, C. (1926) - Os portugueses no século XVI e a história natural do Brasil. Rev. Hist., 15, 57-60: 35-166. [ Links ]
Freitas, A.S.I.B. (1906) - A purgueira. Lisboa, A Editora, 118 p. [ Links ]
Frutuoso, G. (1966) - Saudades da terra. Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 6 vol. [ Links ]
Gândavo, P.M. (1826) - Tratado da terra do Brasil. Lisboa. [ Links ]
Gândavo, P.M (1965) - Tratado da província do Brasil. Brasília, Instituto Nacional do Livro. [ Links ]
Gândavo, P.M. (1989) - Historia da Província de Santa Cruza quem vulgarmente chamamos Brasil. In: Albuquerque, L. (Ed.) - O reconhecimento do Brasil. Publicações Alfa, p.67-130. [ Links ]
Gay, J.P. (1984) - Fabuleux maïs: Histoire et avenir dune plante. Pau, France, Éditions A.G.P.M. (Association Générale des Producteurs de Maïs), 295 p. [ Links ]
Godinho, V.M. (1956) - Documentos sobre a expansão portuguesa. vol. 3. Lisboa, Ed. Cosmos. [ Links ]
Goes, D. (1909) - Chronica dEl- Rei D. Manuel. Lisboa, Escriptorio. [ Links ]
Gomes, B.A. (1809) - As árvores da Quina em Cabo Verde e na Madeira. Jornal de Horticultura Pratica, 6:142-143. [ Links ]
Gomes, B.A. (1972) - Plantas medicinais do Brasil. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 28 p.. (Brasiliensis Documenta, V). [ Links ]
Gossweiler, J. (1953) - Nomes indígenas de plantas de Angola. Luanda. Imprensa Nacional de Angola, 587 p. [ Links ]
Gossweiler, J. (1950) - Flora exótica de Angola: nomes vulgares e origem das plantas cultivadas ou sub-espontâneas. Luanda, Imprensa Nacional, 220 p. [ Links ]
Gourou, P. (1966) - Les pays tropicaux: principes dune géographie humaine et économique. Paris, Presses Universitaires de France, 271p. [ Links ]
Guerreiro, M.V. (1987) - A cultura da batata, sua introdução na Europa: o caso de Portugal. Sep. Memórias da Academia das Ciências de Lisboa, t. XXVI, p. 7-24. [ Links ]
Harries, H.C. (1977) - The Cape Verte region (1499 to 1549); the key to coconut culture in the Western hemisphere? Turrialba 27, 3: 227-231. [ Links ]
Harries, H.H. (1980) - The natural history of the coconut. Jamaica Journal, 44: 60-66. [ Links ]
Henriques, J.A. (1878) - A cultura das quinas na Africa portugueza. Jornal de Horticultura Pratica, 9: 45-47. [ Links ]
Henriques, J.A. (1876) - A cultura das plantas que dão a quina nas possessões portuguezas. O Instituto, 22: 184-190. [ Links ]
Henriques, I.C. (1989) - Os portugueses e a reconstrução do mundo das plantas: O exemplo africano nos séculos XV e XVI. In: Actas do Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a Sua Época. vol.3. Porto, Universidade do Porto, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses , p. 363-386. [ Links ]
Henriques, I.C. e Margarido, A. (1989) - Plantas e conhecimento do mundo nos séculos XV e XVI. Lisboa, Publicações Alfa, 148 p. [ Links ]
Hill, A.W. (1929) - The original home and mode of dispersal of the coconut. Nature,124, 3127: 507-508. [ Links ]
Lapa, J.R.A. (1966) - O Brasil e as drogas do Oriente. Studia, 18:7-40. [ Links ]
Laufer, B.T. (1929) - The american plant migrations. Scientific Monthly, 28: 239-251. [ Links ]
Leite, S. (1965) - Suma Histórica da Companhia de Jesus no Brasil (Assistência de Portugal): 1549-1760. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 249 p. [ Links ]
Lisboa, Frei C. de (2000) - História dos animais e plantas do Maranhão. Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses / Instituto de Investigação Científica Tropical, 487 p. [ Links ]
Lopes, D. e Pigafetta, F. (2000) - Relação do reino do Congo e das terras circunvizinhas. Benavente, Câmara Municipal. [ Links ]
Loureiro, P. (1789) - Da transplantação das arvores mais uteis de paizes remotos. In: Memorias Economicas da AcademiaReal das Sciencias de Lisboa, para o Adiantamento da Agricultura, das Artes, e da Indústria em Portugal, e suas Conquistas (1789-1815), vol. 1, p.152-163. [ Links ]
Macedo, D.R. de (1817) - Observação sobre a transplantação dos frutos da Índia ao Brasil. In: Macedo, D.R. de (Ed.) - Obras inéditas. Lisboa, Impressão Régia, p. 103-144. [ Links ]
Machado, J.P. e Campos, V. (1969) - Vasco da Gama e sua viagem de descobrimento. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 271 p. [ Links ]
Marcgrave, J. (1891) - História natural do Brasil. S. Paulo. [ Links ]
Marques, A.H.O. (1961) - Gaspar Frutuoso e a colonização de Cabo Verde. Garcia de Orta, 9, 1: 27-29. [ Links ]
Mauny, R. (1953) - Notes historiques autour des principales plantes cultivées d´Afrique occidentale. Bulletin de lInstitut Français dAfrique Noire, 15, 2: 648-730. [ Links ]
Montecúccollo, J.A.C. (1965) - Descrição histórica dos três reinos Congo, Matamba e Angola.. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 2 vol. [ Links ]
Nóbrega, M. da (1886) - Cartas jesuíticas. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. [ Links ]
Peckolt, T. (1871) - História das plantas alimentares e de gozo do Brasil. Rio de Janeiro, Laemmert & Cia. [ Links ]
Rocha Pita, S. da R. (1730) - História da América portuguesa desde o ano de mil e quinhentos do seu descobrimento até o de mil setecentos e vinte e quatro. Lisboa, Francisco Arthur da Silva. [ Links ]
Purseglove, J.W. (1968) - The origin and distribution of the coconut. Tropical Science 10, 4: 191-199. [ Links ]
Purseglove, J.W. (1969) - Tropical crops. London, Longmans, Green, 2 vol. [ Links ]
Santos, H.L. da C. (1929) - Importância cultural do café nas ilhas de Cabo Verde. Boletim da Agência Geral das Colónias, 5, 51:50-66. [ Links ]
Santos, Frei J. dos (1989) - Etiópia oriental. Lisboa, Publicações Alfa, 2 vol. [ Links ]
Sawageot, S. (1961) - Navigation de Lisbonne à île de S. Tomé par un pilot portugais anonyme (vers 1545). Garcia de Orta 9, 1: 123-138. [ Links ]
Silva, J.L. da (1998) - O Zea mays e a expansão portuguesa. Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 212 p. [ Links ]
Sousa, G.S. (1989) - Notícia do Brasil. Lisboa, Publicações Alfa, 258 p. [ Links ]
Thadim, M.J.S. (1764) - Diário bracarense, das epocas, fastos e annaes mais remarcaveis esucessos dignos que mençam que succederam em Braga, Lisboa e mais partes de Portugal e cortes da Europa. Braga. [ Links ]
Um piloto português (1989) - Navegação do capitão Pedro Álvares Cabral escrita por um piloto português. In: Albuquerque, L. de - O Reconhecimento do Brasil. Lisboa, Publicações Alfa, p. 35-66. [ Links ]
Vandelli, D. (1789) - Memoria sobre a agricultura deste Reino, e das suas conquistas. In: Memórias Económicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes, e da industria em Portugal, e suas conquistas. Lisboa, Academia Real das Sciencias de Lisboa, vol. 1, p. 164-175 [ Links ]
Vandelli, D. (1789) - Memoria sobre algumas produções naturaes das Conquistas, as quaes ou são pouco conhecidas, ou não se aproveitam. In: Memórias Económicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes, e da industria em Portugal, e suas conquistas. Lisboa, Academia Real das Sciencias de Lisboa, vol. 1, p.187-206. [ Links ]
Vargas, D.X. (1958) - Carta de Diogo Ximenes F. Vargas a D. Francisco de Bragança. In: Monumenta missionaria africana: Africa ocidental. Edição coligida e anotada pelo padre António Brásio. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 4, p. 628-630. [ Links ]
Vidal, J.P. (1988) - Palabras de la exposición fotográfica itinerante sobre la difusión de las plantas tropicales y los descubrimientos portugueses. Bogotá, s.n. [ Links ]
Yen, D.E. (1983) - La patate douce dans sa proprestion historique. In: Villareal, R.L. e Griggs, T.D. (Ed.) - La patate douce: actes du premier symposium international. Paris; Tainan, Taiwan , Agence de Coopération Culturelle et Technique; Asian Vegetable Research and Development Center, 483 p. [ Links ]
Zurara G.E. (1989) - Crónica dos Feitos da Guiné. Lisboa, Publicações Alfa, 229 p. (Biblioteca da Expansão Portuguesa, vol. 15). [ Links ]
Recebido/Received: 2012.10.01
Aceitação/Accepted: 2012.10.04
Notas
*Oral Communication presented at the award reception Scientific Award Ethnobotany 2012 attributed by Friends of the University for Peace Foundation, Costa Rica, September 2012