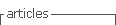Introdução
“For Books are not absolutely dead things, but doe contain a potencie of Life in them to be as active as that Soule was whose progeny they are ; nay, they do preserve as in a violl the purest efficacie and extraction of that living intellect that bred them”, John Milton, 16441.
Ao longo da Idade Média e até ao século XVI, o equilíbrio geopolítico europeu dependeu de dois poderes: o papado e o Sacro Império Romano-Germânico. De um ponto de vista eurocêntrico, com a exploração de mares “nunca dantes navegados” a liberdade de navegação foi, durante séculos, um assunto de difícil consenso. Desde a Antiguidade Clássica que o comércio entre a Ásia e o continente europeu fazia pulsar o Mediterrâneo, a única via pela qual os produtos e bens que chegavam ao Levante se difundiam pelas costas mediterrânicas. A gradual dependência deste comércio tornou este mar o primeiro alvo de várias disputas e reivindicações. O mare nostrum romano impôs uma hegemonia, apesar das disputas e confrontos ao longo de séculos. Já no período tardo-medieval, Veneza e Génova protagonizaram contendas jurídicas pelos mares Adriático e Ligure, e os reinos escandinavos sobre os estreitos e passagens entre o mar do Norte e o Báltico (García Arias, 1946, pp. 34-35)2. No século XVI, Portugal e Espanha, por via da expansão marítima e de todo um novo manancial de oportunidades económicas, religiosas e políticas que daí provinham, assumiram um direito de propriedade, procurando encerrar as rotas marítimas da Ásia, da África e da América a potenciais concorrentes.
Neste pano de fundo, a contestação à exclusividade ou livre-trânsito marítimo, reemergiu e radicalizou-se. Na primeira metade do século XVII, foram publicados vários textos como expressão do confronto ideológico corporizado em teorias jurídicas que marcaram as relações europeias projetadas na globalização comercial.
O ponto de partida foi Mare Liberum, de Hugo Grotius. Sem lhe retirar a prerrogativa da defesa da liberdade de circulação marítima, facto que, e como recomendou Peter Borschberg (2006, 2011), deve ser matizado, sabe-se que as conceções filosófico-jurídicas deste texto, e das múltiplas reações que desencadeou, tinham razão num esteio mais prosaico que a mera propugnação da liberdade, ou sua constrição, no usufruto de um bem comum. Articulando-se os diferentes discursos, descortina-se uma teia de construções jurídico-ideológicas que defendiam os interesses geoestratégicos de cada nação europeia e, por isso, estas publicações devem ser tidas em conta como instrumentos de comunicação política numa Europa em mutação imperial, na qual o comércio continental e transoceânico assumia uma importância cada vez maior.
Não fazendo parte do objetivo deste texto uma análise dos argumentos de cada autor em função do seu posicionamento, ocupa-nos sim, alargar a visão para o contexto macro de produção e impressão destas obras integrando esta “guerra dos livros” num contexto de comunicação política por via do livro impresso, com destaque para os casos português, holandês e inglês. Assim, procurou-se incorporar estes textos numa abordagem panorâmica das consequências e implicações das disputas que moldavam o tempo histórico europeu do início do século XVII: nas transformações operadas a partir da expansão marítima portuguesa e as consequências no comércio intercontinental da Europa com a Ásia; no papel da religião numa Europa que vivia uma conflitualidade com origem numa rutura no seio da respublica christiana, com reflexos na emergência de novas potências europeias; e no impacto da fusão das monarquias ibéricas sob a coroa filipina no contexto da expansão holandesa para os espaços comerciais ultramarinos monopolizados por Portugal.
A monarquia dual ibérica e a ofensiva holandesa na Ásia
No início do século XVII há três evidências em termos de relações europeias: a decadência do império espanhol enquanto potência continental; a crescente interdependência entre os conflitos europeus e ultramarinos; e a emergência como potências da Inglaterra, da França e das Províncias Unidas.
Com D. João III, Portugal apostou na vigilância contra Espanha, no combate implacável contra a intromissão de terceiros, no desinteresse das praças não-costeiras de Marrocos, na importância do Brasil, no desenvolvimento da frota marítima e na política externa com objetivos económicos (Thomaz, 1998, p. 167). O palco asiático, e sobretudo indiano, continuou a ser o grande magnete simbólico da nobreza guerreira. Progressivamente, a gestão das relações internacionais portuguesas foi-se preocupando cada vez mais com objetivos económicos do que políticos. Por outro lado, com o aumento da pressão de Inglaterra e da Holanda, Portugal foi empurrado para uma cooperação com Espanha, face à ameaça aos seus interesses. Da garantia dos equilíbrios políticos peninsulares dependiam os interesses económicos ultramarinos. Num certo sentido, no quadro ibérico, a perspetiva do equilíbrio prevaleceu perante a incerteza do cerco espanhol.
Independentemente das razões que estiveram na origem da retoma da política militar em Marrocos, o desfecho de Alcácer-Quibir em 1578 veio fracassar todos os esforços de equilíbrio e a posição portuguesa ficou fragilizada. O assédio espanhol, latente, ficou desta forma potenciado e, em conjunto com tendências políticas, razões de ordem económico-financeira e interesses sociais da burguesia, da nobreza e do alto clero, em 1580, consumou-se a união ibérica na monarquia dual de Filipe II, legitimada dinasticamente e reforçada pela força dos seus exércitos. No ano seguinte, Filipe II de Espanha, agora I de Portugal, foi aclamado rei nas Cortes de Tomar, onde ficou estabelecida uma série de garantias quanto à liberdade e autonomia de Portugal, não asfixiando nem subalternizando o reino português (Schaub, 2001, pp. 21-28).
Também em 1581, fruto da unificação de várias províncias numa república representativa, as Províncias Unidas declararam-se unilateralmente independentes do jugo espanhol. Essencialmente urbana, a Holanda era uma sociedade singular em termos europeus. O peso político, económico e social dos grupos mercantis estava na base do sistema de governo, ocupando os lugares do órgão representativo que exercia o poder, os Estados Gerais. A simbiose político-económica favoreceu o espírito de independência, a tolerância social e religiosa, o crescimento económico. A Holanda era um espaço aberto, de imigração, em expansão. No final de Quinhentos a população era semelhante à portuguesa, com cerca de 1,5 milhões de habitantes, detinha mecanismos comerciais bastante mais sofisticados que os portugueses, e o controlo do comércio entre Lisboa e a Europa passou progressivamente para as suas mãos, interessando-se pelo acesso direto às fontes de especiarias, de açúcar e de escravos.
No final do século XVI, a Europa tinha já alcançado uma grande projeção no exterior do plano continental. Há muito que se haviam estabelecido contactos geográficos por quase todo o globo. A transição de século marca também uma mudança de sentido na expansão europeia: ao comércio com a Ásia, entra a forte concorrência da colonização, ocupação e implantação no “novo-mundo” americano. Em termos ibéricos, e com o domínio filipino, ocorreu a atlantização do império e a perda de importância económica do Índico, constituiu-se um aparelho político-administrativo mais eficaz e mais centralizado. Na progressão do século XVII, despontou um choque entre interesses portugueses e espanhóis que conduziu à rutura entre os dois reinos e facilitou o assalto ultramarino pelos inimigos de Espanha. Portugueses, espanhóis, ingleses e holandeses vão disputar supremacias e as rivalidades cresceram e retroprojetaram-se, alimentando os conflitos já existentes ou latentes no continente europeu.
Em 1598, os holandeses atacaram colónias portuguesas e a partir deste ano a ofensiva foi sistemática e global, desenrolando-se na Ásia, em África e na América do Sul, e só terminará em 1669 (Boxer, 1969, pp. 129-144). A partir de 1603, os avanços dos holandeses na Ásia são muito rápidos. Em 1605 capturam o forte de Amboíno, nas ilhas Molucas. Não conseguiram submeter Macau e Timor, nem a ilha de Moçambique, mas ocuparam a grande maioria das posições portuguesas no Índico oriental, no tráfico com o extremo oriente3, expulsam os portugueses do Japão em 1615 e quatro anos depois tomam Jacarta que rebatizam de Batavia (Thomaz, 1998, pp. 537-565). Apesar dos esforços portugueses no fomento do comércio privado, com o assalto holandês “foi o comércio português que desapareceu inteiramente para finais do primeiro terço do século XVII” (Godinho, 1971, vol. 3, p. 164). Na América do Sul, atacaram Baía em 1624-25, voltando-se depois para Pernambuco, centro produtor de açúcar. Após dominar esta cidade, iniciaram a campanha para tomarem os postos costeiros portugueses em África, de modo a controlarem a fonte do tráfico de escravos para os engenhos de açúcar no Brasil, essencial para o seu sucesso. Em 1637, conquistaram São Jorge da Mina. Os holandeses têm claramente uma superioridade naval, uma técnica militar superior, uma estratégia mais apurada, mais recursos humanos e um orçamento mais alargado e agilizado. No entanto, vão perder o desafio da implantação nos territórios ultramarinos portugueses4. As entidades políticas autóctones “preferiam negociar com os portugueses do que com quaisquer outros europeus” (Boxer, 1969, p. 145), até porque estes territórios haviam conservado as ligações prévias com a metrópole, anteriores a 1580 e à monarquia dual e, por isso, nunca houve um império ibérico unificado.
Quando Portugal negoceia a paz, em 1641, a expansão holandesa atingiu a sua máxima expressão. Malaca cai nesse ano, e os holandeses impõem um cerco a Angola. Perderam-se territórios, sobretudo no espaço do Índico e do extremo oriente, mas também em África. No entanto, manteve-se o Brasil fruto de uma guerra de reconquista com base em recursos locais e com algum apoio da coroa portuguesa. As guerras com os holandeses mostraram o quão frágil era a construção do império português, principalmente no espaço asiático (Subrahmanyam, 1995), provocando a “desintegração do poder marítimo português e a substituição dos fidalgos de Lisboa e de Goa pelos burgueses de Amesterdão” (Thomaz, 1998, p. 569).
O Índico constituiu espaço de encontro e conflito entre as potências europeias e as soberanias locais e quanto mais estes contactos se foram intensificando, mais afetaram as práticas de cada interveniente, numa intrincada teia de confrontos e acordos, de diplomacia e tratados.
Hugo Grotius e a liberdade dos mares
A 25 de fevereiro de 1603, a este de Singapura, na embocadura do rio Johor (extremo sudeste da península malaia), ocorreu a captura da carraca Santa Catarina, capitaneada por Sebastião Serrão, em viagem de Macau para Goa, capital do vice-reinado português no oriente, pelo almirante holandês Jakob van Heemsckerk. A nau transportava um opulento carregamento e o leilão desta presa, constituído por vários artigos preciosos como porcelanas, sedas, especiarias, entre outros, terá rendido uma astronómica soma superior a três milhões e meio de florins, o que equivalia a pouco menos que o rendimento anual do tesouro britânico (David Armitage em Grotius, 2004, p. xii).
O apresamento da nau Santa Catarina teria sido apenas mais um episódio da guerra luso-neerlandesa, se não tivesse tido como consequência a origem de um outro afamado confronto, a “guerra dos livros”, protagonizado não por soldados, mas antes pela via da pena jurídica.
Para além de motivar uma extensa troca de correspondência entre as autoridades holandesas, o bispo de Malaca, o vice-rei do Estado da Índia D. Martim Afonso de Castro, o rei Filipe II, o governador de Malaca, Fernão de Albuquerque, entre outros, o apresamento da Santa Catarina criou um problema de consciência aos acionistas da Companhia Unida das Índias Orientais, mais conhecida pelo acrónimo VOC5. Além dos entraves relacionados com a confissão religiosa, que no caso dos anabatistas desprezava qualquer tipo de violência, surgiram também dúvidas quanto à justiça de um ato realizado contra uma nação com a qual mantinham uma forte e proveitosa relação comercial, não abrangida pelo édito de 2 de abril de 1599 que apenas previa a captura de embarcações espanholas. Alguns terão ameaçado vender as suas ações, abandonar o território e emigrar com os seus capitais para França, que se encontrava de boas relações com o monarca ibérico. Perante este dilema, o caso foi colocado em contencioso para se justificar o apresamento pela VOC como um caso de guerra justa. Derivado do Direito Romano, o conceito determinava o direito de conduzir guerra como um ato de defesa ou como forma de compensação a uma agressão injustificada, mas não poderia fundamentar atos de pilhagem (Pagden, 1995, pp. 95-ss). A sentença definitiva foi favorável à companhia, e a captura do navio e dos seus bens assumida “por justo título [...] visto terem pertencido a portugueses, súbditos do Rei de Espanha, inimigos das Províncias Unidas e hostis ao comércio por elas exercido e que aquele Rei procura impedir por todos os modos nas Índias Ocidentais e Orientais” (Cit. Caetano em Freitas, 1959, p. 24).
Para a sustentação da sentença do almirantado, contribuiu o jovem jurisconsulto Hugo Grotius (Huig de Groot, 1583-1645)6, que advogou a favor dos interesses holandeses. Por volta de setembro de 1604, o humanista holandês foi incumbido da elaboração de um estudo que consubstanciasse a sentença proferida, uma “justificação oficial” para o incidente que removesse todas as dúvidas, enquadrada numa arquitetura jurídica, na qual, a partir de então, os holandeses pudessem alicerçar as suas pretensões (Borschberg, 2011, pp. 42-ss).
Terminada em 1609, De Iure Praedae Commentarius7 (ou De rebus Indicis)8 cruzou princípios morais e jurídicos, onde Grotius capitalizou os desenvolvimentos efetuados pelo Direito espanhol do período dos studia humanitatis, em especial pela profícua Escola de Salamanca, apoiando-se frequentemente na produção intelectual de autores como Francisco de Vitoria (1480-1546), Domingo de Soto (1494-1566), Francisco Suárez (1548-1617), Fernando de Menchaca (1512-1569) ou Diego de Covarrubias (1512-1577), para evocar princípios que há muito circulavam pelo mundo académico castelhano (García Arias, 1946, pp. 43-46, 53-59; Gómez Rivas, 2012; San Emeterio, 2020, pp. 134-136; Pagden, 1995, pp. 46-62). Contudo, Grotius revelou-se “um investigador negligente” (Borschberg, 2011, p. 150), não tendo recorrido a fontes portuguesas, limitando-se às latinas, distorcendo interpretações usando citações inadequadas, e projetando os trabalhos castelhanos sobre as Américas para uma muito diferente realidade asiática (Borschberg, 2011, pp. 147-153). Contradisse-se ainda no conceito de guerra justa e no direito ao espólio (Pinho, 2013, pp. 111-116).
Para se resguardar de possíveis complicações a obra permaneceu manuscrita, exceto o seu 12º capítulo, que tratava da liberdade dos mares, publicado autónoma e anonimamente em 1609 como Mare Liberum9, e subtítulo Sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercio (ou O direito que os holandeses devem ter à mercadoria indiana para comércio). Nele, alegou o princípio, hoje consagrado, do “mar alto ser livre”, e sistematizou, juridicamente, o ataque aos alegados direitos ibéricos. Antes da passagem aos argumentos jurídicos, Grotius depreciou a monarquia dual como um corpo político aberrante porque andrógino ou bicéfalo (Tuma, 2010, pp. 77-94), o que não era mais que um artifício mordaz que procurava induzir o leitor numa construção mental distorcida e preconceituosa.
O “incógnito” - nome pelo qual foi referido pelos adversários - procurou em Mare Liberum refutar direitos há muito instituídos, como os privilégios especiais detidos pelos príncipes centrados na teoria política de Aristóteles, ou os direitos alicerçados na tradição e na utilidade. Grotius invocou o princípio de que a ordem divina governava de uma forma equitativa a comunidade das nações. Com este postulado efetuou interpretações do Direito das Gentes em que se sustentou, e que desde Roma servia de código jurídico utilizado no relacionamento entre povos europeus. Simultaneamente, rejeitou todos os princípios em que se apoiavam os portugueses: direitos de descobrimento, de ocupação por doação pontifícia, por conquista e por aquisição ou prescrição.
O direito a exercer a exclusividade ou monopólio comercial, invocado por Portugal, pareceu-lhe inaceitável, “pela lei das nações que todos os homens devem ter livre liberdade de negociação entre si, que nenhum homem pode tirar” (Grotius, 2004, p. 49)10. Além disso, todas as nações, por fazerem parte da mesma República equitativa, teriam os mesmos direitos, entre eles, o privilégio (e, por vezes, a necessidade) de comerciarem, usando para isso rotas ou vias de comunicação entre si, incluindo os mares, “portanto, a liberdade de comércio é compatível com a lei primária das nações que tem uma causa natural e perpétua e, portanto, não pode ser retirada” (Grotius, 2004, p. 51).
Quanto aos direitos de soberania por descobrimento, que os portugueses alegavam deter, Grotius replicou que a Ásia não estava sujeita a supostos descobrimentos, pois não era terra nullius, “estas ilhas de que falamos têm, e sempre tiveram, seus reis, sua comunidade, suas leis e suas liberdades” (Grotius, 2004, p. 13). E se a ideia de descobrimento lhe parecia despropositada, a possibilidade de estar sujeita a ocupação, mais ilógica seria, mesmo que esta assentasse nos princípios da prescrição ou costume, pois estes não se podiam aplicar às relações comerciais entre reinos ou à ação dos seus príncipes: “prescrição, ou costume, como se queira chamar. Mas que nem um nem outro têm força entre nações livres ou príncipes de diversas nações, nem contra as coisas que foram introduzidas pela primeira lei original” (Grotius, 2004, p. 53). Mais, em virtude da Ásia não ser res nullius, os portugueses só haviam conseguido suportar essa pretensão pela “coação, coisa que, visto que nisso é contrária à lei da natureza e prejudicial a toda a humanidade, não pode tornar-se direito” (Grotius, 2004, p. 54). A evocação deste princípio deitava por terra, também, as alegações quanto aos direitos de conquista baseados na expansão da fé, pois esta envolveria sempre uma coerção dos povos gentios.
Os direitos decorrentes das doações pontifícias foram, igual e obviamente, contestados. Tenha-se presente que se viviam tempos conturbados pela fratura entre cristãos, católicos e protestantes, prenúncio da Guerra dos Trinta Anos que ensombrava a Europa. Não obstante nunca ter desrespeitado o sumo pontífice, afirmou perentoriamente que a autoridade papal se esgotava nos assuntos do espírito, pois herdara o seu poder de Cristo, que “rejeitou todo o governo terreno, [e] não tinha verdadeiro domínio sobre todo o mundo enquanto homem, e se o tivesse nenhum argumento poderia provar que tal direito foi transmitido a Pedro ou à Igreja de Roma por direito de vigário” (Grotius, 2004, p. 16), renunciando assim ao poder temporal, esse mesmo poder com que o sucessor de Pedro fazia indevidamente a partilha do mundo.
No que respeita à liberdade dos mares, Grotius utilizou o direito romano, “aquelas coisas que não podem ser ocupadas ou nunca foram ocupadas, não podem ser propriedade de ninguém porque toda a propriedade teve o seu início em ocupação” (Grotius, 2004, p. 24), ou seja, pressuporia ocupação. O estatuto do mar, tal como o sol e o ar, era de uso “comum a todos” (Grotius, 2004, p. 25), logo, “o mar, portanto, não pode ser totalmente próprio de ninguém, porque a natureza não permite, mas ordena que seja comum” (Grotius, 2004, p. 26). Estas leis universais não poderiam ser inviabilizadas por quaisquer direitos decorrentes da (eventual) descoberta, da prescrição ou costume, que os portugueses afirmavam deter sobre os mares austrais, “pois a natureza não conseguia distinguir senhores” (Grotius, 2004, p. 21).
Mare Liberum é uma eloquente amálgama de contribuições de juristas e teólogos seus antecessores, numa contextura que, segundo Borschberg (2011, p. 150), não resiste ao confronto e prova de que estivesse familiarizado com a maior parte das fontes que utilizou. No caso da liberdade dos mares, a ideia de “propriedade comum dos oceanos que Grotius defendeu não era um conceito moral progressista que endossasse uma procura de abertura e uniformização no uso dos mares” (Gümplova, 2021, p. 23), mas sim, um instrumento de demolição da arquitetura doutrinal na qual Portugal alicerçava a defesa dos seus títulos e privilégios, de forma a defender uma causa que na sua essência pretendia justificar as ações holandesas, como as práticas comerciais e marítimas rapidamente o demonstrariam.
Mesmo que celebrada como precursora do direito marítimo internacional, “a noção de liberdade dos mares formulada em Mare Liberum não podia ter origens mais arbitrárias” (Gümplova, 2021, p. 22), e inscreve-se na mesma lógica de pensamento político em função da necessitas, ou uma “razão de Estado” (Cardim & Monteiro, 2021, p. 19; Pagden, 1995, p. 51) que os interesses de outras nações invocariam com as suas próprias construções jurídicas.
Reações a Mare Liberum: entre a idea e o pragmatismo
As teses contidas no opúsculo anónimo suscitaram violentas reações e houve monarcas que se sentiram ameaçados pela mensagem de Mare Liberum. As primeiras e mais intensas réplicas vieram de Inglaterra, embora o propósito inglês fosse a salvaguarda das suas costas à pesca holandesa, pois a urgência ou, de outra forma, os interesses ingleses nos mares asiáticos ainda não eram um objetivo primacial11. Cioso do perigo que representava a extraordinária marinha holandesa empunhando a bandeira da liberdade dos mares, ainda em 1609, o monarca britânico Jaime I decretou a proibição aos estrangeiros de pescar nos mares da Inglaterra e da Irlanda. Com o intuito de legitimar esta posição, incumbiu o jurista escocês William Welwood de efetuar a refutação da obra do holandês. O livro An Abridgement of All Sea-Lawes (1613)12, além de ter tido o condão de redimensionar a difusão de Mare Liberum foi, provavelmente, a primeira obra que propugnou a defesa das águas territoriais assente no perigo da exaustão de recursos. No capítulo em que se dirigia diretamente às teses de Grotius (Of The Community And Property of the Seas), Welwood alertou que:
“enquanto antigamente os peixes brancos abundavam diariamente mesmo em todo o litoral da costa leste da Escócia, agora, pela aproximação diária dos pesqueiros, os cardumes de peixe estão reduzidos e tão distantes das nossas costas e litoral que nenhum peixe pode agora ser encontrado digno de quaisquer dores e trabalhos, com o empobrecimento de todo o tipo de pescadores domésticos e com grande dano de toda a nação” (Welwood em Grotius, 2004, p. 74).
O foco de Welwood era o esgotamento dos recursos pesqueiros nas costas orientais das ilhas britânicas e, nesse intento, colocou a hipótese de ocupação e posse dos mares pois, “uma vez que o grande corpo do mar mantém constantemente o lugar prescrito pelo Criador, não vejo a esse respeito porque a natureza do mar não deva ceder à ocupação e conquista” (Welwood em Grotius, 2004, p. 72). Welwood explorou algumas falhas na aplicação das fontes de Grotius, justificando que o mar poderia, como a terra, ser objeto de posse e de taxas (Van Ittersum, 2006, pp. 247-248). Ainda assim, concordou parcialmente com Grotius de que a propriedade seria uma invenção humana, não deixando, por isso, de “também proclamar mare liberum”, mas associando-o “aquela parte do mar principal ou grande oceano que”, ressalva, “está muito distante dos limites justos e devidos acima mencionados, propriamente pertencentes às terras mais próximas de cada nação” (Welwood em Grotius, 2004, p. 74). Na frase, é explícita a exceção que servia os interesses ingleses, e é na delimitação de fronteiras marítimas que reside outra herança de Welwood, ao sistematizar o tema da exclusividade de direitos de um determinado Estado ao seu mar adjacente. E aqui residia o principal problema holandês com Welwood. Ao defender o exclusivismo da navegação insular e a possibilidade de cobrar impostos sobre a mesma, colidia frontalmente com a supremacia holandesa no Mar do Norte entre a pesca e o comércio de cereais (Van Ittersum, 2006, pp. 240-243, 269-271).
O impacto nas Províncias Unidas não podia deixar de ser relevante, e conduziu a uma inflamada resposta de Grotius, a Defensio (escrita ca. 1615)13, onde advogou que Welwood não havia compreendido Mare Liberum. Grotius contestou acesamente a possibilidade de se delimitar as águas, “se o mar pode ser ocupado até cem milhas, como evitar que seja ocupado até 150, daí até 200 e assim por diante? Se a água é propriedade até à centésima milha, por que a água imediatamente contígua a essa propriedade não pode ser igualmente propriedade?” (Grotius, 2004, p. 127). Manifestamente belicoso, desabafou que enquanto esperava por reações espanholas, foi Welwood quem irrompeu, alguém “erudito e muito disposto a defender paradoxos” (Grotius, 2004, p. 78), acusando-o de “convencer-se a si próprio e outros de que a intenção do autor era afirmar a liberdade da pesca e que a controvérsia indiana foi utilizada para isso” (Grotius, 2004, p. 79), insinuando que Welwood estava a deturpar o objetivo do holandês. Ainda no decorrer do século, a Inglaterra haveria de estender os seus tentáculos comerciais a todo o globo, o que ultrapassaria o peso de questões relacionadas com as águas insulares. Em Defensio, Grotius rebateu num tom indignado argumentos e frases de Welwood, que entendia serem absurdos, ao ponto de afirmar que, “sem dúvida que um caso maléfico ganha perfídia a partir da ousadia” (Grotius, 2004, p. 95). Tratava-se de um diálogo de surdos, onde cada parte esgrimia as suas interpretações e razões para rebater e desmantelar os argumentos do outro (Van Ittersum, 2006, pp. 249-256).
A reação britânica a Mare Liberum teve outras sequelas, nomeadamente a protagonizada por John Selden, com Mare Clausum (escrito ca. 1618)14. De atribulado parto, por causa das evoluções da política interna inglesa e das consequências que Selden sofreu ao estar envolvido em disputas partidárias (Somos, 2012, pp. 292-296), só viria a ser impresso em 1635 (Van Ittersum, 2021, pp. 4-5). Selden procurou justificar as incongruentes posições britânicas que, relembre-se, defendiam em simultâneo a livre navegação e comércio no Atlântico sul e no Índico, mas procuravam restringi-las no Atlântico norte (que Portugal sempre considerou livre), com um pragmatismo extraordinário. Selden recorreu ao Direito, a fontes religiosas, à Bíblia e à Filosofia clássica, propondo a secularização da Lei e enquadrando os seus argumentos à luz da História, e à força dos números ou das circunstâncias (Somos, 2012). Tal como Grotius, negou aos ibéricos as suas pretensões, mas apenas porque estes não tinham capacidade de controlar o que afirmavam deter por direito. As insuficiências militares, e sobretudo navais, portuguesas, dariam a possibilidade e o direito a outras nações, mais capazes e dotadas dos instrumentos jurídicos defendidos por Selden, de ocupar o seu lugar. Nas palavras de Somos (2012, p. 288) Mare Clausum foi a “secularização de treze séculos de direito internacional cristão, e a formulação do excecionalismo britânico”, e com isso ofereceu uma perspetiva para “o nascimento dos fundamentos legais do imperialismo moderno”.
Ao relegar para a categoria de mito e sujeitar a Bíblia a um exame histórico, todo um conjunto de argumentos e eventos do domínio da história cristã, que alicerçavam as construções jurídicas do exclusivismo português e espanhol, bem como a legitimação papal dessa exclusividade e direito sobre as “descobertas” (Somos, 2012, pp. 314-ss), Selden insistiu na caracterização do mundo, em abstrato, como passível de divisão em domínios privados e assim demonstrando a possibilidade do mar, ou partes dele, poder ser domínio privado. A erudita construção mental do texto de Selden combinava raciocínios e juízos, frequentemente deformados, para justificar as alegações do autor na defesa do ponto de vista de que a Inglaterra seria “o único e legítimo reivindicante do domínio sobre todos os mares” (Somos, 2012, p. 327). Contrariamente aos pressupostos por detrás de Mare Liberum e aos argumentos de âmbito religioso utilizados por Grotius, preocupado sobretudo com o livre-comércio na perspetiva holandesa, Mare Clausum foi uma expressão jurídica e teórica, mesmo com todas as suas limitações, de um impacto extraordinário nas justificações legais e no sucesso do expansionismo imperial inglês, que na primeira metade do século XVII se começava a desenhar, e que teria a sua máxima expressão no império Britânico dos séculos XVIII e XIX. Somos (2012, p. 327) sublinhou, por isso, a importância de Selden como “pai do imperialismo moderno”.
À luz das disputas que se situavam no mar do Norte, Grotius e as Províncias Unidas encararam Mare Clausum não como um ataque à liberdade dos mares a nível global, mas como uma poderosa afirmação das intenções britânicas na navegação e comércio, controlados até então pela marinha mercante holandesa (Van Ittersum, 2021, p. 5).
Mare Clausum suscitou uma resposta da parte holandesa, comissionada à pena de Dirk Graswinckel, jurista e primo de Grotius, já depois de ter escrito Libertas Veneta (1634), onde defendeu a liberdade de comércio propugnada por Veneza. Grotius deveria ter sido o natural colocutor de Selden, mas recusou devido à repulsa, mútua, das autoridades holandesas por causa do conturbado período de disputas religiosas e políticas que resultaram na sua prisão. A resposta de Graswinckel, Vindiciae maris liberi adversus I.C. Janum Seldenum (escrito ca. 1636)15, acabaria por não ser impressa devido às tensões políticas entre a Inglaterra e as Províncias Unidas (Van Ittersum, 2021, p. 9-12). Na lenha das altercações que alimentavam o clima de tensão entre as duas potências, e já no contexto da primeira guerra anglo-holandesa de 1652-54, Graswinckel haveria novamente de ser envolvido numa contra argumentação, desta feita a William Welwood, em Maris liberi vindiciae contra Velvoodum (1653)16.
Desde Mare Liberum que as delicadas alianças e equilíbrios políticos entre as nações com interesses no trânsito e recursos do Mar do Norte, eram geridas entre posições de força e omissões estratégicas. Numa primeira versão (ca. 1619) de Mare Clausum, havia sido suprimido o capítulo final, onde Selden advogava as pretensões britânicas no Mar do Norte, de forma a não criar constrangimentos com Cristiano IV, rei da Noruega e da Dinamarca, e cunhado de Jaime VI da Escócia, I de Inglaterra na sucessão do trono inglês.
Se a posição de Grotius inaugurou a polémica, as oposições britânicas de Welwood e Selden geraram outras alegações na esfera setentrional europeia17. Com maior ou menor destaque e ambiguidade face às posições políticas e interesses dos Estados, envolveram-se na controvérsia e na produção escrita durante o século XVII, muitos outros autores de diferentes proveniências europeias. A título ilustrativo, no exercício da pena sobre o direito marítimo, o holandês Marten Schoock (1654)18, ou os alemães Franz Stypmann (1652)19 e Johan Locken (1652)20. Sobre o Mar do Norte contribuíram o holandês Johan Isaksen Pontanus (1637)21, os alemães Hermann Conring (1676)22 e Johannes Strauchius (1662)23, ou o inglês John Borough (escrito ca. 1633)24. No lume das disputas e refregas entre os reinos da Dinamarca e da Polónia sobre o Mar Báltico surgiram os impressos anónimos Mare Balthicum, de origem dinamarquesa (1638) e Antimare Balthicum, de origem polaca (1639). A complicada teia de relações e a condição estratégica deste mar suscitaria ainda publicações de Balthasar Henkel (ca. 1630)25, em defesa das posições suecas, ou do polaco Reinhold Kuricke (1667)26. De notar que a esmagadora maioria destas publicações utilizou o latim, língua franca europeia e, por isso, ao alcance de uma audiência continental.
De iusto imperio lusitanorum asiatico
Não obstante as repercussões de Mare Liberum, não terá sido esta obra que feriu de morte, e no imediato, as pretensões portuguesas ao domínio dos oceanos austrais. O golpe decisivo27 nas ambições portuguesas ocorreu quando, em 1609, Filipe II acordou com as Províncias Unidas doze anos de tréguas, não acautelando os interesses de Portugal, sobretudo no que dizia respeito ao oceano Índico, abrindo-se dessa forma a possibilidade aos holandeses de consolidarem a sua presença nessa região.
Mas o meio académico peninsular não ficou indiferente à obra do “incógnito”, sobretudo porque, a antítese da posição portuguesa era estruturante em Mare Liberum. Em 1612 (três anos após a publicação), a inquisição espanhola colocou-a no índice de obras proibidas e Filipe II terá imposto silêncio e proibido quaisquer impulsos de resposta a Grotius, provavelmente esperando que as ondas de choque esmorecessem e não querendo perturbar o delicado equilíbrio das tréguas de 1609 (Caetano em Freitas, 1959, pp. 39-40)28. Mas, a circulação privada e a própria necessidade de se avaliar o conteúdo terá despertado, em Portugal, o empenho na refutação da teorização de princípios que colocavam em causa os direitos imperiais do reino, visando restringir práticas comerciais exclusivistas e os consequentes ganhos económicos. Como evidenciaram Cardim e Monteiro (2021, pp. 1-11), num conjunto de razões elencadas, Portugal não está associado à produção de textos que tenham contribuído para as “grandes narrativas” no domínio do pensamento político europeu e o interesse continua a ser residual. Contudo, isso não significa que o debate político não existisse e não fosse produtivo. Pelo contrário, foram estimulantes, “frequentemente moldados por, e emergentes em resposta a, pressupostos, circunstâncias e preocupações muito particulares” (p. 2). É neste quadro que se insere De justo imperio lusitanorum asiatico, impresso em 1625, da autoria de Serafim de Freitas29.
Segundo Caetano, já em 1616 existia uma versão com origem em Salamanca de um manuscrito que refutava os argumentos holandeses, desconhecendo-se publicamente a sua autoria. Esse manuscrito teria sido apresentado à corte para se obter a autorização de impressão, o que foi vetado (Caetano em Freitas, 1959, pp. 40-41). A hipótese é viável pois, em 1615, quando Grotius redigiu a Defensio, afirmou que “esperava que algum espanhol escrevesse uma resposta ao meu pequeno livro, uma coisa que ouvi dizer foi feita em Salamanca, mas por acaso ainda não vi esse livro” (Grotius, 2004, p. 78), uma clara alusão de que havia chegado a Grotius notícias de uma putativa réplica ibérica a Mare Liberum. O texto de Salamanca tinha como autor o clérigo português Serafim de Freitas, e embora sejam difusas e desconhecidas as razões que estão na origem do seu texto, ganharia notoriedade na administração do reino.
Nascido na segunda metade do século XVI, em Lisboa, estudou no Colégio Jesuíta de Santo Antão. Em 1588 foi para Coimbra, obtendo dez anos depois o grau de Doutor. Em 1600 já se encontrava em Valladolid, onde foi admitido como leitor extraordinário e, provavelmente por esta altura, terá ingressado na Ordem Nossa Senhora da Mercê. Os anos seguintes passou-os no convento desta ordem, exercendo funções universitárias. Após a jubilação, que requereu antecipadamente por motivo de doença auditiva, mudou-se para Madrid onde exerceu o cargo de Juiz Conservador das Ordens Militares Portuguesas em Castela, no Conselho de Portugal sedeado na capital dos Áustrias. Haveria de falecer em Valladolid, em 1663 (Caetano em Freitas, 1959, pp. 34-39).
Entre a proposta de publicação em 1616 e 1625, o manuscrito de Serafim de Freitas terá sido revisto, alterado, emendado e acrescentado. Já com Filipe III no trono, a obra foi apresentada para publicação. Há notícia de que a autorização da mesa de censores data de 1623 (Caetano em Freitas, 1959, p. 42) mas, estranhamente, foi o lado português que mais entraves colocou ao licenciamento. Os pareceres emitidos pelo conselho de governadores instalado em Lisboa consideraram, pelo menos numa versão inicial, que esta não salientava o papel essencial do Papa e das doações no âmbito da expansão da fé, prefigurando uma afirmação de debilidade, razão pela qual o tema passaria a ter um desenvolvimento considerável na versão definitiva do texto (Caetano em Freitas, 1959, p. 44). O impasse só seria resolvido a 28 de outubro de 1624, quando foi expedida a licença régia para impressão nos reinos e domínios do soberano Habsburgo. Sairia então definitivamente do prelo em 1625 com o título latino De justo imperio lusitanorum asiatico. O complicado parto a que foi sujeito explica-se no contexto de ter sido elaborado sob o período Filipino, da pacificação ibero-holandesa, sendo por isso um produto num quadro mental hostil claramente dominado pela preponderância castelhana e pela influência do pensamento de Vitória ou de Menchaca.
Composto por dezoito capítulos, o texto é, como indicou Marcelo Caetano (Freitas, 1959, pp. 46-49), uma contestação jurídico-processual minuciosa na qual Serafim de Freitas atacou argumento por argumento o texto de Grotius, apontando-lhe erros e falhas (García Arias, 1946, p. 115-ss; Martínez Torres, 2017, pp. 83-ss). Em simultâneo, recuperou os fundamentos defendidos por Portugal durante o século precedente, sistematizou-os e procurou legitimá-los no âmbito do ius gentium.
Um dos principais eixos na oposição entre Freitas e Grotius foi a contestação da leitura e interpretação do ius gentium, que cada um aplicou na defesa do seu raciocínio. Freitas ressalvou que do direito natural se estabeleciam duas divisões: os direitos universais quando os povos viveram em harmonia com a natureza, e os direitos derivados da vontade humana, não universais, onde incluiu a navegação e comércio. Ou seja, com esta contraposição, negava a Grotius a construção que se baseava no ius gentium para refutar aos portugueses o direito à exclusividade do acesso e navegação dos mares. Nessas circunstâncias, e de acordo com o Direito das Gentes, o uso comum poderia ser proibido pelo príncipe, ou por quem dele tivesse recebido o poder, numa alusão aos vice-reis do Estado da Índia.
Freitas reafirmou também os privilégios resultantes da “descoberta”. O exercício da navegação dos oceanos e da soberania nos território reclamados por Portugal, consubstanciavam o dominium e, por isso, alegou Freitas, “que os holandeses não naveguem para as nossas conquistas, as quais foram alcançadas com tamanho dispêndio de sangue e fazenda, que, se formos a olhar apenas ao lucro temporal, não eram dignas de tão elevado preço”, logo poderiam, portanto, navegar e comerciar na “parte ainda desconhecida do Setentrião”, aplicando “as suas energias físicas e morais nesse empreendimento”, custos que os portugueses haviam suportado. E remata o capítulo interrogando o leitor, “será porventura justo que se ponham à espreita de que outros percorram, primeiro, os mares com trabalhos e sacrifício de sangue e de vidas, para, depois, colherem os frutos das canseiras alheias?” (Freitas, 1959, p. 285).
Quanto aos direitos decorrentes da prescrição ou costume, Serafim de Freitas relembrou que sem a sua aplicação nenhum príncipe estaria seguro das suas possessões, e assim sendo, por que motivo este princípio não se poderia transportar para a longínqua Ásia, onde os portugueses realizavam, há mais de um século, viagens, contactos e tratados com muitos potentados, com os quais comerciavam e onde, intrinsecamente, propagavam a fé cristã. Assim, e “admitida esta posse, é opinião concorde de todos (...) que, enquanto ela durar, nos é lícito excluir dela os outros povos” (Freitas, 1959, p. 352).
Por fim, consideremos o tema das doações pontifícias, que o texto de Freitas incorpora. Aqui, a oposição com Grotius é fundamental, pois para o holandês o poder papal não era extensível aos temas temporais, como o eram os assuntos da expansão ultramarina holandesa, claramente vinculada a princípios económicos. Já para o português, o sumo pontífice tinha todo o direito de se pronunciar no que dizia respeito à expansão e divisão do mundo pelos europeus (cristãos), pois era ele o herdeiro de Pedro, a quem Cristo doara o seu poder, que ao contrário do que afirmava Grotius, era também temporal, e uma vez que “este poder existe no Pontífice, não em acto, como o espiritual, mas em hábito ou potência, e que, embora o exerça, as mais das vezes por meio do imperador ou dos reis, todavia algumas vezes o faz de per si, reduzindo aquele hábito a acto” (Freitas, 1959, p. 180). À própria experiência da expansão portuguesa estava subjacente a propagação da fé, que os portugueses tinham encetado com tantos sacrifícios e perdas, e seria com o intuito de compensar esse espírito de abnegados evangelizadores, e não de forma abstrata (Martínez Torres, 2017, pp. 86-87), que o papa, vigário de Deus na terra, por meio de bulas e breves, lhes tinha doado tamanhas possessões e direitos.
De justo imperio lusitanorum asiatico, na expressão de Cardim e Monteiro, constituiu “uma das mais importantes respostas ao desafio de Hugo Grotius à legitimação do império ultramarino português” (2021, p. 19). Mas o que lhe sobrou em erudição, faltou-lhe no peso da poderosa proclamação que a mensagem do holandês difundia.
Disputas escritas e reequilíbrios geopolíticos
A ideia de equidade, ao ser enunciada por Hugo Grotius, era sintomática de que na Europa seiscentista germinava a consciencialização de novas práticas que não se coadunavam com ideias de exclusividade defendidas pelas potências primo-modernas.
A progressiva tendência de equidade de direitos ao longo dos séculos XVII e XVIII, fosse por regulação ou hegemonia, por diplomacia ou mecanismos de coerção - traduzidos na imposição, na negociação ou na cedência a nível político-económico - em consequência e como expressão de subalternidades nas relações entre Estados, mesmo que precária ou aparente, tornar-se-ia o elemento de homeostasia nas relações europeias.
Neste quadro, a profusão de impressos publicados na sequência de Mare Liberum pode ser encarada, no seu conjunto, como uma expressão das polémicas propagandísticas que alimentaram campos tão variados como o político, o religioso, o económico, o social, ou o cultural. As guerres de plumes, ou disputas escritas, opuseram contendores que mobilizaram a palavra escrita e os textos impressos não apenas como a expressão de ideias, mas também como um meio de ação que ganhava sentido em conjugação com práticas políticas, institucionais, lutas de poder e conflitos militares (Hermant, 2011, 2021; Gantet, 2009). A mobilização de esforços na produção de respostas, reações e contrarreações das várias partes com interesses a defender, ao serem objeto de impressão e circulação, apelavam a audiências domésticas e europeias, permitindo a criação de um movimento de opinião sobre as intenções e argumentos dos autores. Cada parte em disputa procurava produzir uma opinião notabilizada sobre a matéria e captar apoios, desafiar e romper explicações dissidentes ou estabelecidas, através da persuasão e apelo a uma “opinião pública” emergente (Bouza Alvarez, 2008; Olivari, 2014; Hermant, 2011, 2021). Combinados com estratégias e decisões políticas nos domínios próprios, os textos impressos e as polémicas das guerres de plumes podem de facto, ser expressão da imprensa como um agente de transformação da comunicação política (Helmers et al., 2021) ou, nas palavras de Bouza Alvarez (2008), “das muitas utilidades da imprensa num século de viva propaganda e prolongados confrontos polémicos” (p. 23).
Grotius, Freitas, Welwood, Selden, Graswinckel, e todos aqueles envolvidos na polémica da livre circulação marítima, foram atores sob a arte de Marte e de Mercúrio que procuraram defender e mobilizar as suas construções jurídico-políticas como legitimação de posições em defesa dos interesses dos Estados patronos, contribuindo e beneficiando do crescente impacto que a circulação do texto impresso tinha na criação de uma opinião pública, mesmo que o número de leitores ainda fosse modesto, nas habilitações e acesso ao livro, quase circunscrito às esferas do poder político, económico e religioso, mas em crescimento exponencial30.
Os sucessivos tratados de regulamentação marítima ou com implicações no acesso e na navegação dos mares e oceanos, desde Westfalia (1648), Utreque (1715), Santo Ildefonso (1777), Pardo (1778), a convenção de neutralidade armada (1782), até aos tratados de São Petersburgo (1787), da África do Sul (1875) e da Índia (1878), apesar de se inserirem em tempos históricos diferenciados e heterogéneos, colocaram em prospetiva o mar como elemento comum a todos os povos, de livre acesso, via de comunicação cultural, social, política e, sobretudo, económica, apesar dos avanços e recuos que em circunstâncias e espaços específicos ocorreram. A arquitetura destes tratados, desenhados sob as condições políticas europeias e para os interesses tentaculares coloniais que os europeus estenderam ao globo, circunscrevia-se a um ponto de vista eurocêntrico e consolidou-se junto da opinião pública, na legitimação do livre acesso a relações e rotas comerciais nas geografias onde o poder europeu impunha os seus interesses.
Em última análise, a consolidação do princípio da liberdade dos mares serviu a emergência de um espaço económico vital para a imposição de relações entre os europeus e os espaços coloniais, tendência interpretada pela força política, económica e bélica dos Estados europeus, adequada aos objetivos motores das economias europeias na consolidação do comércio global e do domínio colonial.
Conclusão
Quando em 1609 foi impresso Mare Liberum, Hugo Grotius procurou legitimar uma pretensa visão justa advogando a liberdade de comércio marítimo. A partir de então, o domínio dos mares pelas potências que se arrogavam do princípio do direito de exclusividade deixou de existir como expressão do seu poder político.
Mas, Mare Liberum foi o reflexo do próprio desejo de expansão holandesa e um instrumento para implementar as ambições coloniais (Borschberg, 2006). As circunstâncias que alimentaram a determinação holandesa no confronto com o império português advieram do acesso aos mercados ultramarinos, ou seja, pela liberdade da navegação marítima e pelo desejo de participação no comércio extremo-asiático, em choque com as políticas de obstrução e exclusão portuguesas. Mas este não era um objetivo assente numa igualdade de direitos. A força motriz do mercantilismo holandês era precursora do seu próprio projeto colonial, sustentada numa lógica de dominação comercial interpretada pela VOC, de reivindicar, competir e acumular recursos, utilizando mecanismos jurídicos, militares e económicos. A proclamada liberdade dos mares implícita na conceção de Grotius foi, na realidade, uma “liberdade ilimitada para acumular recursos, sem ter em conta os limites de utilização dos recursos comuns e a igualdade de oportunidades na sua utilização” (Gümplova, 2021, p. 23).
As pretensões monopolistas portuguesas não constituíam, propriamente, uma novidade nas práticas políticas europeias. Bastaria relembrar as reivindicações a quinhões mediterrânicos, produzidas por venezianos e genoveses. A enorme diferença residia na escala. Já não se estava sob um horizonte circunscrito ao Mediterrâneo e mares europeus, mas sim perante uma escala intercontinental que abrangia virtualmente o globo. Perante as perspetivas comerciais que se desenhavam e a concorrência de outras potências emergentes, não era inusitado que todas as partes procurassem velar pelos seus interesses, no âmbito da geopolítica europeia e sua extensão a outros continentes.
A partir do século XVI a importância da opção oceânica foi simultaneamente descoberta por governantes e juristas europeus, polarizando os debates de acordo com os interesses de cada Estado. A concorrência inglesa e, sobretudo, a avalanche holandesa, cessaram definitivamente o protagonismo português na manutenção das redes comerciais oceânicas, no decorrer de Seiscentos. Em qualquer dos espaços oceânicos, a política externa espanhola de final de Quinhentos e princípios do século XVII, intermediadas pelas guerras religiosas e o processo de emancipação holandês, concorreram para o choque e para o declínio do princípio de exclusividade marítima, de que Portugal e Espanha se arrogavam de legítimos intérpretes.
A regulação do pensamento jurídico do período tardo-medieval e primo-moderno estava definitivamente caduco, afrontado e em extinção. Mais que as efabulações teóricas em Mare Liberum, An Abridgement of All Sea-Lawes, Mare Clausum, e em Do Justo Império Asiático dos Portugueses, entre todas as outras, a sua difusão sob a forma de impressos inseriu-se num modo de comunicação política esgrimida num novo palco à escala europeia e para um público continental, na qual ao poder económico e militar se aliou uma nova dinâmica de comunicação estruturada na inexorável dinâmica da imprensa.
Por isso, todos estes textos foram incapazes de se despojar da sua afinidade. No fundo, foram instrumentos conscientes de uma estratégia para a qual tinham sido encomendados, muito embora, e mais evidente no caso de Grotius, procurassem transmitir uma imagem de imparcialidade e de uma certa superioridade intelectual, que as interpretações e deformações efetuadas na manipulação de argumentos, os rivais apontavam e recriminavam. Por isso, e independentemente dos argumentos de cada autor, todos estes livros inserem-se numa perspetiva mais alargada que ocupava as potências europeias em justificar e assegurar o acesso e o domínio de territórios e redes de comércio, e todos os mecanismos legais para fundamentar a exclusividade, a proteção, o estabelecimento de colónias e direitos de proteção, que garantiam os interesses imperiais.
Cuidadosamente arquitetados, meticulosamente redigidos e extraordinariamente argumentados, recorrendo a uma genealogia imensa de textos religiosos, preceitos bíblicos, comentários e tratados jurídicos, leis romanas, e filosofia política, estes textos, os debates que suscitaram e os impressos que fomentaram, foram a face erudita da comunicação política e dos processos mentais coevos que se materializaram como uma guerre de plumes, num momento particular de reconfiguração dos imperialismos europeus, uns em decadência, outros em ascensão.