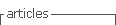Introdução
Este artigo foca o estabelecimento experimental de Casas do Povo em Angola, na segunda metade da década de 1960, numa tentativa de extensão àquela colónia de uma instituição que já contava com três décadas e com uma larga implantação na metrópole. A experiência tem passado despercebida quer na historiografia sobre o corporativismo em Portugal, quer na historiografia sobre o colonialismo português em África. Eventualmente, a lacuna prende-se com a microescala e o limitado sucesso da iniciativa. No entanto, este caso permite-nos identificar cruzamentos entre doutrinas1 coloniais e internacionais sobre o desenvolvimento das áreas rurais africanas e a doutrina corporativa aplicada no meio rural nacional, a partir de uma abordagem que inclui metrópole e colónia no mesmo campo analítico (Cooper e Stoler, 1989). Procura, também, ilustrar a dimensão transformadora da circulação do conhecimento (Raj, 2007). Verifica-se que órgãos superiores da administração pública com competências no domínio social, criados após o início da luta anticolonial em Angola, entravam em competição entre si e nem sempre partilhavam a mesma visão sobre os meios para atingir o desenvolvimento, embora convergissem na sua finalidade: a preservação da soberania portuguesa.
Este trabalho insere-se na literatura sobre a história do desenvolvimento em África e, mais precisamente, nas colónias portuguesas, no colonialismo tardio. Em paralelo, recorre a bibliografia sobre as Casas do Povo em Portugal durante o Estado Novo. O material empírico é constituído, por um lado, por documentos produzidos por académicos, técnicos e políticos, nos quais os conceitos de “bem-estar rural” e “desenvolvimento comunitário” são utilizados, e, por outro, por legislação, publicações periódicas e fontes de arquivo relacionadas com a institucionalização da cooperação social em Angola, designadamente a experiência das Casas do Povo.2
O texto está estruturado em três partes. Na primeira parte, faz-se um balanço dos usos do “bem-estar rural” e do “desenvolvimento comunitário” por organismos de colaboração internacional e regional e pelos impérios coloniais europeus após o fim da Segunda Guerra Mundial, antes e depois de se confrontarem com movimentos de libertação. Na segunda parte, perscrutam-se os entendimentos e as aplicações do “desenvolvimento comunitário” em Portugal e em Angola, no campo técnico-científico, e a desconfiança que gerou no campo político. Na terceira parte, apresenta-se o caso do estabelecimento experimental das Casas do Povo em Angola, focando, em particular, a primeira a iniciar atividade - a Casa do Povo de Cazengo-Salazar. Relaciona-se este ensaio com o seu referente metropolitano, procede-se à sua contextualização nas políticas reformistas com que Portugal procurou responder ao início da subversão em Angola e avaliam-se as motivações do Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social (ITPAS), que promoveu a iniciativa, e da Junta Provincial de Povoamento (JJP), que se lhe opôs.
A afirmação do “desenvolvimento comunitário” no pós-guerra
Vários estudos têm mostrado que o desenvolvimento tem uma genealogia colonial que remonta ao século XIX e à ideia da “missão civilizadora”, passando, no período entre guerras, pela doutrina francesa da mise en valeur das colónias e àquilo que sir Frederick Lugard definia como “duplo mandato” (consagrado pelo pacto das Sociedade das Nações), desembocando, após o fim da Segunda Guerra Mundial, no planeamento do desenvolvimento com financiamento metropolitano e com recurso sem precedentes ao conhecimento técnico-científico para fortalecimento e legitimação dos impérios europeus (nomeadamente, Cooper, 2010; Hodge, Hödl e Kopf, 2014; Hodge, 2015; Unger, 2018; Decker e McMahon, 2020). A preocupação com o bem-estar das populações colonizadas foi uma das respostas ao clima de reivindicações e de instabilidade social nas colónias francesas e britânicas, enquanto nas colónias portuguesas a educação, a saúde e outras vertentes do desenvolvimento social foram secundarizadas até à década de 1960.
Depois de 1945, registou-se um crescente interesse de organizações internacionais (como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO, a Organização Mundial de Saúde - OMS e a Organização das Nações para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO) e dos Estados Unidos da América pelo conhecimento e pelo desenvolvimento de África, não apenas na vertente económico-social, mas também política. Em reação, duas agendas interligadas guiaram as potências coloniais europeias: a já referida aposta na planificação do desenvolvimento;3 e a formação de uma frente coesa contra o anticolonialismo e o envolvimento da comunidade internacional nos assuntos africanos.4 Em 1950, as potências coloniais europeias presentes na África subsariana (Bélgica, França, Portugal e Reino Unido), a Rodésia do Sul e a União Sul-Africana criaram dois organismos para a colaboração científica e técnica multilateral: a Comissão para a Cooperação Técnica na África ao Sul do Sara (CCTA) e o que viria a ser o seu órgão de aconselhamento, o Conselho Científico Africano (CSA).
O reconhecimento da importância das populações rurais africanas na evolução do continente determinou que a CCTA promovesse a primeira Conferência Inter-Africana do Bem-estar Rural (em inglês Rural Walfare), em Lourenço Marques (Moçambique), em 1953 (Jerónimo e Dores, 2020). A conferência subdividiu-se em três comissões que trataram das estruturas sociais; dos fatores económicos subjacentes à melhoria das condições de vida das populações rurais; e da ação social e da organização das comunidades. A Conferência Inter-Africana de Ciências Sociais, realizada pela CCTA em Bukavu, em 1955, recomendou que se estudassem as técnicas de “Desenvolvimento Comunitário”, para apurar os sucessos e fracassos das experiências realizadas nas diferentes regiões.5 Na segunda Conferência Inter-africana do Bem-estar Rural, que teve lugar em Tananarive (Madagáscar), em 1957, abordaram-se os aspetos sociais do meio rural, a orientação em matéria de bem-estar rural, os métodos de ação sobre o meio rural e o problema da coordenação dessa ação. Entre os métodos polivalentes que conduziam à melhoria do bem-estar rural, além da educação de base, termo lançado pela UNESCO, discutiu-se o desenvolvimento comunitário, que as organizações internacionais, nomeadamente a Comissão Social e o Conselho Económico e Social, haviam inscrito como ponto importante do seu programa naquele mesmo ano. Na África subsariana, o desenvolvimento comunitário era sobretudo aplicado nos territórios britânicos, tendo em vista orientá-los para uma autonomia responsável dentro da Commonwealth (CCTA/CSA, 1957, p. 62). Porém, nas conclusões da Conferência, reconhecia-se que a importância do método do desenvolvimento comunitário residia em procurar estimular as coletividades no sentido da satisfação das suas necessidades, sem entrar em considerações sobre consequências políticas desse esforço (CCTA/CSA, 1957, p. 75).
No domínio do desenvolvimento das comunidades rurais, como em diversos domínios do conhecimento, a CCTA procurou acompanhar a agenda lançada pela ONU, depurando-a de qualquer intenção emancipatória. Contra o conteúdo mais “top-down” e paternalista do conceito colonial de bem-estar rural, o desenvolvimento comunitário emergiu como algo novo em meados dos anos 1950. Definido pela ONU como um processo que procurava criar condições para o progresso económico e social das comunidades com a participação ativa destas e em resultado da sua própria iniciativa, deu origem a diversas conferências organizadas pela ONU, inicialmente na Europa (Baarn, Países Baixos, 1957; Palermo, Itália, 1958; Bristol, Inglaterra, 1959).6 Em setembro de 1959, teria lugar um seminário em Adis-Abeba, sobre o emprego das técnicas de desenvolvimento comunitário em África, organizado pela Comissão Económica das Nações Unidas para África.
As imbricações entre iniciativas desenvolvimentistas, inclusive de desenvolvimento comunitário, e controlo social são particularmente visíveis nos processos de reordenamento forçado de populações desencadeados como resposta aos movimentos de guerrilha anticolonial.7 No seu estudo comparado do fenómeno global de aldeamento estratégico na Argélia e no Quénia, Feichtinger (2017) interpreta os ambiciosos programas de desenvolvimento rural levados a cabo por franceses e britânicos - com vista à transformação do espaço, da habitação nas aldeias estratégicas, da estrutura de produção ou do papel das mulheres - não como um efeito colateral das técnicas repressivas ou como uma manobra de propaganda para escamotear a violência militar, mas como um dos elementos cruciais da contrassubversão.
Em meados dos anos 1960, Portugal era a única potência colonial europeia que obstinadamente se mantinha em África, recusando-se a equacionar a autodeterminação das suas colónias ou, por outras palavras, a vertente política do desenvolvimento. Além da contestação ao colonialismo português no seio da comunidade internacional, o país enfrentava lutas de libertação em Angola (desde 1961), na Guiné (desde 1963) e em Moçambique (desde 1964). No entanto, os embates político-diplomáticos na ONU e na Organização Internacional do Trabalho e político-militares nos territórios africanos não levaram o governo português a isolar-se ou a alhear-se dos debates internacionais nem conduziram a uma cristalização doutrinária (Jerónimo e Monteiro, 2013; Santos, 2017). Ao invés, determinaram que mobilizasse ideias e práticas que circulavam internacionalmente sobre o desenvolvimento, algumas das quais reivindicadas pelos movimentos anticoloniais e pelos líderes dos novos Estados africanos. No contexto das guerras de descolonização, Portugal também recorreu a programas de reassentamento forçado das populações africanas, nos quais o controlo e o desenvolvimento se articulavam (Bender, 1980; Coelho, 1993; Cruz, 2019, Jerónimo, 2017a, 2017b 2020). João Paulo Borges Coelho (1993, pp. 151-152) notou que o governo português se apropriou da ideia de desenvolvimento comunitário da ONU e de iniciativas britânicas e francesas para defender uma técnica de baixo custo para alcançar o reassentamento das populações rurais em Tete (Moçambique).8 Importa, no entanto, sublinhar que essa apropriação era antes uma manipulação do conceito da ONU retirando-lhe a sua marca distintiva: a livre iniciativa e participação das populações. Não obstante os discursos legitimadores da modernização coerciva, esta acarretou a disrupção das estruturas sociais e económicas, malnutrição, doenças e trauma.
“Desenvolvimento comunitário”: conceções e usos entre Portugal e Angola
Entre meados da década de 1950 e o início dos anos 1960, os pesquisadores, os técnicos e os funcionários coloniais portugueses, especialmente os formados no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos - ISEU (renomeado Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina - ISCSPU, em 1962), tomariam contacto com o conceito e projetos de desenvolvimento comunitário da ONU. Em resposta às recomendações das conferências “interafricanas” promovidas pela CCTA/CSA, o Centro de Estudos Políticos e Sociais (CEPS) da Junta de Investigações do Ultramar (JIU), criou em 1957 uma missão de estudos sobre bem-estar rural, que conduziu trabalho de campo em Angola nos anos seguintes (Ágoas e Castelo, 2019, p. 425; Soares, 1961). Em linha com a preferência internacional pelo termo, e para evitar um conceito anterior com conotação colonial, em 1960 o CEPS criou um grupo de investigação sobre desenvolvimento comunitário, sob a coordenação do geógrafo Francisco José Tenreiro e contando com o economista Alfredo de Sousa e o engenheiro-agrónomo António Fernandes Mendes Jorge como investigadores. Os dois primeiros eram professores do ISEU e haviam participado no seminário do Comissão Económica para África, no ano anterior, como delegados portugueses. O grupo de pesquisa transformar-se-ia em centro de investigação em 1963 (em 1964, “serviço social” foi adicionado ao nome e ao escopo do centro).
Entretanto, em abril de 1961, realizara-se no Estoril o Seminário sobre Organização e Desenvolvimento Comunitário, promovido pela União Católica Internacional de Serviço Social com a colaboração do Sindicato dos Profissionais de Serviço Social (Silva, 1962, 1964b, pp. 503-504). Em 1962, constituiu-se a Equipa de Estudo e Experimentação de Desenvolvimento Comunitário (EEEDC), uma iniciativa de Maria Manuela Silva, que reuniu técnicos de diversos organismos oficiais de Portugal continental e conduziu dois projetos-piloto em duas freguesias do concelho de Alcobaça (Silva, 1964b, p. 504). Em 1963, a EEEDC organizou na Associação Industrial Portuguesa um Seminário de Estudos sobre desenvolvimento comunitário, orientado pelo Professor J. A. Ponsioen, do Institut of Social Studies, de Haia (Anónimo, 1965, p. 187). Em 1964, nos estudos preparatórios para o Plano Intercalar de Fomento, o uso de técnicas de desenvolvimento comunitário foi recomendado para alcançar o reordenamento rural em Angola (Portugal, Presidência do Conselho, 1964, p. 150). Contudo, não foram consignadas verbas para o efeito.9 Fundos específicos seriam alocados ao desenvolvimento comunitário apenas no III Plano de Fomento do Ultramar (cf. Guerra e Veiga, 1970).
Em Portugal, foram sobretudo académicos e técnicos católicos com sensibilidade social, que concluíram o ensino superior na década de 1950, e participaram em organizações católicas (como a Juventude Universitária Católica - JUC e a sua congénere feminina - JUCF), quem se dedicou a pensar e a escrever sobre o desenvolvimento (Ferreira, 2019). Entre eles, destacam-se os economistas já referidos, Maria Manuela Silva e Alfredo de Sousa (Lains e Ferreira, 2007, p. 23). Manuela Silva, que havia sido presidente da JUCF e exercera funções como assistente nos Serviços de Ação Social do Ministério das Corporações (1955-1960), especializou-se em Desenvolvimento Comunitário em Paris, e em 1962, “aproveitando os interstícios informais que a ditadura permitia”, encabeçou a EEEDC.10 Alfredo de Sousa, formado como Manuela Silva no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, faria o doutoramento na Sorbonne com bolsa do ISCSPU. Ambos integraram o Gabinete de Estudos Corporativos e depois o Gabinete de Investigações Sociais (Cardoso, 2017, pp. 145-146). Ambos revelaram um conhecimento atualizado da literatura sobre a teoria do desenvolvimento e as experiências conduzidas um pouco por todo o mundo. Estavam familiarizados com o pensamento do padre Louis-Joseph Lebret (do movimento “Economia e Humanismo” e do “Terceiro-Mundismo Católico”)11 e de François Perroux (“economia humana”) e partilhavam a conceção do desenvolvimento não só como crescimento económico, mas também como justiça social e progresso para todos. Embora os dois tenham escrito sobre desenvolvimento comunitário e a relação entre desenvolvimento económico e desenvolvimento social, apenas Sousa analisou as iniciativas conduzidas em Angola (Sousa, 1963a, 1963b, 1964a, 1964b).12
Devido à natureza ditatorial do regime português, Alfredo de Sousa era muito cauteloso na avaliação das políticas de desenvolvimento seguidas na África portuguesa e os limites ao empoderamento das populações africanas. Num curso de extensão universitária sobre Angola, realizado no ISCSPU, chamou a atenção para o preconceito da administração colonial em relação ao desenvolvimento comunitário, observando que era visto como “um meio ao estilo inglês de direcionar as pessoas para a absoluta autogestão” (Sousa, 1964a, p. 22). Tais suspeitas ajudam a explicar a sua má aplicação por parte da administração colonial e das forças armadas em Angola e em Moçambique, prontas a impor aos africanos um modelo de desenvolvimento sem a sua colaboração ativa e consciente.
A dimensão emancipatória do desenvolvimento comunitário permaneceria uma questão delicada e desconfortável para os académicos e técnicos portugueses, mas especialmente para a classe política. Maria Manuela Silva expôs a situação com clareza:
Tem-se afirmado que o desenvolvimento comunitário serve uma ideologia política determinada - a democracia. Não parece, contudo, inteiramente exacta a afirmação, pois fizeram-se ou estão em curso experiências de desenvolvimento comunitário em países de sistema politico muito diverso (Jugoslávia, Índia, Itália, França, Ghana ou Estados Unidos).
Não se conclua, porém, precipitadamente, que o desenvolvimento comunitário é uma pura técnica de transformação económico-social sem qualquer relação com os sistemas políticos em que a mesma terá lugar. Com efeito, já enquanto técnica o desenvolvimento comunitário assume como pressupostos certos princípios ideológicos, tais como o valor da liberdade da pessoa humana e o direito de autodeterminação que lhe assiste, o valor da comunidade, da sua autonomia na resolução dos seus próprios problemas, o carácter supletivo (o que não significa despiciendo) da intervenção do Estado. E daqui é fácil concluir que certos sistemas políticos dão maior expressão a tais princípios do que outros. Desta sorte, o desenvolvimento comunitário encontrará certamente maiores perspectivas de êxito quando se insere em estruturas políticas de tipo mais democrático, entendida a expressão no sentido amplo de participação do povo nos diferentes níveis de Administração, havendo, por outro lado, que admitir-se a sua total inviabilidade quando se trate de regimes inteiramente totalitários. [Silva, 1962, pp. 30-31]
Porém, Manuela Silva não excluía a hipótese de o desenvolvimento comunitário se revelar “um excelente instrumento para preparar uma transformação progressiva e orgânica das estruturas políticas existentes”, como havia sucedido nos países africanos e asiáticos recém-independentes (Silva, 1962, p. 31). Claramente este era o cenário que as autoridades coloniais portuguesas mais temiam.
Quando, em 1964, o Centro de Estudos de Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário da JIU estabeleceu contactos e fez diligências para obter bolsas da ONU para treinar funcionários coloniais de Angola e de Moçambique em técnicas de desenvolvimento comunitário, o ministro do Ultramar considerou que não havia interesse em aceitar qualquer colaboração da ONU e não aceitou que fosse endereçado à organização qualquer pedido oficial.
As concepções portuguesa e das Nações Unidas nesta matéria [DC] têm necessariamente de ser muito diferentes pois, enquanto naquela Organização o desenvolvimento comunitário se enquadra necessariamente na doutrina que nela se defende acerca da autodeterminação, nós encaramo-lo apenas como conjunto de técnicas para promover o aumento do bem estar das populações, no quadro da unidade política que abrange a Metrópole e as Províncias Ultramarinas.13
Como forma de aliviar a ansiedade relativamente ao seu potencial anticolonial, alguns autores argumentaram que o desenvolvimento comunitário seguia a tradição portuguesa já preconizada no decreto de 1933 sobre a organização e atribuições da administração colonial, a Reforma Administrativa Ultramarina (RAU).
Aqueles que recentemente descobriram a importância do desenvolvimento comunitário, e o tornaram o programa por excelência das organizações internacionais dependentes da ONU, são capazes de entender, talvez com algum desgosto, que mais uma vez se encontram com soluções portuguesas. [Moreira, 1961, pp. 341-342]
[N]ós [os portugueses] fomos, sem dúvida, os precursores do método hoje chamado desenvolvimento comunitário, embora os seus agentes [os funcionários coloniais] não estejam cientes de que certos sectores doutrinários assim designam parte do seu serviço normal. [Neto, 1962, p. 10]
Também aqui se nota a obsessão em atestar uma suposta prioridade portuguesa.14 De facto, o que a RAU determinava sobre as atribuições dos funcionários administrativos em relação à construção de estradas, postos sanitários, escolas e outras obras públicas não correspondia ao conceito de desenvolvimento comunitário, mas inseria-se numa lógica colonial hierárquica, que determinava a obrigação das populações locais trabalharem em melhoramentos públicos, sem qualquer pagamento. Esta ideia, no entanto, fez o seu caminho nas aulas de Adriano Moreira e em várias dissertações de licenciatura do ISCSPU (Cancela, 1966; Fernandes, 1966; Franco, 1966; Rolo, 1966). No decorrer dos anos 1960, ter-se-á eventualmente disseminado pela administração colonial.
Como Andreas Stucki (2020, p. 21) já notou, Alfredo Jorge de Passos Guerra, licenciado pelo ISCSPU e técnico de formação universitária da Junta Provincial de Povoamento de Angola, que em finais de 1964 passa a presidir à Comissão Técnica de Reordenamento Rural (CTRR) da Junta Provincial de Povoamento de Angola (JPP), evidenciava conhecer os debates em curso nas organizações internacionais (FAO, UNESCO, Departamento de Estudos Sociais da ONU) preocupadas com o desenvolvimento socioeconómico nos países em desenvolvimento. Porém, tinha fortes reservas em relação aos objetivos políticos dos programas da ONU em países como o México, o Brasil, a Índia, a China, as Filipinas ou o Gana. Algumas das suas ideias eram inspiradas nas práticas de desenvolvimento comunitário, por exemplo a defesa da criação de equipas móveis de desenvolvimento comunitário enquadradas por comissões de reordenamento rural de âmbito regional e local em toda a Angola. No entanto, fazendo eco de ideias em voga sobre o excecionalismo português, argumentava que Portugal tinha uma tradição mais longa de promoção socioeconómica das áreas subdesenvolvidas.15
Em termos programáticos, a CTRR, empossada em novembro de 1964, pretendia recorrer ao desenvolvimento comunitário para a promoção social das populações rurais africanas abrangidas pelos programas de reordenamento rural. A obra Organização e programas de desenvolvimento comunitário de Alfredo de Sousa, publicada em Angola pela JPP, era o seu guia de ação. A ideia de que “o desenvolvimento de uma população não está condicionado apenas pela existência e utilização de infra-estruturas materiais, mas sim depende em grande medida das infra-estruturas culturais (mentais, sociais e tecnológicas” (Sousa, 1964a, p. 5), determinava que estivessem no topo das prioridades o estudo das comunidades e a formação de pessoal para comunicar com as populações e coordenar a nível local a sua participação na elaboração e execução dos programas.
O inspetor superior da direção-geral de Economia do Ministério do Ultramar, José Fernando Nunes Barata, um economista católico com experiência profissional prévia no aparelho corporativo (tal como Alfredo de Sousa ou Maria Manuela Silva), chamado a analisar a informação-proposta da CTRR da JPP para o estabelecimento de planos parcelares de reordenamento rural em Angola salientava que o reformador e planeador da vida rural devia desenhar soluções que levassem em consideração o conhecimento científico, mas também as tradições populares e a mentalidade das populações. Considerava que os relatórios das organizações internacionais davam conta de imensas histórias de fracasso porque a mentalidade das populações locais não era tida em conta. Nunes Barata reconhecia que obras públicas grandiosas e o “fomento do betão” (sublinhado no original) se tornaram nalguns territórios subdesenvolvidos numa forma de ostentar a técnica europeia e de drenagem de recursos públicos. No relatório que preparou para o ministro do Ultramar, incluía uma lista dos documentos publicados pela FAO sobre bem-estar rural, uma lista das conferências da ONU sobre desenvolvimento comunitário, e, em anexo, três projetos de esquemas de bem-estar rural traduzidos da publicação da FAO, Essai d’Analyse du Bien-Être Rural, publicado em Roma em 1954.
Estas remissões, mais uma vez, demostram conhecimento atualizado sobre conceitos em circulação nas organizações internacionais, mas não nos devem fazer esquecer que qualquer ideia de autodeterminação dos colonizados não tinha cabimento no pensamento nacionalista deste reformista social católico. Barata (1963, p. 11), socorrendo-se da nota episcopal emitida na metrópole em janeiro de 1961, na qual “os bispos reafirmam a sua crença na linha providencial da História de Portugal, traduzida numa missão secularmente confirmada pela Igreja, que se realiza numa só Pátria, espalhada por vários continentes”, concluía: “Os católicos de Portugal ficaram mais uma vez cientes de que não há equívocos quanto à legitimidade da presença portuguesa no Mundo”.
Ação social em angola e a experiência das casas do povo
O sistema corporativo erigido pelo Estado Novo em Portugal, destinado a neutralizar a tensão laboral e a garantir a paz social, é considerado um dos principais pilares do regime, contribuindo para a sua consolidação e longevidade (Freire e Ferreira, 2019, p. 32). Na base da estrutura corporativa, as Casas do Povo eram órgãos especiais corporativos congregando trabalhadores agrícolas e proprietários. Esses organismos primários corporativos tinham sido estabelecidos na metrópole em 1933, à semelhança dos sindicatos nacionais e dos grémios dos sectores industrial e comercial.16 O Estado Novo considerava que o trabalho no campo não constituía uma profissão ou uma classe social, mas um ambiente social que reunia pessoas de diferentes classes unidas pelas circunstâncias da sua vida coletiva (Lucena, 1999, p. 246). Portanto, as Casas do Povo eram definidas como corpos sociais interclassistas e cooperativos com personalidade jurídica, desenhados para colaborar em três grandes domínios: previdência e assistência; instrução, desporto e lazer; e melhoramentos locais. Desde 1938, as Casas do Povo tinham também poder de negociação no âmbito da contratação coletiva. Sob a apertada supervisão do governo autoritário, as Casas do Povo podiam ser dissolvidas se as suas atividades fossem consideradas prejudiciais aos interesses da ordem política e social.
Em 1957, o Estado Novo criou as federações regionais de Casas do Povo e em 1969 foi promulgada uma reforma que procurava recentrar as atribuições das Casas do Povo na previdência social e igualar o papel das federações ao dos sindicatos nacionais.17 A legislação fundadora previa que fosse constituída uma Casa do Povo em cada freguesia, o que nunca veio a suceder. A expansão da rede processou-se lentamente, mas uma reforma do sistema de previdência durante o marcelismo, abrangendo os trabalhadores rurais e pequenos proprietários, acelerou o ritmo de criação de novas Casas do Povo e, em 1974, eram 1119 (Freire e Ferreira, 2019, pp. 263 e 265).
Michel Cahen (1984, p. 22) argumentou que o Estado português não almejou verdadeiramente instituir o corporativismo nas colónias; que não houve nenhum fascismo colonial porque o colonialismo não precisava da ditadura fascista para se impor; e que a formação social colonial era por si antagónica ao corporativismo fascista. Importa perceber porque é que na década de 1960, já depois do início da guerra em Angola contra o domínio português, se procurou concretizar por via legislativa e institucional o alargamento das Casas do Povo e das casas dos pescadores às colónias.18 O que tinha mudado? Em tese, a formação social colonial, pois com a abolição do estatuto dos indígenas das províncias de Angola, da Guiné e de Moçambique, todos os habitantes daqueles territórios, independentemente da origem racial, passavam a gozar dos mesmos direitos que os cidadãos portugueses, o que também pressupunha o fim do trabalho forçado.19 Deixando de haver indígenas, todos os portugueses (brancos ou negros) passavam a poder inscrever-se como sócios de organismos corporativos.
Pelo diploma que cria o ITPAS, “órgão superior da administração pública ultramarina, destinados a assegurar o estudo, elaboração e execução das normas de natureza social, designadamente em matéria de organização corporativa, trabalho e previdência”, antevê-se o surgimento de diversos organismos e mecanismos destinados a impedir a conflitualidade social/racial.20 Não dispomos de nenhum estudo sobre a história do ITPAS, mas sabemos que a sua concretização foi um processo lento e incompleto, num contexto de dificuldades orçamentais, agravamento da guerra e da condenação da política colonial portuguesa na ONU. Na segunda metade dos anos de 1960, malgrado o crescimento e complexidade da máquina burocrático-institucional, o “Estado corporativo” nas colónias estava apenas a dar os seus primeiros e titubeantes passos e, até ao início da década de 1970, pouco se avançou efetivamente nesse domínio.21
Em 1965, o boletim Trabalho, publicação do ITPAS, anunciou que a primeira casa do povo em Angola tinha começado a funcionar numa base experimental no posto sede do concelho de Cazengo (hoje N’dalatando), distrito do Cuanza (Kwanza) Norte. Também o Boletim Geral do Ultramar deu conta do “ensaio, integrado no programa de acção do Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social, que visa[va] colher elementos para a instituição generalizada daqueles organismos na Província” (Anónimo, 1965, p. 204). Rodrigo José Baião, editor de Trabalho e chefe dos Serviços de Acção Social do ITPAS, explicava que só tinham sido feitas mudanças mínimas ao modelo metropolitano, de modo a acomodar a “ecologia social” das comunidades locais (Baião, 1965, p. 137). A Casa do Povo era apresentada como uma entidade de cooperação social, destinada a defender os interesses morais, sociais e económicos dos seus membros; promover a segurança e o bem-estar sociais, educação de adultos e formação profissional, cultura geral (através de uma biblioteca, museu etnográfico e do trabalho, exposições e concursos), práticas desportivas e atividades de recreio (cinema, teatro, folclore, excursões, etc.); e colaborar com as autoridades locais no que respeita aos melhoramentos materiais e quaisquer obras públicas do interesse dos sócios.
Nas Casas do Povo da metrópole havia duas categorias de sócios: os “protetores natos”, chefes de família que eram proprietários rurais; e os “sócios efetivos”, que eram chefes de família e trabalhadores rurais. Em Angola, os associados podiam ser de quatro tipos: efetivos, provisórios, contribuintes e protetores. Os membros efetivos eram “trabalhadores rurais e pequenos produtores portugueses do sexo masculino”, que viviam na área da casa do povo, e outros portugueses chefes de família, com mais de 18 anos;22 os membros provisórios obedeciam aos mesmos requisitos que os efetivos, mas tinham entre 16 e 18 anos; os contribuintes detinham propriedades agrícolas ou empregavam trabalhadores na área da Casa do Povo; finalmente, os protetores eram pessoas ou entidades que de forma livre e regular contribuíam para a casa do povo. Ao contrário do que sucedia na metrópole, em Angola os sócios da Casa do Povo podiam não ser proprietários ou trabalhadores rurais. Segundo o artigo supracitado, a Casa do Povo de Cazengo contava com mais de quinhentos membros inscritos.23
A casa do povo de Cazengo funcionava num edifício no centro da pequena cidade de Salazar (N’dalatando) e dispunha de uma sala de espetáculos com capacidade para 300-400 pessoas, uma biblioteca, uma direção e serviços administrativos, um bar, serviços sociais, sanitários e balneários, um parque infantil e um campo de futebol. Sessões culturais de cinema (filmes de 16 mm), cinema comercial, bailes e outras atividades recreativas ocorriam numa base regular. O parque infantil devia dar lugar a uma creche, porque a maioria das mulheres africanas trabalhava nas lavras e nos serviços domésticos. Um campeonato de futebol começou no dia da inauguração da Casa do Povo. A biblioteca, com serviço presencial e domiciliário, tinha por base o acervo bibliográfico da Junta de Acção Social, livros e revistas oferecidos pela população e por casas editoriais e uma coleção completa de manuais escolares (do ensino primário e secundário) para os filhos dos sócios com dificuldades económicas. A coleção de material etnográfico, instrumentos de trabalho e amostras de produtos agrícolas estava a ser constituída. O bar devia combater a frequência da taberna e o consumo de bebidas alcoólicas. O serviço social era assegurado por uma assistente de família que dava aulas de costura, de educação doméstica, de higiene e de puericultura. Uma máquina de costura estava acessível em regime cooperativo às mulheres e às filhas dos membros da Casa do Povo. As aulas de adultos e a formação profissional, embora previstas, ainda não tinham começado. Reconhecia-se que a Casa do Povo precisava de mais técnicos: uma assistente social, uma assistente de educação, um monitor para as crianças e assistentes de família. Percebe-se que a Casa do Povo devia assegurar o controlo social, o reforço dos papéis de género na tradição católica e patriarcal e a doutrinação da comunidade na defesa do domínio português.
O artigo de Baião sugere que a sede do concelho de Cazengo foi escolhida para receber a primeira Casa do Povo em Angola devido às suas condições socioeconómicas e culturais: uma região onde a pequena propriedade (lavras de produtos alimentares e culturas de rendimento, especialmente café) e o trabalho rural e manual dominavam, pertencente ao distrito relativamente rico do Cuanza Norte; a população estava a atravessar um período rápido “de activo aportuguesamento” (Baião, 1965, pp. 140 e 146). Baião seguramente não ignorava que esta mesma região era, com os distritos do Zaire e Uige, a norte, um dos epicentros da insurreição que tinha rebentado apenas uns anos antes. Como salientou David Birmingham (1978, p. 523), “os treze anos de guerra de libertação que começaram nos campos de algodão e se espalharam aos musseques da cidade [de Luanda], explodiram na cintura angolana do café”.
Cazengo, habitado pelo povo de língua quimbundo (kimbundu), tinha sido desde 1830 uma região produtora de café, onde tanto europeus como africanos cultivavam café como cultura de rendimento (Birmingham, 1978). Maria do Mar Gago, que estudou a história do café robusta e a construção da Angola colonial, mostrou que, embora aparentemente a iniciativa tenha sido tomada por portugueses do Brasil que encontraram algum café silvestre e estabeleceram as primeiras fazendas na região, eles não teriam o monopólio da economia de plantação. Depois do fim da escravatura, as fazendas dos europeus e dos africanos dependiam de trabalho forçado. Paralelamente, pequenas lavras eram desde o início cultivadas por famílias africanas. Depois do fim das campanhas de ocupação, a pressão colonial sobre os produtores africanos aumentou, especialmente sobre os camponeses. Contudo, pelos anos de 1940, “todos os sectores da sociedade colonial - europeus, elite crioula (aristocracia mestiça), chefes africanos, africanos assimilados e camponeses africanos - estavam a cultivar café” (Silva, 2018, p. 76).
Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o café robusta beneficiou das altas cotações no mercado internacional. O chamado boom do café atraiu muitos colonos portugueses à região na década de 1950 e os camponeses africanos sofreram devido à sua competição e ao esbulho de terras. Porém, para além da história de espoliação e de trabalho forçado, o empreendedorismo local dos produtores africanos continuou a ser relevante no desenvolvimento da economia do café angolano (Vos, 2021, p. 3). Nos anos de 1960, o café mantinha uma posição de liderança entre as exportações angolanas, e em 1974 Angola era o quarto maior produtor mundial de café. Sectores da administração colonial portuguesa acreditavam que uma elite africana próspera mantida sob controlo e vigilância podia boicotar o movimento anticolonial. Daí que, no início dos anos 1970, apesar do protesto dos colonos brancos, os produtores africanos, descendentes dos antigos camponeses de Cazengo, tenham recebido apoio sem precedentes da parte do governo colonial, a braços com uma guerra longa e dispendiosa.24 Estes africanos parecem ter sido os destinatários preferenciais da tentativa de controlo e promoção social que a Casa do Povo corporizava.
A experiência da Casa do Povo de Cazengo revela algumas semelhanças com o projeto-piloto de extensão rural do Andulo (Castelo, 2020), dirigido pelo agrónomo alemão Hermann Pössinger, promovido pela Missão de Inquéritos Agrícolas de Angola e destinado ao aumento da produção e à promoção socioeconómica dos produtores africanos de café arábica. Em ambos os casos, estamos perante ensaios que resultam de um investimento direto do Estado, conduzidos em regiões ricas ou com potencial de rápido crescimento económico, escolhidas para funcionar como faixa tampão à subversão.
O ITPAS previa numa segunda fase desenvolver trabalhos de “mentalização e educação social dos associados e dirigentes”, assegurar o funcionamento pleno das secções e dotá-las de pessoal qualificado; numa terceira fase, tratar dos aspetos económicos, do fomento da produção agropecuária, do artesanato e da pequena indústria; e, em simultâneo, promover a instalação de delegações da casa do povo nas regedorias (Baião, 1965, p. 147). Ora, a criação das Casas do Povo nos meios rurais foi contestada pela JPP, através da CTRR. É sabido que o estado colonial não era um bloco monolítico; as suas tensões internas revelam disputas de autoridade, mas também diferentes conceções e abordagens a propósito da promoção social das populações locais.
Tal como o ITPAS, a JPP foi criada no seio da legislação preparada pelo ministro do Ultramar, Adriano Moreira, em reação ao início da rebelião em Angola.25 Órgão superior da administração colonial, dependente da Secretaria Provincial de Desenvolvimento Rural do governo-geral de Angola, a Junta era responsável pela condução e pela orientação de todos os assuntos relacionados com o povoamento do território e a coordenação, para este propósito, de qualquer iniciativa pública ou privada, independentemente do tipo de povoamento, por autóctones de Angola ou portugueses da metrópole. De acordo com o seu enquadramento legal, muito ideologicamente marcado, o seu fim último era contribuir para o ordenamento e progresso socioeconómico das populações e a sua integração na “sociedade multirracial que [Portugal] tradicionalmente tentou criar e sem a qual não haverá mais paz ou efectivo progresso”.26 Entre um conjunto muito vasto de atribuições, a JPP devia “[p]romover ou estimular quaisquer iniciativas destinadas a fortalecer os laços de solidariedade e convivialidade entre as diferentes classes ou grupos sociais ou étnicos, particularmente através de eventos desportivos, folclóricos ou culturais em geral, campos de trabalho para jovens, auto-construção de casas, etc”.27 Porém, contradizendo a ênfase na integração das elites africanas na ordem colonial, o objetivo principal da JPP era o incremento do povoamento branco e o reordenamento das populações rurais (Bender, 1980, p. 166).
Confrontada com a criação das Casas do Povo à sua revelia, a CTRR reiterou a exclusiva competência da JPP no refente ao trabalho de promoção social nos meios rurais.28 Nesse sentido, protestou e perguntou ao ITPAS pelas normas aplicadas nas experiências corporativistas em curso nas áreas rurais.29 Em resposta, o ITPAS explicou que as experiências deviam testar instruções provisórias tendo em vista a publicação futura de legislação definitiva sobre o assunto. Enviava as normas da Casa do Povo de Cazengo para apreciação e informava que a Casa do Povo de Mazozo-Catete (numa área rural do distrito de Luanda, a cerca de 54km da capital), entraria em breve em fase experimental. Acrescentava, finalmente, que estavam planeadas mais três unidades: a Casa do Povo de Tchioco (na área suburbana de Sá da Bandeira [hoje Lubango], distrito da Huíla, no sul de Angola); a Casa do Povo de S. Paulo (no bairro com o mesmo nome, em Luanda); e a Casa do Povo da Ilha de Luanda. O ITPAS clarificava que os principais fins da Casa do Povo de Mazozo eram: equipamento e uso integral do edifício; recreação; folclore; desporto; museu artesanal e do trabalho; desenvolvimento do artesanato e pequena indústria; educação pré-escolar; educação de adultos; prospeção e formação de líderes e angariação de membros; promoção da habitação; e educação social.30
Do ponto de vista do ITPAS, o sistema corporativo podia responder à consciência gregária das populações africanas, enquadrar e guiar o seu espírito associativo. Numa fase inicial, a organização corporativa devia ser de um “tipo indeterminado” - Casas do Povo ou centros sociais - e só depois deveria evoluir para a sindicalização e para a integração de categorias profissionais, quando a profissionalização, a estabilidade dos salários e a especialização assumissem uma verdadeira consciência profissional entre os trabalhadores. A difusão da doutrina corporativa estava dependente do treino de líderes corporativos, que deviam ser escolhidos entre as elites africanas e envolvidos na defesa e na gestão do interesse comum, junto com líderes não africanos (Cunha, 1965, pp. 85-86).
Por seu turno, o presidente da CTRR da JPP considerou que a construção do edifício da Casa do Povo de Mazozo não tinha sido precedido de um trabalho de mentalização da população. Além disso, a construção e o programa de melhoramentos usaram fundos públicos, mas a existência independente da Casa do Povo dependia ainda da formação de líderes e do recrutamento de membros.31 Mesmo sem saber quanto dinheiro fora gasto, Alfredo Jorge de Passos Guerra não reconhecia qualquer vantagem na multiplicação destas experiências e duvidava da capacidade do Estado de as dotar dos recursos financeiros e humanos necessários. Além disso, não acreditava que as Casas do Povo respondessem a necessidades reais sentidas pelas populações das áreas rurais nem que fossem representativas dos interesses das comunidades que serviam.32 Por isso mesmo, defendia que a construção de edifícios para Casas do Povo devia ser proibida. As experiências em curso eram suficientes para permitir uma reflexão séria, antes de se avançar com a proliferação de novos edifícios. Porém, o governador-geral de Angola, Silvino Silvério Marques, não concordou com a proibição da construção de novas Casas do Povo, limitando-se a recomendar que nenhuma Casa do Povo fosse construída sem o parecer prévio da JPP-CTRR e do ITPAS, numa tentativa de conciliação institucional e de diferentes modalidades de desenvolvimento.33
Conclusão
A experiência das Casas do Povo em Angola foi lançada depois da extensão da cidadania portuguesa a todos os habitantes, quando o aparelho político-ideológico do estado colonial se esforçava por disseminar ideias sobre a excecionalidade portuguesa: a alegada ausência de preconceito e de discriminação racial e a construção que supostamente estaria em curso de sociedades multirraciais na “África portuguesa”, harmoniosamente integradas no todo nacional. A experiência ilustra o quanto as políticas sociais estavam em discussão em Angola depois do início da guerra colonial e da abolição do indigenato. O seu caráter experimental é plenamente assumido pelo ITPAS. A experiência devia concorrer para a paz social em zonas suburbanas e rurais e para exorcizar os fantasmas da luta anticolonial, em particular na cintura cafeeira em volta de Luanda.
Ao contrário da deslocação forçada das populações das zonas de conflito aberto (norte e leste), as Casas do Povo em Angola envolveram um número muito reduzido de africanos, e foram pequenas experiências de controlo e de promoção social sem caráter explicitamente repressivo, na linha do projeto-piloto de extensão rural no Andulo. Encontramos o desenvolvimento e o esforço de “conquista de mentes e corações”, intimamente imbricados nestas iniciativas. Têm merecido atenção os efeitos disruptivos dos aldeamentos e o aparente sucesso da extensão rural. Fica por apurar a repercussão da limitada experimentação corporativa a nível local.
Este estudo de caso revela uma luta de poder e distintas opções no seio da máquina do Estado em Angola. O ITPAS procurava ensaiar soluções corporativas em zonas potencialmente permeáveis à subversão, priorizando a disponibilização de serviços e a concretização material. A JPP não abdicava do monopólio de intervenção fora dos centros urbanos, nem da opção programática pelo desenvolvimento comunitário, e considerava prematura, dispendiosa e perigosa a experiência das Casas do Povo que o ITPAS encetou, dado que, a seu ver, não estava assegurada a “mentalização” (no fundo, a lealdade) das comunidades beneficiadas.
O artigo põe em evidência que o debate sobre a implementação de Casas do Povo em Angola - uma experiência de adaptação de um modelo corporativo com algumas décadas de existência na metrópole - não deixou de ser “contaminado” por conceções e práticas que circulavam internacionalmente. Em tempos de guerra e de escrutínio internacional apertado, esse conhecimento era seletivamente apropriado e reutilizado para provar a “prioridade” portuguesa em relação ao bem-estar social das populações africanas, e para responder aos desafios da superação da divisão racial, da economia dual e do grande hiato de oportunidades que constituíam a própria essência do colonialismo. Sectores do regime autoritário sensíveis às preocupações da doutrina social católica no que respeita ao desenvolvimento estavam dispostos a tentar soluções de planeamento e de integração nacional, com vista a estabelecer uma terceira via, para lá da supremacia branca e da independência africana no sul do continente.
Agradecimentos
Uma versão preliminar deste texto foi elaborada no âmbito do projeto “Os mundos do (sub)desenvolvimento: processos e legados do império colonial português em perspectiva comparada (1945-1975)”, coordenado por Miguel Bandeira Jerónimo, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e apresentada à International Conference Worlds of Social Policies, realizada em Lisboa, a 6 e 7 de fevereiro de 2020. Agradeço aos participantes nesse encontro, a Frederico Ágoas, a Jelmer Vos e aos revisores anónimos da Análise Socialos seus comentários em diferentes etapas de maturação deste trabalho.
Fontes primárias
ANÓNIMO (1965), “Política social. Angola”. Boletim Geral do Ultramar, 41(482), pp. 204-206.
BAIÃO, R. J. (1965), “Casa do Povo de Cazengo - Salazar”. Trabalho: Boletim do Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social de Angola, 10, pp. 137-147.
BARATA, J. F. N. (1963), Estudos sobre a Economia do Ultramar, Lisboa, CEPS.
CANCELA, A. (1966), A Terra e o Desenvolvimento Comunitário em Moçambique. Dissertação de licenciatura, Lisboa, ISCSPU.
CCTA (1955), Social Sciences Inter-African Conference. 1st Meeting Bukavu 1955. Londres, CCTA.
CCTA/CSA (1957), Rural Welfare Inter-African Conference. 2nd Meeting Tananarive 1957. Londres, CCTA/CSA.
CUNHA, A. (1965), “Política do trabalho e promoção social em Angola”. Trabalho: Boletim do Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social de Angola, 10, pp. 77-89.
FERNANDES, J. A. S. (1966), A Mulher Africana: Alguns Aspectos da Sua Promoção social em Angola. Dissertação de licenciatura, Lisboa, ISCSPU.
FRANCO, C. G. (1966), Da Utilidade e Viabilidade dos Métodos de Desenvolvimento Comunitário em Programas de Promoção Sócio-Económica em Algumas Regiões de Angola. Dissertação de licenciatura, Lisboa, ISCSPU.
GUERRA, A. J. P., VEIGA, J. B. (1970), Revisão do III Plano de Fomento: Promoção Social, Luanda, JPP.
MOREIRA, A. (1961), “Problemas sociais do Ultramar”. In Diagonais de Aculturação, número especial de Portugal em África.
NETO, J. P. (1962), “Política de desenvolvimento comunitário nas províncias portuguesas de África”. Separata da revista Ultramar, 9.
POLANAH, L. (1974), “Extensão rural e desenvolvimento comunitário”. Reordenamento, 31, pp. 3-9.
PONSIOEN, J. A. (1960), “Community development as a process”. International Review of Community Development, 6, pp. 29-38.
PORTUGAL. PRESIDÊNCIA DO CONSELHO (1964), Projecto de Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967, vol. 1, Lisboa, Imprensa Nacional.
PORTUGAL. PROVÍNCIA DE ANGOLA. DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA GERAL. REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA GERAL (1964a), 3.º Recenseamento Geral da População. 1960, 1.º vol. População segundo os grupos étnicos, estado civil e idades, Luanda, Imprensa Nacional.
PORTUGAL. PROVÍNCIA DE ANGOLA. DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA GERAL. REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA GERAL (1964b), 3.º Recenseamento Geral da População. 1960, 4.º vol. População segundo as condições perante o trabalho, Luanda, Imprensa Nacional.
PORTUGAL. PROVÍNCIA DE ANGOLA. JUNTA PROVINCIAL DE POVOAMENTO (1966), Comissão Técnica de Reordenamento Rural: Casas do Povo nos meios rurais, Luanda, Junta Provincial de Povoamento.
ROLO, J. S. (1966), Reordenamento rural em Angola (Contribuição para o Seu Estudo). Dissertação de licenciatura, Lisboa, ISCSPU.
SILVA, M. M. (1962), Desenvolvimento Comunitário - Uma Técnica de Progresso Social, Lisboa, Associação Industrial Portuguesa.
SILVA, M. M. (1964a), “O desenvolvimento comunitário como técnica de aceleração do desenvolvimento das regiões retardadas”. Estruturação de um processo de Desenvolvimento Comunitário: Lições proferidas no Seminário realizado em Braga, em Outubro de 1964, pela Equipa de Estudo e Experimentação de Desenvolvimento Comunitário, Braga, Livraria Editora Pax, pp. 15-27.
SILVA, M. M. (1964b), “Oportunidade do desenvolvimento comunitário em Portugal”. Análise Social, 2 (7-8), pp. 498-510.
SOARES, A. C. (1961), Política de Bem-Estar Eural em Angola, Lisboa, JIU.
SOUSA, A. de (1963a), “A preocupação económica no desenvolvimento comunitário”. Análise Social, 1 (3), pp. 464-467.
SOUSA, A. de (1963b), Desenvolvimento Comunitário e Desenvolvimento Económico, Lisboa, UTL.
SOUSA, A. de (1964a), Desenvolvimento Comunitário em Angola, Lisboa, UTL.
SOUSA, A. de (1964b), Organização e Programas de Desenvolvimento Comunitário. [Luanda], Junta Provincial de Povoamento de Angola.