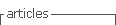I. Preâmbulo
“Onde é Portugal?” Embora tenha pouca simpatia por prisões disciplinares, devo, no entanto, reconhecer que não sou francamente competente para responder a esta pergunta. Contudo, aceitei o desafio que me impus porque me parece que, apesar das fraquezas do texto que se segue, terá pelo menos o mérito de confirmar um teorema que me é caro: a localização não é um dado prévio e intangível que condiciona tudo a ele relacionado, mas uma informação relativa à dinâmica dos lugares.
II. Portugais
As “coordenadas geográficas”, isto é, geométricas, de um local são úteis, mas não suficientes para definir uma localização, isto é, a posição deste ponto em relação a todos os outros. Colocar o lugar-Portugal no mapa? Sim, mas apenas se compreendermos que, desde que a palavra “Portugal” apareceu pela primeira vez, os mapas mudaram, a própria ideia de mapa mudou. O preço a pagar por assumir a existência de um lugar, comum a tudo aquilo a que um nome de lugar se pode referir em toda a sua “carreira” como topónimo, é aceitar a relatividade, assumir que um lugar nunca deixa de se mover, assim que se muda de época ou de ponto de vista.
Esta relatividade depende das ações daqueles que podem ser chamados os habitantes deste lugar, quer sejam estáveis ou móveis, quer fiquem lá, quer passem por ele ou sejam conteúdos - o que não é um feito de segunda categoria - para sonhar com ele, amá-lo ou odiá-lo de longe. Com exceção de alguns geógrafos ou cartógrafos obsoletos, todos os observadores estão de facto de acordo sobre este ponto.
Em agosto de 2022, o Courrier International, uma revista semanal francesa que recolhe artigos da imprensa mundial, publicou um dossier intitulado “Portugal, a Califórnia da Europa”. Dos muitos artigos nele contidos, tanto de publicações portuguesas como anglófonas, emerge que existem três tipos de ligações entre a Califórnia e Portugal: semelhanças diretas, tais como a Ponte 25 de Abril e a Golden Gate Bridge; uma atratividade entre os dois espaços expressa pela fixação de cada vez mais californianos em Portugal; e uma relação semelhante a um espaço abrangente, Europa e América do Norte. Alguns até sugerem - como quarto tipo de ligação - que Portugal e a Califórnia são duas atualizações do mesmo espaço genérico, feitas de abertura, inovação e abertura ao oceano. Em cada comparação, os atores e as métricas diferem, mas são sempre as espacialidades (ações) que fazem os espaços (ambientes). A pergunta “Onde?” é outra oportunidade para verificar que, embora seja verdade que os atores espaciais atuam sob as restrições dos ambientes, os contextos em que se movem e em que predispõem as suas ações, é igualmente verdade que o atuar espacial é a força motriz da fabricação de ambientes espaciais.
Este artigo explora várias localizações de Portugal no mapa do mundo. Em seguida, tenta encontrar coerência na coleção de lugares que são rapidamente resumidos por um único topónimo. Ao mesmo tempo, ilustra a diversidade de significados de um lugar a partir da minha experiência de indivíduo, tanto racional como emocional, estética ou ética, apresentada em caixas inseridas no texto. Também para mim, como pessoa, se coloca a questão “Onde estão os meus Portugais?” e as muitas respostas que tenho dado através das minhas diferentes práticas geográficas não são fáceis de unificar.
Comecei a explorar a Europa com os meus pais e o Portugal de Salazar e Caetano não fazia parte deste continente de lugares a descobrir. Espanha, sim, mas porque o trabalho da minha mãe como professora de espanhol lhe permitia, pensava ela, contornar a proibição que o partido comunista, do qual ela era uma militante zelosa e à qual ela era, de resto, muito leal, colocou em qualquer colaboração com o regime de Franco. Portugal estava muito mais longe, conhecido apenas através de alguma informação sobre a repressão da PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) e a venda furtiva da revista Portugal Livre nas ruas de Paris. É verdade que eu tinha encontrado uma fonte pessoal para me ligar a este país: tinha seguido entusiasticamente o sequestro, em 1961, do transatlântico Santa Maria pelo seu capitão Henrique Galvão. Quando tive de nomear o modelo de um navio que um amigo tinha projetado para enfrentar o swell das bacias dos jardins públicos parisienses, não hesitei: chamar-se-ia Galvão. Isto não impediu Portugal de permanecer situado numa geografia abstrata, digna da minha solidariedade, mas inalcançável, o que o condenou a permanecer para sempre no limbo das minhas viagens potenciais. Ao mesmo tempo, estava a redesfrutar do Brasil do Homem do Rio (L’homme de Rio) de Philippe de Broca (Dancigers et al., 1964), aquela alegre aventura em que participámos, ao vivo, com Jean-Paul Belmondo, na construção de Brasília, a nova capital de um país que finalmente parecia menos exótico e ao mesmo tempo mais desejável do que Portugal, atolado numa miséria e tragédia sem fim.
III. Ser é estar, estar é ser
Entre as línguas indo-europeias, o português, o espanhol e o catalão caracterizam-se pela existência de dois verbos, ser e estar, que para expressar o que nas outras línguas desta família pode ser feito com um.
O verbo ser é linguisticamente justificado para tornar as situações menos contingentes do que o resto da enunciação ou o seu contexto. O que aprendi de geografia, porém, leva-me a valorizar especialmente estar, que abre o mundo dos lugares e dos momentos. “Aqui está o MFA” (MFA - O Movimento das Forças Armadas), costumavam gritar em Lisboa de 1974. O Mundo está. A situação (o ato de situar e as consequências deste ato) é um bom antídoto para a metafísica “continental” (também muito situada) que se agarra às essências para evitar a fadiga da “contingência”. Logicamente, a conclusão do artigo é que a resposta à pergunta “Onde é Portugal?” é: em lado nenhum, e que a resposta à pergunta alternativa “Onde estão os Portugais?” é: em todo o lado.
Não há geografia trans-histórica e todas as realidades ficam temporariamente em alguma posição no tempo e no espaço antes de retomar a sua jornada. Ao cometer este aparente erro gramatical no meu título, quero levar a sério a questão onde? ao indicar claramente que ela não vem depois de outras que seriam substanciais, que se relacionariam com a necessidade quando a questão espacial seria apenas contingente. Não. Saber onde é Portugal é saber o que é Portugal.
Eu consentiria em reformular o título como “Onde está Portugal?”, mas com a condição de que os manuais escolares desistam de começar com a frase: “Portugal é uma nação costeira no sudoeste da Europa”, mas que escrevam em seu lugar: “Portugal está uma nação costeira no sudoeste da Europa”, significando assim: “Acontece que Portugal é o território de uma sociedade de escala e substância nacional localizado na margem litoral sudoeste de um espaço atualmente identificado como Europa”. Enquanto não deixarmos de essencializar a Terra, não podemos dessencializar o Mundo.
IV. A terra do mar?
A proximidade do mar é, desde há muito, um elemento da mitologia nacional desenvolvida pelo Estado português e, em certa medida, pela sociedade portuguesa em geral. O hino nacional, cujos versos foram escritos por Henrique Lopes de Mendonça, começa com a frase “heróis do mar” e, no exórdio final, chama às armas “na terra, no mar”. O seu autor era oficial da Armada e pode-se pensar que ele estava ansioso para promover a sua corporação. Este hino é um contributo patriótico que se opõe, pelo seu tom marcial, aos britânicos que, traiçoeiramente, com o Ultimato inglês de 1890, procuravam retirar o recheio ao mapa cor-de-rosa da África portuguesa. A Portuguesa substituiu, aliás, o antigo Hino da Carta (1834-1910), que celebrava o rei, a “santa religião” e a “divina constituição”. Seria o mar a religião laico-imperial de Portugal, comparável à “harmonia” do “hexágono” para a França?
Em Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, Orlando Ribeiro (1945) desenvolve uma abordagem naturalista na esteira de Paul Vidal de La Blache. Também escolhe os mares como referência para deduzir toda a vida social do país. O mar é obviamente uma personagem proeminente dos Lusíadas de Luís de Camões (1572) e esta obra foi, sem dúvida, uma matriz na construção do imaginário nacional português. Mas ainda podemos encontrá-lo numa obra vocal do grande compositor de música contemporânea Emmanuel Nunes (1941-2012), Machina Mundi, cujo libreto é constituído maioritariamente por excertos dos Lusíadas, desenvolvendo uma geopolítica marítima que Nunes associa à “máquina do Mundo”. Nesta obra, não nos surpreendemos ao encontrar outro grande criador da imaginação, Fernando Pessoa, que também fala do mar.
Detetamos novamente esta mesma travessia do tempo pela valorização do mar na ambiciosa obra de estetização da estação “Parque” do metro de Lisboa da autoria de Françoise Schein em 1992. No âmbito de um projeto desenvolvido pela associação Inscrire, que consiste em trazer o ideal democrático às estações de transporte público, a artista plástica tem atuado de forma comparável em diversas cidades. Só que, na expressão lisboeta, Schein decide associar esta abordagem às descobertas marítimas dos portugueses. O azul e o verde dominantes de todos os azulejos que cobrem as abóbadas e a presença de duzentas criaturas marinhas inventadas por Federica Matta não deixam dúvidas sobre a mensagem: Portugal = mar + cidadania.
Lembro-me de uma manifestação em frente à prisão de Caxias, nos subúrbios de Lisboa, em dezembro de 1975. Os manifestantes exigiam a libertação de presos envolvidos numa tentativa de golpe comunista. Eles cantam: “Portugal não será o Chile da Europa!” Os polícias que bloquearam a marcha respondem com: “Portugal não será a Rússia da Europa”. Nos anos 1970, Portugal procurava um lugar no mapa
V. Quem são os teus vizinhos no mapa?
Do século XII ao XVII, o duo/duelo com Espanha definiu a geopolítica europeia de Portugal e depois, em registo semelhante, foi a Inglaterra que o assumiu. Encontramos histórias comparáveis com a Hungria, tendo de se submeter à Áustria dos Habsburgos para se livrar dos otomanos, ou a Ucrânia buscando desesperadamente um lugar entre vários impérios por uma política de alianças à la carte que acabam por se revelar perdedoras. Portugal lembra a Finlândia, que conseguiu muito bem e com um nível limitado de violência (exceto na terrível guerra soviética de 1939) colocar gradualmente os seus vizinhos suecos e russos à distância para acabar por existir como uma sociedade independente. Mas também a Suíça se considerarmos que, desde 1668, Portugal nunca mais perdeu o seu estado. Como adeptos das artes marciais, alguns pequenos países souberam jogar habilmente com forças superiores. A ode ao mar é uma forma de dizer: não vamos ficar frente a frente com ninguém.
A partir de Pedro, o Grande, a Rússia inventou para si mesma, com os Urais, uma fronteira da Europa que a atravessaria, o que lhe permitia estar presente em dois continentes em vez de ser percebida pelos europeus como localizada num além-terra exótico que, era, no entanto, uma realidade nesta época e talvez seja ainda mais hoje. Portugal fez o mesmo inventando um novo vizinho rico em significados, o mar, que permitiu tanto evitar a porta fechada com Espanha como reforçar a ideia de um “chamamento” do mar, gerador para sempre de um destino mundial.
Olhando mais de perto, rapidamente se percebe que, de acordo com diferentes estilos, todos os “impérios projetados” (Lévy, 2011), aqueles que se desenvolveram “no exterior” longe do seu quintal “interior”, fizeram o mesmo. Desvalorizar a dolorosa vizinhança imediata porque composta por rivais de força comparável à nossa; valorizar um mundo excitante onde os nativos falam a nossa língua e só pedem, acredita-se, para se assemelharem a nós, sem poderem alcançá-lo totalmente, o que torna possível adotar uma postura benevolente, mas sempre paternalista. Nos álbuns de Tintim, o mais-que-francês Capitão Haddock, reclama que os habitantes dos países que visita se recusam a “falar francês, como todo o mundo”.
Nesta vasta família, a “Françáfrica” das décadas que antecederam e seguiram a descolonização oficial e Portugal antes de 1974 são provavelmente os mais próximos porque, em ambos os casos, a pretensão de dar lições de todo o tipo às sociedades escravizadas distinguia-se de um “pragmatismo” que se resumia ao essencial: nada de pseudo-universalismo quando os índios foram autorizados a jogar críquete. Os franceses tiveram o descaramento de negar aos indígenas argelinos o direito de voto enquanto alegavam que “A Argélia é a França” e que isso garantia aos colonizados um acesso aos “valores universais da República”. Encontramos esta ideia na forma “pedagógica” com que o Estado português explicou aos habitantes das suas colónias que só queria o seu bem. Hoje, em França, são mais os movimentos de inspiração terceiro-mundista, que assumiram a tocha desse oxímoro, invertendo aparentemente a mensagem sem renunciar a um papel autoproclamado de uma emancipação necessariamente exógena dos ex-colonizados.
Em outubro de 2022, acompanhei a eleição presidencial brasileira em São Paulo. Fazia alguns anos que não ia lá e fiquei impressionado com a onda de miséria avassaladora, principalmente no centro histórico transformado em acampamento de sem-abrigo. Reparei também que o estatuto do “padeiro português“ mudou: era a vergonha daqueles imigrantes pobres que só sabiam fazer pão e falavam português com um sotaque ridículo. Agora é um trunfo. A padaria é um sucesso mundial e, no Brasil, é a padaria portuguesa que a personifica.
VI. Navegar
A força do imaginário português recente é ter adotado o poema de Nicolás Guillén (1958):
Por el Mar de las Antillas/(que también Caribe llaman)/batida por olas duras/y ornadas de espumas blandas,/bajo el sol que la persigue/y el viento que la rechaza,/cantando a lágrima viva/navega Cuba en su mapa:/un largo lagarto verde,/con ojos de piedra y agua… (“Un largo lagarto verde” (Guillén, 1958))
Cuba “navega no seu mapa”, o que significa que está em movimento sobre um fundo inevitavelmente afetado por esse movimento. E se, de facto, começássemos a navegar, não nos mares, mas no mapa? A despedida das colónias e o projeto europeu mudaram o referencial espacial de Portugal. Tornando-se, em vez de um mundo distante, um território no qual se tornava desejável deixar-se envolver, a Europa livrou-se subitamente dos seus falsos vincos geográficos uma sociedade que estava pronta para dar esse ferro libertador.
É o que propunha o cantor Chico Buarque em 1975 quando celebrava a Revolução dos Cravos num Brasil ainda ditatorial:
Sei que há léguas a nos separar
Tanto mar, tanto mar
Sei também quanto é preciso, pá,
Navegar, navegar
(Chico Buarque, ”Tanto mar”, Tanto mar, 1978)
O lagarto também pode ser um camaleão: durante a viagem, o navegador metamorfoseou-se, aquele que era visto por todos como periférico - subindo da “periferia isolada” para a “periferia anexada” e depois “integrada”, se usarmos os termos de Alain Reynaud (1981) - para que no final, se tudo correr bem, não haja mais periferia, mas variantes de um centro, que não o impede todavia de se mover. As três margens sudoeste da União Europeia, Espanha, Irlanda e Portugal, não só “assimilaram” (como dizem de um imigrante que acaba por assemelhar-se aos habitantes do seu país de acolhimento), como jogaram dos dois lados da integração: mudando-se sob a influência do ambiente e, por essa mesma operação, alterando-o.
Portugal não para de mostrar a sua diferença: com a Grécia (jogando, custe o que custar, o bom aluno financeiro da Europa) e a Espanha (esquecendo a escala única do nacionalismo) e, em geral, com o resto da política do continente ao inventar sem complexos um progressismo pós-social democrata tão difícil de instalar alhures. Desde a crise de 2008, Portugal não só demonstrou a sua “resiliência” em condições particularmente adversas, como soube inovar para atrair o mundo exterior e desenvencilhar-se sem percalços do peso do conservadorismo. O país do qual se fugia levando da sua tristeza um viático tornou-se o país que tantos outros celebram e escolhem. A tão portuguesa saudade alimenta-se de agora em diante de memórias de acontecimentos que ainda não aconteceram.
O “sistema métrico europeu”, quero dizer, o sistema europeu de métricas, é a possibilidade de todos definirem suas distâncias uns dos outros, com a única condição de que este jogo seja de soma positiva: todos podem ganhar. Só nos podemos aproximar. Se não acreditarmos na eficácia dessa liberdade, dessa igualdade, dessa solidariedade e dessa responsabilidade, vamos meditar no nosso canto sobre o nosso esplêndido isolamento, como a Grécia quase fez e o Reino Unido realmente fez. Portugal entende muito bem esta língua, porque é sua. Os seus sucessos solitários custaram-lhe caro e acredita na densidade no sentido de Peter Sloterdijk (2005): um tecido apertado de interações que protege e projeta.
Descobri o Porto várias décadas depois de Lisboa. A minha primeira tentação foi pensar no Porto como uma variante bizarra de Lisboa. O rio, o mar e a cidade eram os mesmos, mas dispostos de maneira diferente. Depois de um tempo suficiente de imersão, percebi que era uma maneira preguiçosa de ver as coisas. O Porto é uma cidade de espírito hanseático, organizada pelo comércio, literal e figurativamente, de todas as interações que fazem viver uma sociedade civil. Expressa, ainda melhor do que a Lisboa de hoje, um Portugal que se despediu da geopolítica para escutar os seus habitantes, permanentes ou efémeros, fisicamente presentes ou ligados por mil fios imateriais. Esta descoberta tardia moveu Portugal no meu mapa, tornando-o um país de redes tanto quanto de territórios.
VII. Pequeno império, grande império, pequeno país, lugar do mundo
Antes de ser um grande império ultramarino, Portugal era um pequeno império contínuo, com o Condado de Portucale colonizando o sudoeste da Península Ibérica. Isso torna a estabilidade ainda mais incrível. Até ao final da Reconquista, um norte cristão e grosseiro procurava dominar um sul muçulmano e refinado. A localização de Lisboa, deslocada a sul, representava, na sua época, o mesmo que Istambul para o Império Otomano ou São Petersburgo para a Rússia, onde era útil concentrar as suas forças para promover futuras conquistas.
Em 1974, entre Braga e Évora, entre Bragança e Beja, ainda havia um mundo de diferenças. A geografia das primeiras décadas de eleições livres assemelhava-se a uma cisão geopolítica, com a linha da frente substituída por confins ambíguos, entre Leiria e Santarém. A cor comunista do Alentejo pode remeter à da Andaluzia: latifúndios e trabalhadores agrícolas por contraste com os pequenos camponeses do norte, mas também outro modo de vida, outra sociedade. É o que nos mostram Pedro Lopes e Tiago Guedes na série Glória (2021) às vésperas da mudança para outra história, na zona tampão do Ribatejo, cuja localização é imprescindível. Durante o Verão Quente de 1975, certamente não foi por acaso que Rio Maior foi um local de confronto emblemático entre comunistas e anticomunistas.
Portugal como espaço integrado é, portanto, uma realidade bem recente. No entanto, resta explicar dois milagres da história à portuguesa.
Primeiro milagre: como um país tão pequeno conseguiu conquistar e manter um império tão grande?
Sem querer ou poder dissipar completamente o mistério, não é inútil relativizar as escalas de tempo e espaço e saber bem qual é a substância que está em jogo. Nem as dimensões dos países, nem as durações históricas, nem as dominações imperiais devem ser vistas com o olhar anacrónico que lançamos sobre o espaço contemporâneo. Isso não impede que o unilateralismo (o oposto de densidade para Sloterdijk (2005)), a possibilidade de uma pequena fração da humanidade influenciar o curso da história mundial tivesse então um significado, que hoje perdeu. O estado heroico celebrado por G.W.F. Hegel não é mais atual, exceto para déspotas lunáticos: devemos reclamar?
Segundo milagre: porque as fronteiras de Portugal não mudaram desde 1250? Aqui, novamente, podemos pelo menos verificar a sua realidade nas suas consequências recentes.
Quando, em 1975-1976, Portugal foi tentado a cair na violência e os campos estavam claramente localizados no Norte e no Sul do país, viu-se que o risco era de guerra civil, não de guerra geopolítica. Foi um crash test indiscutível: ninguém colocou em causa a unidade geográfica do país. Havia um espaço nacional capaz de transcender, em caso de necessidade, as suas componentes. Desde então, esse confronto horizontal entre regiões tem sido desafiado por uma organização em rede de grande poder. Quase metade da população portuguesa vive nas duas principais áreas urbanas, mais de dois terços em sete áreas urbanas. Este é antes de mais o Portugal de hoje. Agora vota-se lá, como em toda a Europa, de acordo com o tamanho e a posição na cidade onde se mora. Uma invenção portuguesa, a freguesia, permite compreender que também existem identidades infralocais dignas de prosperar desde que não pretendam ocupar o lugar (como até agora em França ou na Suíça) das sociedades urbanas de escala local, isto é, diária. Essas redes e territórios não são mais justapostos, mas sobrepostos. Portugal entrou, com força e com calma, no mundo da coespacialidade, com as suas inúmeras camadas e os conectores que, esperançosamente, as ligam.
Em todo o caso, aconteceu, mas recentemente, um terceiro milagre: Portugal encontra-se hoje, sem sempre o saber, numa região da Europa pouco diferente daquela onde os seus mitos queriam colocá-lo durante tanto tempo: o Atlântico. E, surpresa, este espaço não está localizado na margem do continente, mas na sua linha de crista: da Noruega a Portugal, passando pelo Benelux, pelas Ilhas Britânicas, pela França e pela Espanha, é a parte do continente onde a sociedade de indivíduos de Norbert Elias (1994) é mais visível: mais sociedade e mais indivíduo. Uma sociedade pós-género sem tabus. Uma sociedade onde a geopolítica já não envenena a política. Uma sociedade que se pode orgulhar dos seus sucessos porque é lúcida sobre seus fracassos. Em matéria de drogas, ao colocar as políticas públicas sob a égide da saúde e da paz civil, Portugal tem-se distinguido de muitos países, sobretudo europeus, que repetem a Lei Seca e, em nome de injunções antropológicas sobre “boas” e “más” drogas, deixam os Al Capones prosperarem nas suas cidades. Este pragmatismo da liberdade e da igualdade: isso poderia, ou pelo menos, deveria ser uma definição da europeidade.
Fiz um programa de trabalho para explorar países de língua portuguesa em quatro continentes. Fiquei espantado com o contraste, em Macau ou em Goa, entre um urbanismo tipicamente português, muito diferente de Hong Kong ou de Mumbai, enquanto a língua portuguesa ali quase desapareceu. Ao contrário, no Brasil, a língua está lá, mas o resto, muito menos, e a África permanece mais ambígua entre a memória profunda e o impacto superficial. Nos Açores, tentei perceber, sem sucesso, a diferença entre ananás e abacaxi. Acima de tudo, em Cabo Verde, vi uma hibridação bem-sucedida entre Portugal e não-Portugal. Concluí assim: A lusitanidade passa primeiro pela música: Zeca Afonso (1929-1987), Cesária Évora (1941-2011) e Caetano Veloso (1942-...) têm muito em comum, muito mais do que os seus ouvintes imaginam. Uma globalização discreta que me leva consigo.
VIII. Lusitanidade
Em Le pays des Européens, escrito com Sylvain Kahn (Kahn & Lévy, 2019, pp. 35-36), dissemos:
Os europeus amam o Brasil e os brasileiros: Baía do Rio, samba, futebol, caipirinha, telenovela, Carnaval... Um país novo, acolhedor e cheio de energia que nos tira da atmosfera crepuscular do Velho Continente. Portugal também tem uma imagem bastante boa junto dos europeus, que frequentam de bom grado as praias do Algarve, Lisboa ou Madeira. Não dizem não ao bacalhau nem ao fado e escutam com atenção os incentivos financeiros para aqui virem instalar-se. No entanto, Portugal ainda é visto como um país pobre, em todo o caso periférico, um país do sul da Europa, que conhecem antes de mais pelos seus emigrantes, pedreiros, porteiros ou taxistas. O Brasil parece mais dinâmico, inovador e próspero do que Portugal. No entanto, no ranking de 2018 do índice de desenvolvimento humano, Portugal ocupa a 41ª posição com o valor 0,847 (a Noruega é a primeira com 0,953, a França a 24ª com 0,901) enquanto os países europeus ocupam sete dos dez primeiros lugares. O Brasil, por sua vez, está em 79º (0,759), superado por oito países de língua espanhola na América. Se considerarmos as desigualdades, o Brasil acaba por ser um dos países do mundo onde as disparidades entre ricos e pobres são maiores (índice de Gini: 51,3, contra 41,5 nos Estados Unidos) enquanto o de Portugal é de 35,5 (os países da União Europeia entre 27 e 38).
Portugal carece de massa - mas isso só vale para lógicas de estoque, não de fluxo. Portugal perdeu guerras, e isso também é uma força. Na Alemanha, acabou por resultar. Na Hungria, ainda não. Em todo o caso, os sucessos providenciais nas guerras de independência costumam oferecer rendas perversas como a do petróleo, e é difícil recuperá-las como na Roménia, na Sérvia ou na Grécia. No Brasil, ainda se acredita nas massas e nas vitórias. Flexionam-se os músculos para se assemelhar a um rival dos EUA e torná-los culpados das suas próprias falhas. Sob o pretexto que no mundo só existem falsos amigos, à esquerda e à direita do cenário político brasileiro, vira-se as costas aos ucranianos que lutam por valores e Putin que os atropela (os ucranianos e os valores). Os países mais prósperos do mundo hoje são pequenos países que renunciaram aos estoques e à guerra.
É também por isso que a lusitanidade tem futuro. O português é uma língua mundial, está entre o quinto e o sétimo posto segundo a forma de contagem. Mas ninguém a vê como uma língua imperial, o que não é o caso do francês, que, no entanto, pesa menos. Muitos observadores veem a “Francofonia” como um veículo imperial disfarçado. Ninguém desconfia de tal projeto na lusofonia, em parte porquanto as principais massas de oradores estão claramente do lado do Brasil e não da antiga “metrópole”. Como língua veicular que integra e vai além, pela democracia da comunicação de passados gloriosos e dolorosos, o português é uma oportunidade para todos os seus falantes. Continua a ser um recurso parcialmente ignorado para as centenas de milhões que o fabricam cada dia. É uma contribuição gentil e modesta à globalização cultural. É por isso que os melhores representantes de uma sociedade são aqueles que conseguem distinguir a cultura, que pressupõe a reflexividade, do culturalismo, que a nega.
O espaço da língua alemã na Europa tornou-se, por razões facilmente compreensíveis, um tabu que é hora de quebrar. Para o português, não há negação, mas potencial inexplorado. É um futuro virtual apenas esperando para ser atualizado.
Lisboa não foi na maior parte das minhas estadias um local de trabalho como Londres ou Bergamo, nem um local sobredeterminado por um encontro amoroso como Munique ou Teerão, nem mesmo um espaço multifacetado como Nova Iorque ou São Paulo. Não é bem como Paris, um ambiente tão envolvente que tenho dificuldade em caracterizá-lo. Lisboa é mais do que um catalisador para uma viagem através das camadas da minha intimidade. É o lugar de uma bijeção sempre confirmada entre duas singularidades, a dele e a minha: vejo-me ali ao olhar para ela, mas como uma viagem íntima que me tranquiliza e me estimula. Uma alegoria dinâmica (Lisboa continua a mudar e a mover-se) da minha própria identidade em mutação. Lisboa é como eu, só que é melhor.
IX. Singularidade universal
Quando se lê um jornal como o Público, que valoriza uma distância crítica do fluxo de notícias, depara-se constantemente com análises psicopolíticas (Lévy, 2022) da sociedade portuguesa. Tal como os outros europeus, os portugueses tornaram-se cidadãos-indivíduos e as questões psicológicas convidam-se à cena pública. A questão é saber que traços de caráter estão em vantagem. Chegando a este momento da história política, carregamos toda uma herança mais ou menos agradável, mais ou menos útil e não podemos fugir ao seu inventário detalhado. A tradição de submissão ao discurso autorizado que caracterizou o longo período hierárquico da história de Portugal deve ser superada. Mas se esse ir além retoma alguns elementos do passado e inclui a ideia de escuta, de renúncia à violência verbal e de benevolência inicial, tanto melhor. Todos - indivíduos, coletivos, sociedades - mexem com o seu passado e analisar o estado dessa agitação é uma boa forma de captar a dinâmica de uma sociedade como num instantâneo fotográfico.
Com a sua Ética, publicada em 1677 e banida no ano seguinte, o pós-português, pós-judeu e pós-holandês Baruch/Benedict Espinosa (Espinosa, 1992) soube transmutar o afetivo em cognitivo e vice-versa. Mas ele foi condenado a desistir de viver em qualquer aqui. As diferentes comunidades que pretendiam escravizá-lo não hesitaram em ameaçá-lo e puni-lo por querer pensar e viver livremente. Os portugueses finalmente fizeram as pazes e receberam a sua mensagem. Tornaram-se espinosistas: observam-se com lucidez em vez de julgar os outros e fazem de seus sentimentos recursos para a razão. Há muito esmagados pela norma moral, navegaram silenciosamente em direção a valores éticos, já inventados ou ainda por imaginar. No filme biográfico Hannah Arendt, de Bettina Brokemper e Margarethe von Trotta (2012), vemos Hannah Arendt responder a um amigo que critica a sua dureza com o “povo judeu”: “Não gosto de nenhum povo”. É por isso que a atividade política mais inovadora consiste em distinguir a cultura, que pressupõe a reflexividade, do culturalismo que a nega. Assim, três séculos e meio depois, a evidência de que Portugal e Espinosa se merecem mutuamente acaba por ser o suficiente para se poderem reencontrar.
Neste texto, a singularidade de Portugal não está em dúvida, ainda que seja totalmente histórica e móvel. Não se trata apenas de uma combinação de “fatores”, é uma invenção específica. O que também vemos é até que ponto esta singularidade pode entrar numa conversa entre habitantes do Mundo. Quando uma sociedade diz: “Eu sou”, isso deveria significar sempre não só: “E quanto a ti?”, mas também “E quanto a nós?” - um nós incluindo aquele que faz a pergunta e aquele que a responde. E este constrangimento manifesta-se a todas as escalas, do local ao global. Nesta conversa aberta a todos participa com as suas palavras, cores, cheiros e ritmos, um lugar contemporâneo que, pela simplicidade, chamamos Portugal.