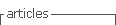Partimos desta ideia: ao estudar a História das culturas escritas, ocupamo-nos dos nossos dias. Ou, dito de outra forma, aquilo que entendemos como questões atuais tem uma dimensão temporal que importa ter presente. Até porque muitos equívocos, lugares-comuns, e mesmo erros de análise poderiam ser contrariados por uma visão um pouco mais aprofundada do que existe. Poder-se-ia, por exemplo, deixar de repetir angústias como se fossem novidades, algumas das quais têm um peso desmesurado no nosso quotidiano. É certo que a leitura passa hoje por mudanças rápidas, que não sabemos exatamente onde conduzem. São mudanças talvez mais radicais do que a que teve lugar com Gutenberg e os tipógrafos do século XV. Mudanças, que, além da sua própria natureza, abrangem um número incomparavelmente maior de pessoas, se pensarmos no mundo reduzido de quem tinha acesso direto aos códigos escritos até há pouco mais de cem anos.
Angústias e problemas. Entre as primeiras, temos os fantasmas do desaparecimento do livro, da diminuição do leque vocabular disponível, da iliteracia crescente, seja pela perda de competências, seja pela redução das práticas associadas à leitura, seja ainda pelo modo como o tempo introduz obstáculos de compreensão a textos e narrativas passados. Entre os segundos, interrogamos o saber do que falamos quando falamos de livros, procurando entender as modificações, grandes e pequenas (não necessariamente menores), por que passaram as culturas escritas ao longo de mais de cinco mil anos, a nível planetário, e questionar a variação das formas de acesso aos produtos das culturas escritas, incluindo nesta equação não apenas os objetos produzidos, mas os sujeitos transformados que a eles acedem. Neste especto, há que considerar a confusão de registos (escritos, orais, diferentemente formais, informais, rápidos, lentos, precários, aparentemente fixos, coletivos, isolados, íntimos, públicos, etc.). Entendamo-nos, não temos destes processos uma ilusão de progresso contínuo, onde nada se perde, mas julgamos que apenas se pode compreender o que acontece questionando a complexidade do que existe e de como se chegou onde se chegou.
Alguns exemplos:
a) ler poesia hoje, pensando que se trata de um género adequado à leitura individual, é ignorar os processos mnemónicos, rítmicos e de rima, repetitivos, concebidos para a memória auditiva e para espaços de partilha através da voz, que foi desde logo a sua natureza nas culturas orais, onde a interação do bardo com a audiência dava à narrativa o sentido apropriado ao momento;
b) falar do fim do livro, pensando no objeto impresso, ignora que a história dos “livros” não tem cinco séculos, mas cinco milénios, e que as próprias palavras que estão na raiz desta que agora usamos (liber e biblion) são muito anteriores à imprensa com caracteres móveis, e anteriores mesmo à forma que se naturalizou, de livros com folhas presas num dos seus lados por uma lombada, folhas que se podem virar, com registos dos dois lados de cada uma, forma que acabou por substituir os rolos, e que não tem ainda mil e oitocentos anos. Nesta história têm lugar as placas com escrita cuneiforme, os dípticos e os polípticos (tabuinhas de madeira ou marfim unidas por tiras de couro ou cordões e que eram cobertas de cera na face onde se escrevia), a seda, a folha ou rolo de folhas feitas com pasta de bambu ou de papiro, os pergaminhos e os códices, de que um dos indícios mais antigo será o Logia Iesu, uma folha de papiro com cerca de 33 por 20 centímetros encontrada nos lixos de Oxyrhynchus: no canto superior direito de um dos lados duas letras do alfabeto grego, iota (ι) e alfa (α), sugerem estarmos a ler uma décima primeira página de um texto que continua no verso. Na série conhecida por Biblioteca de Nag Hammadi (século IV dC) evidenciam-se os aspetos básicos do in-fólio: em cada volume as folhas de papiro são envolvidas em pele de carneiro ou cabra, enroladas por sua vez em tiras de couro;
c) pensar a perda da informação resultante da transição da correspondência por carta em papel e fax para a comunicação eletrónica é não considerar que parte dessa transição cria (e não perde) comunicação escrita, quando se transita da conversa e do telefonema para o e-mail e o sms e que se está apenas a comparar o que se conservou com o que potencialmente se perderá. Uma problematização mais premente será a dos efeitos da diluição das fronteiras linguísticas e culturais nos processos de alfabetização e literacia e, desde logo, nos padrões de comportamento e comunicação à escala global, potenciados pela emergência das infraestruturas da escrita digital e computacional;
d) lamentar a perda de referências de leitura que eram clássicos há 50 anos, frequentemente faz-se esquecendo que, ainda há um século, muitas dessas referências eram leituras de diversão, vistas como ameaças às “verdadeiras” formas de cultura. O ato de ler é uma experiência temporal e situada, funda e revela aspetos vitais da nossa personalidade e subjetividade e da tomada de consciência do corpo e dos gestos que se sedimentam - por exemplo, os muitos sentidos do mero movimento de afastar os olhos da página - de memórias e disposições percetivas associadas às palavras.
Por outro lado, a diversidade das formas de conservação e transmissão de textos vai muito além do que possa ser identificado como livro. Essa diversidade levanta problemas de articulação, complementaridade e, eventual substituição. Operamos dispositivos eletrónicos - computadores, iPhones, iPods, smartphones -, segurando-os entre as mãos, ou depositando-os num atril ou suporte de leitura como fazemos com os livros. E, no entanto, eles induzem mudanças no que diz respeito à preservação dos conhecimentos e à gratificação intelectual: podemos processar enorme volume de dados sem recurso a sistemas de classificação e apenas a partir de palavras-chave; intensifica-se o carácter disputador e dialético do conhecimento e ganha relevância o desempenho individual e a interação imediata; no debate sobre os novos modos de pensar e como pensar no contexto dos projetos baseados na Inteligência Artificial os seus defensores dizem que os resultados dependem da qualidade dos dados postos ao dispor dos sistemas computacionais e dos seus níveis de sofisticação algorítmica.
O livro não é uma aldeia sujeita a um cerco hostil, aldeia cujos habitantes são os portadores de uma cultura irremediavelmente condenada. Na pintura, por exemplo, a presença do rolo, da pedra ou tábua escritas, ou do códice, torna-o centro das atenções e da comunicação: transformam-se os suportes e as circunstâncias e o ato de ler mantém esta consistência, longevidade e variedade como veículo da busca das significações das atividades humanas. Estudar a história das culturas escritas, das formas de leitura e, em particular, a história desse objeto multiforme a que se chamou livro, permite seguir várias crises, vários momentos de aflição. Em diversas circunstâncias muito distantes no tempo, uma parte da comunidade temia e anunciava desgraças decorrentes de mudanças por que o saber estava a passar, mudanças que viam como perda.
Podemos pelo menos assinalar três desses momentos.
No primeiro, a extensão do recurso ao registo escrito parecia afetar a memória e criava formulações rígidas e sem capacidade de dialogar com quem lia. Melhor era conversar e lembrar, pois, estar escrito sem saber de nada valia. Esse era o temor de Sócrates, reproduzido por Platão, no Fedro, há 2500 anos, num período charneira na origem de uma linguagem analítica e teórica e que aquele filósofo debatera no Crátilo, diálogo em que o sofista que dá o nome à obra argumenta terem os nomes uma relação natural às coisas, e em antítese o seu interlocutor nega-a e afirma ser a linguagem um sistema arbitrário. Marcel Jousse1 faz eco desta conjuntura no conceito de sociedades “verbomotoras”: aquelas em que os sistemas de escrita, com um número limitado de signos, assumem as funções de comunicar, preservar e transmitir conhecimentos, e tornam-se a base para apreender e transcrever e dar sentido às vozes e às realidades, retirando relevância aos contextos orais e performativos.
Num segundo momento, a imprensa, que para a posteridade significou a capacidade de multiplicar de forma rápida todo o tipo de textos, representava várias ameaças. Substituía copistas sabedores por artesãos ignorantes, deslocava os centros de produção para fora dos espaços onde tradicionalmente o saber era cultivado, as instituições religiosas e de ensino, multiplicando situações de acesso a textos e criando situações de potencial descontrolo. Esse temor foi, há 500 anos, resolvido pela institucionalização das censuras, entre outras formas de mediação.
Num terceiro momento, a proliferação de livros e jornais no século XIX, paralelo ao aparecimento do editor como profissional independente, parecia vir abastardar a cultura estabelecida, mais uma vez deslocando o poder sobre os textos e levando à circulação de produtos menores (a “evidência” dos factos denunciados). Os jornais levavam à preguiça de ler, com textos curtos, traduzidos e retraduzidos, e os romances, que também usavam os jornais para a sua difusão, eram a prova final da degeneração do gosto, também neste caso resultado de traduções. Os editores, como antes os tipógrafos, originários de meios externos à “verdadeira” cultura, estariam interessados apenas no que dava lucro e resultados rápidos. Este temor, expresso por muitos escritores e académicos que olhavam para a turba multa com desdém, existia há cerca de 150 anos.
Em todas estas situações, um elemento comum é a desconfiança nas capacidades (e mesmo nas vantagens) da leitura por parte da maioria. A frase “agora todos leem” foi sendo repetida de cada vez que, em vez de dez leitores, passava a haver cem, ou em vez de cem, passava a haver mil, com a convicção de que esse alargamento era, além de pernicioso, inútil. As grandes declarações que envolvem “todo o mundo e ninguém” são, normalmente, hipérboles preguiçosas, com uma diferença, porém, relativamente aos nossos dias. Hoje a frase não refere “todo mundo” e tornou-se “já ninguém lê, já ninguém entende”. É manifesto o paradoxo de se dizer que “já” ninguém lê, no momento em que a percentagem de pessoas com acesso direto a textos escritos é a mais alta de sempre, juntando a evolução dos universos de alfabetizados à diversidade de formas de leitura e à presença obsessiva de mensagens escritas em todos os domínios do quotidiano. Mas o problema é real, no sentido em que não se lê como já se leu, nem os mesmos objetos de leitura merecem a mesma atenção. O lugar, o estatuto e a fortuna de livros e jornais mudaram, arrastando problemas de novas iliteracias. Criou-se a necessidade de novas competências, provocando exclusões que não existiam antes e, ao mesmo tempo, retirando poder e alcance aos objetos e formas que a leitura tinha até recentemente. Neste processo, há inegavelmente perdas. Estaremos a atravessar um tempo de menor capacidade de concentração? E a deixar de ler livros grandes? Esse era um temor velho de há mais de duzentos anos (contra o tempo de leitura dos jornais) mas, ainda hoje, alguns dos bestsellers mundiais têm mais de quinhentas páginas, e nem por isso são “grandes livros”. Ao mesmo tempo, os jornais perdem leitores, sobretudo nas edições em papel e as enciclopédias têm muita dificuldade em competir com as informações disponíveis à distância de um click. Convergem questões de capacidade de concentração com questões de esforço, mas também de autoridade. Ou melhor, de autoridade que se não respeita ou valoriza.
Voltamos ao passado e às tensões entre mensagens com diferentes formatos, diferentes suportes e também autoridades contraditórias. As vozes tinham um alcance reduzido no tempo, mas muitos ouvintes disponíveis, e a sua credibilidade sempre foi duvidosa. Falar, todos podiam. Mas a voz estava sempre em confronto com os textos escritos. Os materiais impressos, nomeadamente os livros, tinham a sua autoridade reforçada pelos crivos que tinham de atravessar, e não apenas os censórios. Já muito antes da imprensa, se pronunciara no senado romano a frase tornada provérbio “Verba volant, scripta manent”, podendo significar tanto o poder da escrita (que permanece) no tempo como o poder da oralidade (que voa) no espaço. Como saber se uma voz diz a verdade? E como fixar e reproduzir essa voz, se não for pela palavra escrita? Sucede que a imprensa vai trazer outra distinção, sempre associada a duas condições, a da facilidade de produção e a do alcance da mensagem. Um papel manuscrito pode ser suspeito como uma voz, quando o livro impresso afirma a sua autoridade. Qualquer pessoa o pode escrever, mas é mais precário. As fronteiras, neste caso, deslocam-se. Como não pensar num paralelo com a muito fácil, precária e mutável comunicação digital, com a diferença que o seu alcance é muito maior? As “vozes” que se temiam e criticavam, a “murmuração” de há trezentos anos, agora ocupa os ecrãs. As confusões de registos sucedem-se. O que é comunicação privada?
Para além de se tratar de práticas eruditas, importa considerar o modo como as culturas escritas foram ocupando os terrenos da comunicação, passando de práticas de poder e de elites a instrumentos indispensáveis do quotidiano da maioria das pessoas. Esta consideração não diminui a importância da cultura literária nos nossos dias, ou o papel que a leitura tem, a todos os níveis, na promoção do espírito crítico, livre, informado, na promoção da inclusão social. António Cândido2 falava mesmo em direito humano de efabulação, associado à prática da leitura. Nesse sentido, é não apenas um direito social, mas um instrumento indispensável de cidadania. Mas a compreensão do modo como as práticas de comunicação em geral, e as culturas escritas em particular, se transformaram e impuseram ao longo do tempo, leva a valorizar as diferenças e nelas, as práticas de expressão onde os registos escritos não são elementos preponderantes, ou onde nem sequer existem. Ou seja, a compreensão da importância da escrita não lhe vem de se projetar acriticamente a sua realidade e a sua eventual necessidade no passado, mas de entender como se tornaram imprescindíveis nos últimos séculos e, em particular, na atualidade, através de formas concretas que devem ser estudadas nos seus contextos, dinâmicas, virtualidades. Paradoxalmente, podemos dizer que o desenvolvimento das culturas escritas criou, ao longo dos séculos, formas de exclusão que não existiam, passando a ser necessário o seu domínio para ultrapassar essas exclusões, e para promover a apropriação coletiva de todas as possibilidades e património de conhecimento entretanto criado, mesmo continuando a valorizar formas alternativas de expressão e de existência.
Compreender as diferenças é também compreender como se transformaram no tempo as condições de legibilidade. Referimo-nos a tantas mudanças que fazem com que aquilo que era adequado tenha deixado de o ser. Questões como os tipos e tamanhos de letra, relações entre texto e imagem, características das imagens, marcam muitas das diferenças. Compare-se a primeira página de um jornal da primeira metade do século XIX, outro de meados do século XX e um dos nossos dias. Compare-se as páginas de livros infantis de há cem anos e hoje. Comparem-se, neste mesmo tempo, capas e lombadas. Compare-se a normalização. Mudaram-se tamanhos e desenhos de letras, mudaram-se cores. E, entretanto, não se trata apenas de questões técnicas e de gosto. Mudaram os leitores. As crianças não são as mesmas, nem como fase etária, nem como pessoas que passaram por uma dada experiência estética, ou de formação.
Persiste o facto de querermos tudo significar: desmultiplicam-se as interpretações sobre o que está numa forma literária; capacitamo-nos a ler e descodificar a realidade com os livros que lemos e nos leram na infância e com as leituras ao longo da vida - incluindo periódicos, sinais de trânsito, sms e tweets, cartazes publicitários e folhetos informativos, marginálias a denunciar a relação de cada leitor a uma obra em particular.
Neste percurso, a atenção às mudanças e às diferenças obriga a não reificar as formas culturais do presente, e as suas projeções acríticas, seja no passado, seja no futuro, fugindo a tomar por universais, ou essenciais, modos, objetos e práticas que as sociedades foram construindo num período relativamente breve e limitado da sua existência. A sua compreensão não menoriza essas formas. Torna-as mais complexas e mais ricas. O desenho e a cor desenvolveram-se extraordinariamente na era da impressão mecânica, a ilustração ganhou relevância na cultura editorial e na implantação do livro científico e erudito e ajudou os propósitos pedagógicos e informativos de estudiosos, sábios e editores. Noutro âmbito, os autores do livro-de-artista (Brogowski, 2010; Drucker, 2004; Dupeyrat, 2012; Godfrey, 1998; Wasserman, 2007) criam formatos físicos para exprimirem visualmente motivações estéticas e autobiográficas, político-sociais, de ativismo ambiental e cultural, ou visarem processos de alfabetização e literacia - onde a opção pelo “livro” envolve em todas estas modalidades o exercício de estratégias de produção e receção em contexto de mudança social, individual ou política, conjugando muitas vezes o saber-fazer artesanal e as artes visuais para aproximar, com uma intencionalidade democrática e cívica, a arte da vida.
Fazer uma história de culturas escritas, formas de leitura e livros é, portanto, uma forma de questionar o presente mais atual, enquanto se procura lembrar, preservando-o, o rico património bibliográfico acumulado ao longo dos séculos. Como demonstram as bibliotecas ou os arquivos digitais, a relação entre os defensores das tradições literárias ou textuais e as chamadas novas tecnologias não está condenada ao fracasso.
Ao contrário dos maus presságios segundo os quais os livros eletrónicos iam condenar as bibliotecas tal como as conhecíamos a desaparecer, constata-se um futuro promissor para estes espaços extraordinários de sociabilidade e intercâmbio. Isto é comprovado pelos números dos negócios de livros de alguns países europeus, incluindo Portugal e Espanha. Do mesmo modo, o comércio das artes do livro pode ter perdido algum terreno no mercado em geral, mas especializou-se na produção de livros de artistas e títulos de luxo com tiragens curtas e de excelente qualidade.
Como já foi referido, a História do Livro dá-nos a oportunidade de considerar outros períodos que foram tidos por absolutamente críticos e que foram ultrapassados através da especialização ou adaptação a novas circunstâncias. O advento do livro impresso não marcou o declínio do manuscrito, mas sim a sua especialização em usos específicos, mais solenes ou expressivos, mais reservados ou particulares. No final, aquilo de que se trata - e idealmente se tratava - é de divulgar e comunicar conhecimentos e expressão individual ou comunitária, sem esquecer outras implicações ou efeitos não menos importantes, tais como o simples prazer literário.
Do ponto de vista da investigação histórica, tornar as ricas coleções documentais acessíveis aos novos investigadores aumentou o número daqueles que decidem dedicar-se à investigação. Bem diferente será aceitar que a digitalização de textos e documentos possa justificar a destruição dos originais sob o pretexto de alegadas dificuldades de armazenamento e preservação, algo que já aconteceu com séries de publicações periódicas dos séculos XIX e XX. Do mesmo modo, não se deve ignorar o risco que a digitalização pode implicar para a perda das variedades materiais do livro como objeto historicamente considerado, desde o formato à encadernação. Neste sentido, deve reconhecer-se que o desenho material do livro é uma realidade que, deixando de lado a nostalgia do leitor ou os seus devaneios, contém relações sensoriais complexas que as telas são incapazes de transmitir de uma forma totalmente satisfatória. A materialidade do livro - o seu toque, o seu peso, as suas dimensões ou mesmo o seu cheiro - não se coaduna com ecrãs que os dotam de uma uniformidade ahistórica. Um exemplo é a aplicação de ferramentas digitais para a imagem e o desenho no livro para crianças, que promoveu o intercâmbio entre autores e ilustradores de lastros culturais distintos, mas pouco impactou no crescimento do mercado de e-books. O livro sensorial, impresso, é bastante maioritário nas livrarias e bibliotecas de literatura infantil e acumula experiências de descoberta e inovação de procedimentos, formatos e novos territórios gráficos desde o século XIX - Lothar Meggendorfer (1847-1925) lançou então o livro móvel e o livro-brinquedo (pop-up), e Randolph Caldecott (1846-1886) criou o livro-cénico.
Uma das lições mais subtis da História do Livro e da Leitura é que uma biblioteca é mais do que a soma dos livros que contém, sendo capaz de se tornar um espaço auto-referencial que cria significado para si próprio como um todo. Da mesma forma, o livro e a leitura modernos ajudaram a constituir novos “espaços” reais e, sobretudo, imaginados. Por um lado, a história das culturas escritas e da leitura do período entre os séculos XV e XX ilustra a emergência tanto da figura do autor individual como da nova comunidade conhecida como “os públicos”. À medida que os conhecemos, os autores e os públicos modernos foram sendo estreitamente ligados à imprensa escrita.
Num processo de rápida expansão, a partir de meados do século XV espalhou-se de Mainz, na Renânia, por toda a Europa Ocidental, chegando a Goa, México, Lima, Macau e Manila antes do final do século seguinte. Vale a pena lembrar, contudo, que espaços muito amplos permaneceram fora desta esfera de influência, espaços que continuaram a animar as suas próprias tradições de voz, imagem visual e, quando apropriado, diferentes formas de escrita, desde a melhor caligrafia até ao ideograma, manuscrito ou xilogravura. Em suma, não adotar uma impressão de tipo metálico móvel não foi uma sentença de atraso cultural e civilizacional, apesar do que acreditavam os iluministas e os colonialistas.
Em comparação com o sistema de cópia de manuscritos, que era mais ágil e profissionalizado do que imagina o senso comum, a nova tecnologia do tipo de metal móvel para copiar textos através de uma ars artificialiter scribendi - uma arte mecânica da escrita - levou basicamente a que as cópias aumentassem em número, fossem relativamente mais baratas, porque a mecânica tipográfica permitiu reduzir o tempo gasto na sua produção, e que as cópias obtidas fossem mais uniformes no seu texto, como resultado da impressão a partir de um único molde. Em suma, graças à imprensa, os livros tornaram-se mais numerosos, mais baratos, mais rápidos e mais iguais, se nos é permitido dizê-lo desta forma.
É, portanto, compreensível que o livro historicamente considerado esteja ligado à emergência tanto do autor moderno como do público moderno, num processo em que a figura do criador individual se consolida, como o seu nome e a sua obra, mas também o seu retrato, e se tornam conhecidos por uma massa indiscriminada de leitores que, no entanto, não se conhecem entre si e que apenas partilham o interesse por certos autores e/ou géneros. Este autor individualizado e totalmente moderno é aquele que foi consagrado como um herói criativo que poderia mesmo intervir nos assuntos do governo e pensar a política comum como um intelectual.
A construção do autor moderno, porém, foi dificultada pela ausência de sistemas de propriedade intelectual, cuja proteção abrangente é relativamente recente, datando do século XVIII em Inglaterra e em França. De facto, a sua criação coincidiu com a nova definição do Iluminismo do que é um livro, abrangendo tanto o seu aspeto de escrita material como o conteúdo das suas ideias, tornando-se ambos propriedade do seu autor material e intelectual.
A emergência de um público moderno não passou despercebida nem aos autores, nem aos comerciantes de livros ou aos poderes públicos. Os primeiros conseguiram alcançar a fama na sua própria vida, tornando-se ricos e mesmo celebridades, como aconteceu com Erasmo, Descartes ou Voltaire, e tiveram também de suportar o assédio dos seus leitores, como os viajantes que passavam pela porta da casa de Pietro Aretino em meados do século XVI em Veneza. Os negociantes de livros criaram um tipo particular de capitalismo editorial, imprimindo à sua própria custa os autores, títulos ou géneros com os quais esperavam fazer bons negócios, como o livreiro Francisco de Robles fez com o romance Don Quixote de Cervantes em 1604. Finalmente, os poderes puderam fazer um magnífico uso da impressão manual, que lhes permitiu realizar campanhas de propaganda e legitimar as suas realizações e interesses a partir do final do século XV. A este respeito, vale a pena recordar que Filipe II mandou trazer uma tipografia para Badajoz em 1580, onde foram produzidas cópias dos seus textos de propaganda para distribuição noturna nas cidades portuguesas próximas da fronteira.
A propaganda impressa dos vários poderes - monárquico, nobiliárquico, eclesiástico, municipal, etc. - criou canais para a circulação de notícias e modelos que foram amplamente difundidos na sociedade do Antigo Regime. Contudo, num processo lento e gradual, começou também a servir para a criação de uma esfera pública incipiente da qual nasceu a opinião pública, consagrada como um valor constitucional pelas revoluções liberais do século XIX. Desta forma, o controlo dos governantes pelos governados constitui um dos principais processos sociais e políticos que pode ser associado à História das Culturas Escritas, o qual, sem dúvida, deve ser compreendido e difundido dada a sua importância para a nossa própria visão do mundo cultural e político.
O aparecimento de públicos que sustentavam aventuras editoriais, e posteriormente, já no século XIX, o aparecimento da figura profissional dos editores e das suas empresas, também põe em causa algumas narrativas acerca das alegadas ameaças atuais sobre o trabalho dos editores. Contrariamente às vozes correntes que se baseiam nas modernas facilidades técnicas para produzir um livro, os fenómenos que conhecemos de autopublicação devem ser comparadas com o que eram outras formas de autopublicação anteriores à emergência dos editores como profissão. A perda eventual do papel dos editores não decorre dessas facilidades, mas de menor sustentabilidade económica das suas empresas, quando se torna clara a necessidade de competências, também no terreno da edição digital, que recorram a uma variedade de papéis de mediação, escolha, promoção, filtro, criação, conceção e produção, onde sobressai a capacidade de saber dar a ler, de antecipar a leitura.
Hoje, também testemunhamos com surpresa e algum receio, nem sempre infundado, o aparecimento de novos meios de comunicação ou de novos autores e leitores, num mundo que parece recuperar formas materiais do “não-livro” nos ecrãs, enquanto surgem modos reforçados de censura e propaganda, mas também novos canais de expressão e aquisição de cópias textuais. A história cria a oportunidade de refletir sobre o que se pode entender que tenham sido as anteriores crises da escrita e da leitura.
Nesta aproximação monográfica sobre “O Livro no seu Tempo: Lugares, Matérias, Formas e Técnicas” retomamos circunstâncias que fizeram da história da escrita e do livro e das suas migrações o estímulo de fruições filosóficas, científicas e artísticas e da mutabilidade do conhecimento. De modo complementar, como escritores e editores, artistas e bibliotecários e bibliófilos, investigadores e académicos, livreiros e leitores, foram e são agentes do trabalho humano contra o esquecimento, os silenciamentos sistémicos, as censuras e expurgos dos seus conteúdos, ou mesmo a destruição de acervos e bibliotecas.
Em meados do século XVIII, Louis Antoine Caraccioli (1721-1803) queixou-se de uma mudança no gosto dos leitores, especialmente dos jovens, que não liam racionalmente, mas abordavam os livros de forma circunstancial e epidérmica, como se estivessem a olhar, e não a ler, os cristais coloridos de uma lanterna mágica. Como resposta sarcástica, em 1760, publicou Le livre de quatre couleurs, uma obra maravilhosa em tetracrómio que estava de acordo com a moda visual que parecia ter rebentado para acabar com os livros. Mas nem livros nem leitores desapareceram, nem o mundo dos livros acabou, afogado pelos cristais da lanterna mágica, uma antecipação dos ecrãs que hoje também nos podem fazer aprender, desfrutar e transmitir sem esquecer o livro e os seus magníficos ofícios.
Orientações bibliográficas sobre o tema
Atton, C. (2002). Alternative media. Sage Publications.
Bynum, D. E. (1978). The daemon in the wood: A study of oral narrative patterns. Harvard University Cambridge.
Camplin, J., & Ranauro, M. (2018). The art of reading: An illustrated history of books in paint. Getty Publications.
Carpo, M. (2017). The second digital turn: Design beyond intelligence. The Massachusetts Institute of Technology Press.
Dethurens, P. (2018). Éloge du livre : Lecteurs e écrivains dans la littérature et la peinture. Éditions Hazan.
Drucker, J. (2022). Inventing the Alphabet: The origins of letters from antiquity to the present. The University of Chicago Press.
Havelock, E. A. (1996). A Musa aprende a escrever: Reflexões sobre a oralidade e a literacia da antiguidade ao presente. Gradiva.
Houston, K. (2016). The book: A cover-to-cover exploration of the most powerful object of our time. W. W. Norton & Company.
Kalir, R., & Garcia, A. (2011). Annotation. The MIT Press.
Lalwani, B. (2018, January-June). Documenting the history of the banished book: Bharti Lalwani in conversation with Shubigi Rao. Take on Art, 1(4), 170-173.
Macé, M. (2022). Façons de lire, manières d’être. Gallimard.
Marcus, L. (2023). Pictured worlds: Masterpieces of children’s book art by 101 essential illustrators from around the world. Abrams Books.
Niffenegger, A. (2007). What does it mean to make a book?. In K. Wasserman (Org.), The book as artist’s books from the National Museum of Women in the Arts (pp. 12-13). Princeton Architectural Press.
Ong, W. J. (1967). The presence of the word: Some prolegomena for cultural and religious history. Yale University Press.
Ong, W. J. (2002). Orality and literacy: The technologizing of the world. Routledge.
Parry, A. (Ed.). (1971). The making of homeric verse: The collected papers of Milman Parry. Clarendon Press.
Parry, M. (1928). L’épithète traditionnelle dans Homère: Essai sur un problème de style homérique. Société d’Éditions Les Belles Lettres.
Pettegree, A. (2011). The Book in the Renaissance. Yale University Press.
Rao, S. (2016). Pulp: A short biography of the banished book. Rock Paper Fire.