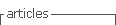Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Análise Social
Print version ISSN 0003-2573
Anál. Social no.172 Lisboa Oct. 2004
André Freire, Marina Costa Lobo e Pedro Magalhães (orgs.), Portugal a Votos: as Eleições Legislativas de 2002.
Nos trinta anos do 25 de Abril, a edição de um livro como este é um contributo fundamental para a democracia. Dir-se-á que esta asserção se pode aplicar a muitos livros, o que é verdade. Mas o que este livro tem de distintivo, de único, é que serve como poucos para configurar com rigor a nossa consciência e as nossas atitudes no exercício da democracia. Trata-se de uma fotografia da qualidade da nossa democracia, que nos traça o perfil com uma nitidez pouco comum em relação ao que se fez até hoje, embora nos deixe — e tenha deixado os autores — com vontade de saber mais, de conhecer melhor algum granulado da imagem.
Resultado do primeiro, sublinho primeiro, Estudo Eleitoral Nacional em Portugal, um inquérito pós-eleições legislativas de 2002, levado a cabo pelo projecto «Comportamento Eleitoral e Atitudes Políticas dos Portugueses », este trabalho é pioneiro e fundamental para podermos ter uma perspectiva comparada e sistemática das nossas práticas políticas. Aliás, se há algum reparo a fazer, é que só nos últimos anos se tenham reunido condições para este estudo.
Importa também dizer que os organizadores, André Freire, Marina Costa Lobo e Pedro Magalhães, liderados por António Barreto, se têm distinguido pela publicação de um conjunto de estudos de sociologia política e eleitoral que são hoje instrumentos imprescindíveis para quem queira avaliar com rigor a democracia portuguesa e também para uma acção política esclarecida. Os elogios ao seu trabalho não são de mais, sobretudo num tempo em que abunda muito palpite sem lastro. A ideia de que a construção democrática se deve alicerçar em diagnósticos fiáveis é um primeiro passo para se poder contrariar o mal-estar político, feito de desconfiança e indiferença.
As eleições são, obviamente, um momento culminante da vida democrática, por mais que se diga que o voto não resolve nada e se actue em conformidade. O voto exerce uma elevada influência sobre as elites políticas, pois, como refere André Freire na apresentação do inquérito há pouco mais de um ano, o resultado do voto determina se essas elites podem ou não permanecer no poder. Por outro lado, o resultado das eleições afecta todos os cidadãos, ao contrário de outras formas de participação política. E, apesar do alheamento crescente, que se traduz em abstenção, o voto é ainda a modalidade de participação política que mobiliza o maior número de cidadãos.
As eleições de 2002 foram de facto especiais, como se diz no livro, desde logo porque não estavam previstas, porque resultaram de uma demissão do primeiro-ministro na sequência de um acto eleitoral autárquico e porque fecham um ciclo longo (de quinze anos) de governos de um só partido.
Derrotado nas autárquicas, sem que o governo estivesse necessariamente em causa, a saída de cena de António Guterres revela hoje com maior nitidez o esgotamento a que tinha chegado a sua liderança. A sensação de bloqueio, de país empatado, deixou ainda mais longe qualquer saída para a crise política, que depois do Verão foi ganhando raízes ao ritmo do défice das finanças públicas e da pressão das elites.
O governo da maior das minorias parlamentares nasceu «torto», fruto de um período menos lúcido de um homem desiludido pela falta de maioria absoluta e enredado na desconfiança de muitos quadros do PS, apesar das aparências. O engenheiro da envelhecida maioria não teve coragem suficiente para enfrentar interesses, mostrou-se indeciso demasiadas vezes e cedeu ao tacticismo sem estratégia. Perdeu frescura muito cedo, contemporizou com clientelas e acabou reduzido a falsos unanimismos. Passou de amado a tolerado no seu próprio partido.
Destinado pelas oposições, em particular pelo PSD, a fritar em lume brando, Guterres chegou às autárquicas com a ténue esperança de que o voto do eleitorado não passasse de uma censura branda. Foi pesada. E, aqui chegado, percebeu o cerco. Nessa mesma noite eram muitos os que ansiavam por um entendimento com o PCP. Algo que sempre recusou. Apresentar uma moção de confiança poderia ser a solução para sair de cabeça levantada em caso de recusa parlamentar. Mas tinha um risco insuportável: ser aprovada, ou porque faltava um deputado, ou porque votava o deputado «limiano», ou porque o PCP se abstinha. Guterres imaginou decerto o pandemónio... Restar- -lhe-ia provocar eleições e recandidatar- se, mas o máximo que poderia ambicionar era ganhar com uma maioria menor. Democrático, mas seria pior a emenda do que o soneto autárquico. Constituir um novo governo sem eleições nem Guterres era ainda uma possibilidade, mas teria legitimidade? Alguém votou em 1999 num outro primeiro-ministro ou noutra solução parlamentar?
Naquela noite, António Guterres foi rápido a decidir. Foi-se embora, tão derrotado como aliviado. Deixou o PS embaraçado, mas com uma base eleitoral sólida, como mais tarde se provou, apesar da derrota. Agora pode compreender-se melhor o gesto de um tempo de bloqueamento e insatisfação não apenas com o governo, mas também com as oposições. O empate parlamentar simbolizava isso mesmo.
As eleições foram surpresa geral. Alteraram os timings dos partidos e, no caso do PS, obrigaram mesmo à escolha de emergência de um líder.
A campanha eleitoral foi competitiva e produziu resultados significativos:
— O PS perdeu para o PSD por uma pequena diferença, a menor desde 1975;
— O CDS resistiu ao apelo do voto útil e acabou por se impor ao PSD, que precisou dele para formar governo;
— A CDU teve os seus piores resultados; e o Bloco de Esquerda os seus melhores.
Nem Durão Barroso nem Ferro Rodrigues (eleito um mês antes das eleições) entusiasmaram o eleitorado. Como diz Marina Costa Lobo, embora a avaliação das lideranças seja fundamental, o eleitorado teve de escolher entre líderes que não gozavam de grande popularidade. Ferro Rodrigues não conseguiu captar os indecisos da sua área política, muito menos os da direita. Em contrapartida, afirmou-se uma liderança, a de Paulo Portas no CDS/PP.
Ontem como hoje, dir-se-á que a campanha foi dominada pelo défice. Não exactamente, a mensagem predominante foi o apelo ao voto, à maioria absoluta, depois os temas do futebol e da construção dos estádios, a seguir as questões do emprego ou do desemprego, e só depois os problemas da economia, das finanças públicas e da fiscalidade.
Os principais partidos não foram muito claros na definição das suas principais propostas, os tais «temas de posição» estudados por André Freire. O PSD explicou mal como conjugava a redução do défice com o anunciado choque fiscal. O PS não foi convincente quando disse que reduziria o défice mantendo a despesa social. Mas não foi por aqui, pela avaliação prospectiva, que se decidiram os eleitores, mas pela avaliação retrospectiva, de desempenho, particularmente do desempenho económico. O eleitorado acredita cada vez menos em promessas, preocupa-se com o presente ou o passado recente. E, como sabemos, a situação económica e financeira deteriorou-se em 2000-2001. Foram, portanto, as finanças e a fragilidade da liderança que derrotaram o PS, ainda que por uma pequena margem.
O voto dos portugueses oscila entre os dois principais partidos: PSD e PS. Esta bipolarização não resulta de velhas clivagens — o impacto das estruturas sociais e ideológicas diminuiu, se é que alguma vez foi realmente grande, exceptuando no PCP —, mas sobretudo afirmam- -se os factores de curto prazo, seja a imagem dos candidatos ou o desempenho económico dos governantes.
Uma das caracterizações essenciais deste estudo passa pela tipologia dos partidos. Simplificando, Pedro Magalhães dizia há poucos dias, numa entrevista, que temos tido um partido socialista «conservador» e um partido conservador «progressista ». O tal «centrão». O PS e o PSD são típicos partidos catch-all, ou seja, partidos com uma posição ideológica pouco consistente e pouco coerente, se tivermos em conta o percurso histórico nos primeiros anos da democracia pós-25 de Abril. Richard Gunther lembra uma afirmação de Mário Soares sobre a definição ideológica do PS. Soares dizia que o PS não era um partido marxista porque o marxismo era apenas uma das três inspirações, sendo as outras o cristianismo humanista e o cooperativismo. O PS foi muitas vezes um aliado da Igreja católica. Também o PPD/PSD não cultivou, na sua afirmação partidária durante a revolução, uma distinção ideológica, também ele ia a caminho do socialismo, da Internacional Socialista… PSD e PS são assim partidos eleitoralistas, já se uniram para governar, muitas vezes protegeram os seus interesses no designado «bloco central». Faltam contornos suficientemente distintivos, falta uma organização partidária eficaz, o que deixa PS e PSD prisioneiros de lideranças mais ou menos fortes. Só o PCP, apesar da erosão, tem raízes sociais e ideológicas mais profundas. Quando Pedro Magalhães diz que não se lembra de António Guterres pronunciar a palavra «esquerda» e tem presente que Durão Barroso faz questão de dizer que não é de «direita», isso diz bem das fronteiras pouco nítidas entre os dois partidos. Hoje talvez Ferro Rodrigues se afirme mais à esquerda, fale mais da esquerda, mas nem por isso nesta altura de campanha eleitoral europeia se nota uma diferença fundamental no projecto europeu dos dois partidos. É o desempenho político e económico recente que, mais uma vez, se coloca em cima da mesa eleitoral.
Tudo isto, toda esta facilidade em atravessar a fronteira PSD-PS ou PS - PSD, conduz àquilo que os sociólogos designam por «volatilidade». Portugal tem, aliás, como se comprova neste estudo comparado, os níveis mais elevados de volatilidade eleitoral. Os contextos e as personalidades são diferentes, mas não deixa de ser curioso que o CDS já tenha sido parceiro de coligação do PS e do PSD. Só o PCP, excluído o período revolucionário dos governos provisórios, não partilhou o poder executivo nem afirmou qualquer aliança fora do seu estrito espaço social e ideológico. O centrismo que nos tem governado surge assim amiúde como um espaço de neutralização das ideologias, de dissolução da política.
A faceta mais preocupante deste estudo é a que faz o retrato das atitudes dos portugueses em relação ao sistema político. Somos, diz Pedro Magalhães, um dos países da União Europeia onde o declínio da satisfação com a democracia foi mais acentuado dos anos 80 até hoje. Um sintoma da permanência de uma cultura política «corporativa», «autoritária» e «iliberal». Confrontamo-nos com um poder político pouco escrutinado, apesar do crivo mediático, tentado pelo mediatismo, enredado na necessidade de parecer, de aparecer, que faz o discurso da transparência para melhor se dissimular, ineficaz, impotente face à constelação dos interesses, desresponsabilizado. O que nos leva a falar da linha de fractura essencial e que passa pelo papel e pelo funcionamento do Estado nas sociedades contemporâneas. O pilar da justiça é fulcral e o que há muito podemos observar e testemunhar é que ele não funciona. O Estado mostra- se incapaz de assegurar a justiça em tempo útil, é incapaz de recolher os impostos, não assegura a livre concorrência nos mercados, é uma espécie de Estado entre parênteses, que às vezes pede desculpa pela sua interrupção, sempre a prometer seguir dentro de momentos…
Na política, diziam alguns descrentes, apenas a lei é levada a sério. Hoje, entre nós, quando não se cumpre uma lei faz-se outra… O eufemismo é cada vez mais a linguagem da política. O discurso é táctico, fáctico, adjectivo, adverbial. Perde substância e o vazio suscita a dúvida: como substantivar uma política adjectiva?
O catalão Josep Ramoneda, que se tem ocupado da desmontagem do discurso político, tem chamado a atenção para o peso do eufemismo. Para um iniciado nas lides políticas a aprendizagem do eufemismo chega a ser considerada um sintoma de responsabilidade, de maturidade política. A maquilhagem discursiva converge no tal centrismo em que se neutralizam as arestas e as polémicas. A palavra perde valor próprio, vale em função de quem a diz. Já nem se estranha quando ouvimos um governante dizer: «Uma coisa é o que se diz em campanha eleitoral, outro plano é o da governação.»
Todos estes vectores confluem para um mal-estar observável nos comportamentos eleitorais. Se bem que o apoio à democracia representativa, à sua legitimidade, à ideia de que não há democracia sem partidos, não esteja em causa, como observam Pedro Magalhães e Manuel Villaverde Cabral, o descontentamento com o funcionamento da democracia, com o estado da economia e com a actuação dos governos ganha uma visibilidade muito forte. Há uma desafeição, soltam-se os laços entre políticos e cidadãos, menos de metade dos cidadãos se consideram bem representados, cava-se um fosso cada vez mais largo entre os eleitores e os partidos e respectivos dirigentes.
Num artigo publicado na revista Análise Social 1, também no âmbito deste projecto, Peter Mair mostra-se pouco optimista sobre o futuro dos partidos políticos. Parecem existir poucas ou nenhumas perspectivas de reconstrução social de fortes raízes partidárias ou de que os partidos consolidem a sua identidade. E sobram muitas dúvidas sobre o modo como os partidos poderão fortalecer a representação. Aliás, Peter Mair desconfia de que a erosão pode acentuar- se e não restar aos partidos mais do que um papel procedimental para cuidar das aparências… No futuro, prognostica, os partidos dependerão, provavelmente, da orientação e do apoio contingente de organizações da sociedade civil, que podem ser fontes de ideias e fornecer feed-back. Já hoje conhecemos algumas em Portugal que vão preparando o terreno dos poderes. Os partidos não seriam mais do que máquinas eleitorais, se é que não são já, preocupadas com a conquista ou a conservação do poder. As organizações de interesses canalizariam a representação enquanto os partidos se ocupariam da governação.
Pedro Magalhães fala em «negligência » dos cidadãos face à vida pública, resultado de um comportamento passivo, de desinteresse pela informação política. E, se o vínculo se corta, diz Villaverde Cabral, há riscos de ruptura. Embora o mal não seja um exclusivo português, o retrato não podia ser mais preocupante. Há algum tempo, Alain Touraine alertava para o perigo da «desagregação da sociedade política e da sociedade civil, reduzidas ambas a mercados ». Segundo o sociólogo francês, «a população pode renunciar à responsabilidade da cidadania e contentar- se com os prazeres do consumo de massas, pedindo ao Estado que seja um polícia benévolo que distribui o seu socorro aos marginalizados da mudança económica e que garante a segurança das boas pessoas» 2.
O «mercado político» vai perdendo a sua substância e torna-se cada vez mais um «mercado tout court». Talvez por isso Pierre Rosanvallon, director do Centro de Investigação Política Raymond Aron de Paris, diga que a União Europeia alargada a 25 vai mudar de natureza: terá um grande mercado, mas não haverá construção social nem solidariedade efectiva. O professor de História e Filosofia Política afirma que o problema- chave é a dissidência dos ricos quando se põe em causa o Estado-providência, quando se permite a fraude fiscal. Ao passarmos de uma sociedade de classes para uma sociedade de indivíduos, Rosanvallon considera que teremos de «reconstruir os laços invisíveis entre os cidadãos, laços sociais que não podem fabricar-se pela via identitária ou gregária», mas com base em «comunidades de experiências» 3. E acrescenta: «Temos de inventar um novo Estado-providência para armar o indivíduo, para lhe oferecer defesa e oportunidades, para lhe assegurar o alojamento e a formação para que possa associar-se e ter uma representação. Há que encontrar novas instituições, fixar novos objectivos, prestar uma nova segurança 4.»
Um cenário doce em tempos duros de secessão social. Nós por cá, garantido, garantido, é que «os interesses triunfam sempre». Palavra de presidente da República. Jorge Sampaio pede «um novo sobressalto democrático ». Enquanto ele não surge, por que não aceitar o repto do provocador Millôr Fernandes? Nas eleições, possibilitar apenas o voto contra? O menos votado seria eleito…
António José Teixeira
1 Peter Mair, «Os partidos políticos e a democracia», in Análise Social, vol. XXXVIII (167), 2003, pp. 277-293.
2 Alain Touraine, Qu’est-ce que la démocratie, Paris, Fayard, 1994.
3 El Pais, ed. de 6 de Junho de 2004.
4 Ibid.