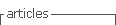Introdução
A Universidade de Coimbra1 detém entre as suas coleções antropológicas um conjunto de crânios humanos proveniente da parte oriental da ilha de Timor.2 Os crânios chegaram à instituição no início da década de 1880, estando o seu aparecimento associado a situações de violência em Timor-Leste (à época, colónia portuguesa) e ao generalizado interesse em crânios humanos para estudos raciais na Europa. Esta orientação esteve nas origens do primeiro curso de antropologia em Portugal, a cadeira de Antropologia e Arqueologia Pré-histórica criada na Universidade de Coimbra, em 1885. Foi neste contexto que a coleção se tornou objeto de estudo craniológico pelos estudantes desse curso, pouco após a sua chegada ao museu. Dessas observações resultou a publicação em Portugal, na década de 1890, de um dos primeiros trabalhos de raciologia, baseado em coleções de restos humanos com origem colonial. Décadas mais tarde, nos anos de 1930, estes estudos craniológicos motivariam uma intensa controvérsia sobre a “autenticidade” da coleção em Coimbra e a classificação racial dos timorenses. Muito tempo depois, o agitado e fascinante trajeto desta coleção tornou-se objeto de um estudo de antropologia histórica, tema da minha dissertação de doutoramento concluída na Universidade de Cambridge em 2007. Neste trabalho, aprofundei a análise micro-histórica da coleção timorense com a finalidade teórica e historiográfica de examinar o tráfico global de circulação de crânios humanos para museus científicos, durante os séculos XIX e XX - um fenómeno caracterizado por íntimas relações entre a violenta expansão colonial dos europeus e uma antropologia racial baseada em ossos humanos. Desta investigação resultou o livro Headhunting and Colonialism (Roque 2010a, ver também Roque 2008, 2010b, 2012, 2016, 2020), um estudo sobre a circulação colonial e científica dessa coleção, analisada à luz da história e da antropologia - antropologia, agora, social e cultural.3
O presente texto revisita o percurso investigativo que conduziu a essas publicações tendo em vista uma reflexão metodológica sobre a pesquisa etnográfica de arquivo. Assim, em lugar de resumir argumentos que podem ser esmiuçados nesses trabalhos anteriores, pretendo revisitar essa experiência passada para abordar o trabalho histórico-etnográfico do ponto de vista de uma semiótica da caça. Pretendo, pois, realçar uma dimensão metodológica do trabalho em arquivo que se equipara, em termos semióticos, à prática da caçada: o trabalho minucioso de perseguir e interpretar indícios; de ler no arquivo os rastos - por vezes fragmentários, truncados, incompletos - de fenómenos ou eventos (reais ou imaginários) que realmente aconteceram no passado. Esta proposta presume cumplicidades virtuosas entre antropologia e história, uma noção que dificilmente encontrará hoje oponentes abertos na disciplina da antropologia. A possibilidade de comunhão metodológica entre essas duas disciplinas foi uma ideia já sublinhada por Evans-Pritchard em 1950, num texto em vários aspetos inspirador. Criticando os excessos do funcionalismo, Evans-Pritchard (1950: 122) afirmava que, entre antropologia social e historiografia, entre o exercício de “reconstruir o passado” e o de tornar inteligível a ação e sociedade humanas do presente, as “diferenças [são] de técnica, de ênfase e de perspetiva, e não diferenças de método e finalidade”. Na década de 1980, a chamada “viragem histórica” na antropologia social e cultural deu consistência a esta hipótese. Desde então, o trânsito de métodos, objetos e teorias entre história e antropologia tornou-se frequente; hoje, esse trânsito forma um fértil campo de contacto e até de sobreposição entre as duas disciplinas, nomeadamente nos estudos sobre colonialismo e pós-colonialismo (Comaroff e Comaroff 1992; Axel 2002; Roque e Wagner 2012; Zeitlyn 2012). Este processo de aproximação mútua vem diluindo a separação canónica entre a ideia de “terreno” e a ideia de “arquivo”, enquanto territórios distintos e exclusivos de trabalho e de autoridade do antropólogo e do historiador, respetivamente. O “arquivo”, no sentido estrito de repositório institucional de documentos escritos, é visitado com frequência pelo antropólogo; e o próprio arquivo pode adquirir o estatuto de objeto de análise por direito próprio, como artefacto cultural ou como sujeito da ação histórica (compare-se Des Chene 1997; Dirks 2002; Stoler 2009; Almeida e Cachado 2016).4 Por sua vez, o “terreno”, no sentido estrito de lugar de interação, observação e imersão direta na experiência de sujeitos vivos, não é alheio ao ofício do historiador (ver, por exemplo, Cohn 1980; Dirks 2015). Sobretudo aqueles que tratam a chamada época contemporânea estão agora acostumados a incorporar testemunhos orais e/ou observação direta e trabalho de campo nas suas abordagens.
Pressupor uma dicotomia rígida entre arquivo e terreno, por conseguinte, não tem sustentação. Diria até que as travessias do antropólogo para o arquivo e do historiador para o terreno sugerem mais do que uma troca, uma espécie de “toma lá dá cá” de lugares de trabalho. Elas apontam também para a hipótese da existência, creio, de uma unidade metodológica de modos partilhados de fazer conhecimento, em historiografia e etnografia. Como sugeria também Evans-Pritchard (1950: 121), é porventura pertinente pensar a antropologia social “ela mesma [como] um género de historiografia”. Do meu ponto de vista, esta sugestão é especialmente adequada para pensar em comum o trabalho historiográfico e o trabalho etnográfico de pesquisa. Pois pode pensar-se também a historiografia ela própria como um género de etnografia. Aludindo a esta mutualidade metodológica, a antropóloga Mary Des Chene (1997: 76-78) enfatizou que o trabalho de arquivo pode (e talvez deva) ser visto como um trabalho inerentemente etnográfico, marcado por tarefas equivalentes de registo, reconstrução e interpretação dos “documentos e dos seus autores como interlocutores”. “[A] história (tal como a antropologia)”, sublinhou também a historiadora Antoinette Burton (2005a: 8), “não é um mero projeto de recuperação de factos […] mas é também um processo complexo de seleção, interpretação, e até de invenção criativa”. Historiografia e etnografia, arquivo e terreno, atravessam-se mutuamente; em certas circunstâncias, podem formar mesmo uma unidade metodológica efetiva. De tal forma que, conforme argumentei noutro texto, o “terreno” e o “arquivo” podem ser percebidos como versões ou variantes um do outro: o terreno como um género de arquivo, o arquivo como um género de terreno etnográfico (Roque e Traube 2019).
Podemos então perguntar sobre os modos de indagação que operam no trabalho etnográfico, logo historiográfico, que trata o arquivo-como-terreno. Numa resposta implícita a esta questão, o antropólogo-historiador Bernard S.Cohn (1980: 221) lembrou que nenhum condensado de regras de método em manuais “pode substituir-se à ação de fazer uma história antropológica”. Desta perspetiva, o exercício reflexivo sobre a própria prática proporciona uma abordagem metodológica válida sobre as maneiras de fazer histórias antropológicas, ou etnográficas; ou etnografias, ou antropologias históricas.5 Esta é uma das premissas deste ensaio e para a desenvolver recorro a um estilo de análise e escrita autobiográfica. A autorreflexividade é bem-vinda na história, na antropologia e, em geral, nas ciências sociais. Na antropologia contemporânea, em particular, é boa prática incorporar na escrita analítica as circunstâncias e vivências pessoais de pesquisa. Em casos extremos essa orientação chega a extrapolar a ação de vigilância epistemológica para se constituir num género literário separado, quase independente, de “autoetnografia”. Mais recentemente, também na disciplina da história o trabalho em arquivo tem sido objeto de autoanálises de cariz etnográfico, onde as experiências vividas pelo historiador no arquivo se tornam um aspeto central da narrativa (ver Burton 2005b; Dirks 2015).
A caçada semiótica
Neste sentido, este artigo pode ser visto como um exercício de autoanálise do ofício de etnógrafo-historiador de arquivo. Não é meu intuito, contudo, dissecar vivências pessoais e esgotar a narrativa na autorreferência, por vezes estranguladora (cf.Ellis, Adams e Bochner 2010). O propósito é experimentar uma excursão analítica sobre uma experiência pessoal de pesquisa, usando-a como estudo de caso para produzir asserções mais gerais sobre a etnografia de arquivo enquanto método. Inspirado em perspetivas da fenomenologia e da semiótica, proponho abordar o trabalho etnográfico de arquivo como uma forma de caçada semiótica, um modo de fazer “conhecimento através de traços”, para utilizar a expressão de Paul Ricœur (1990: 118). Este modo de fazer constitui um tipo de labor em torno da indexicalidade de traços do passado. Ou seja, em torno do fabrico desses traços como “índices” ou indícios; como aquele tipo de signos que, no entender de Charles S. Peirce, “tendo sido realmente afetados por um objeto” ou por um evento passado, a ele se referem por virtude da “conexão dinâmica” que mantêm, quer com o próprio evento, quer com os processos mentais da sua interpretação (Peirce cit. inWest 1977: 24; Peirce 2008: 74).
No âmbito da filosofia, a metáfora da caçada enquanto processo de interpretação de trilhos e pistas de uma presa por um caçador real ou imaginário tem sido evocada com frequência, desde os trabalhos fundadores de Peirce, como exemplo modelar de atividade semiótica humana (ver West 1977: 52-59). O argumento de que a praxis da etnografia de arquivo se pratica, ou pode praticar-se, como se fosse uma caçada semiótica explora a potencialidade desta metáfora. A meu ver, a praxis da etnografia de arquivo, tal como a praxis da caçada, configura também um modo de procura, conjetura e relato do passado histórico, feito através de pistas e vestígios inscritos em materialidades diversas. Desenvolvo este ponto cruzando a minha experiência de pesquisa com as reflexões de Paul Ricœur e Carlo Ginzburg acerca do ofício do historiador e sobre as analogias entre este ofício e o trabalho do caçador. É claro que não tenho aqui a ambição de suplantar ou substituir essas reflexões em escopo filosófico. A minha intenção é emaranhá-las com a interpretação da minha praxis investigativa, de tal forma que deste exercício de interpenetração resulte uma conceção original do método da etnografia de arquivo. Segundo esta conceção, a prática etnográfica-historiográfica de arquivo, orientada para interpretar traços do passado na matéria de coisas e palavras, equivale à prática da caçada, orientada para decifrar os rastos deixados pela passagem de uma presa apetecida. Daqui poderá derivar uma proposição de âmbito mais geral. A sugestão, em suma, de que a etnografia de arquivo implica uma metodologia de caçada semiótica.
Caçando o arquivo de uma coleção
A localidade circunscrita da noção de “terreno” em antropologia tem sido reequacionada em torno de topografias mais móveis e plurais.6 No mesmo sentido, o arquivo, como terreno etnográfico, pode reequacionar-se como uma espacialidade múltipla e dinâmica. É o caso dos arquivos de coleções antropológicas na investigação aqui examinada. Seguir a coleção que viajou de Timor para Coimbra exigiu também seguir a viagem dos seus arquivos entre vários lugares. Pois muitas vezes o “arquivo” do trabalho de pesquisa enquanto caçada não se circunscreve a um só espaço institucional ou repositório estático de documentos, como aqueles que encontramos sob a designação institucional corrente de “arquivo”, ou separadamente dentro de um museu, biblioteca, ou outra organização - o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra ou o Arquivo Histórico Ultramarino, por exemplo. Como pretendo mostrar no caso sob estudo, o arquivo-terreno desta etnografia histórica situou-se num território dinâmico de traços arquivísticos do passado, traços em fluxo no espaço e no tempo, formando um tipo de arquivo temporalmente emergente e espacialmente multissituado - o que poderíamos chamar de um tipo de arquivo circulatório (Roque 2010a: 11-12). Além disso, à medida que reconstituía este arquivo em movimento, e que a própria pesquisa se desenrolava no tempo e no espaço, também os traços arquivísticos da coleção se mostravam ao investigador dispersos em vários sítios e matérias, ora em palavras no papel; ora em inscrições em ossos humanos; ora em Macau; ora em Timor; ora em Lisboa; ora em Coimbra.
Os repositórios institucionais guardam registos documentais; preservam histórias; revelam coisas que de facto aconteceram. Esses repositórios, contudo, também excluem, escondem ou ocultam; apagam pistas; engendram silêncios; fecham portas à narração de certos passados. Na análise que se segue, o ponto de partida é o meu encontro com um desses momentos em que a pesquisa de arquivo se surpreende com espaços em branco. No caso em apreço, o vazio dizia respeito à ausência de documentos e histórias que validassem a identidade timorense da coleção. Com efeito, a etnografia de arquivo deparou-se com uma particularidade importante. Refiro-me ao facto de a coleção em Coimbra se caracterizar pela inexistência de documentação escrita que indicasse e relatasse o seu passado. Era uma coleção truncada dos seus principais traços arquivísticos. Embarquei então numa exaustiva caçada destes traços furtivos. A tarefa levar-me-ia a descobrir um passado de violência colonial mais complexo do que o previram os meus antecessores no estudo da coleção.
Uma coleção sem “história”
A primeira pista da coleção surgiu, algo por acaso, na Biblioteca Nacional, em Lisboa, em 1998. Por entre antigas publicações de antropologia física deparei-me com um longo panfleto de 1937, com título longo e contorcido, a saber: A Autenticidade dos Crânios Timorenses no Museu da Universidade de Coimbra e o Presente Estado do Nosso Conhecimento sôbre o Problema da Composição Étnica da População de Timor (Cunha 1937). O autor do panfleto era João Gualberto de Barros e Cunha, professor de antropologia na Universidade de Coimbra, onde obteve também a sua formação, figurando entre os primeiros estudantes do pioneiro curso de antropologia. Coloquei o texto de lado durante algum tempo, embora o achado me aguçasse a curiosidade. Na altura, interessavam-me outras histórias sobre a antropologia colonial portuguesa (Roque 2001). Anos mais tarde, porém, ao concentrar-me na história colonial de Timor-Leste, retomei essa primeira pista. O panfleto de Barros e Cunha constituía uma resposta longa, técnica e minuciosa a uma denúncia da falsa autenticidade da coleção de crânios de Timor detida pelo Museu Antropológico de Coimbra desde 1882. A denúncia foi primeiro verbalizada numa pequena nota de rodapé de um texto etnológico datado de 1920, assinado pelo coronel António Leite de Magalhães, um militar colonial que servira vários anos em Timor (Magalhães 1920). De início, a nota de rodapé terá passado desapercebida ao craniólogo de Coimbra. Só motivou controvérsia pública na década de 1930, quando, numa monografia etnográfica de ampla divulgação na época, o capitão Armando Pinto Correia (Correia 1935) corroborou como verdadeira a denúncia do seu colega de ofício.
Em 1935, a discussão entre os oficiais coloniais e o académico coimbrão explodiu numa acesa troca de argumentos no popular Diário de Notícias. No centro da disputa sobre a autenticidade da coleção estava o problema da classificação racial dos timorenses, nomeadamente o debate acerca da sua afiliação a um tipo “malaio” ou, em alternativa, a um tipo “papua”. Barros e Cunha defendia a identidade papua das populações de Timor, baseando-se para tal nas suas observações craniológicas. Ao invés, os oficiais coloniais rejeitavam essa categorização e defendiam uma tipologia malaia. Tendo por base relatos e rumores que corriam na colónia de Timor afirmavam que a coleção era inautêntica porque os crânios nunca tinham pertencido a genuínos corpos timorenses; antes representavam uma mistura de ossadas de soldados portugueses, africanos, indianos e timorenses massacrados durante uma trágica campanha de guerra, em 1895. Logo, as conclusões do craniólogo eram falsas. A controvérsia opunha taxonomias antropológicas raciais; a prioridade da presença no terreno à da evidência museológica; a autoridade colonial do militar à do académico metropolitano. Mas no cerne deste conflito multidimensional encontrava-se um problema historiográfico. O debate raciológico sobre classificação era atravessado por uma profunda incerteza relativa à história e proveniência das ossadas - incluindo cronologia, local e circunstâncias de recolha no terreno, em Timor. O debate antropológico era, portanto, inerentemente historiográfico. De modo a validar a sua ciência racial, Barros e Cunha era assim desafiado a providenciar documentos e uma narrativa credível sobre o passado dos crânios - desafio esse que, todavia, não conseguiria resolver com sucesso.
Qual o passado colonial por detrás da coleção? Que evidência documental existia que o comprovasse? Nem o craniólogo, nem os seus adversários tinham uma resposta cabal para estas questões. Os arquivos da Universidade de Coimbra, onde a coleção havia sido depositada em 1882, tinham pouco a dizer. “Além daquelas indicações [data de entrada no museu em 1882]”, resumiria Barros e Cunha em 1937, “nada mais existe” (Cunha 1937: 355). Ainda no calor da controvérsia, outro militar colonial, José Simões Martinho, anunciou a descoberta de um catálogo nas páginas do Boletim Oficial de Timor, indicando uma remessa de crânios humanos de Timor. A remessa fora enviada de Macau para Lisboa em 1882, fazendo parte de um conjunto mais vasto e variado de objetos etnográficos e amostras de mercadorias (Martinho 1943). Porém, no catálogo a informação sobre a proveniência era vaga e inconclusiva. Por conseguinte, desde a sua chegada a Portugal, a coleção existia dissociada de documentação que atestasse o seu passado histórico; existia num estado de amputação epistémica. Sem ligação a traços arquivísticos credíveis, a coleção estava presa num lugar temporal ambivalente, entre facto e fantasia.
Entendi que este caso era paradigmático da ampla importância que a criação de arquivos e histórias biográficas de espécimes adquiriu nas ciências raciais museológicas. Nestas ciências, os registos de arquivo constituíam uma tecnologia importante do trabalho científico. Nos museus, os crânios guardavam-se ligados a documentos arquivados contendo informação diversa acerca da história passada de cada espécime, incluindo dados sobre o doador ou ofertante ao museu; o local; a data; a forma e as circunstâncias de aquisição e recolha; medidas antropométricas; dados individuais respeitantes a sexo, idade, “tribo”, ou mesmo nome e relatos da pessoa em vida. De tal modo que, para servir de base fiável para especulações raciológicas, era desejável associar crânios humanos a registos arquivísticos que lhes atribuíssem uma certa ordem histórica, um tipo de memória biográfica. Assim, na antropologia físico-biológica, dominante em meados do século XIX, os textos, rótulos, registos e outros documentos associados às coleções eram instrumentais para autenticar a identidade etnogeográfica dos materiais. Sem essa garantia documental, a classificação racial a partir de ossos humanos não podia efetuar-se com inteira segurança. A esta luz, a controvérsia sobre a autenticidade da coleção de Timor manifestava uma dificuldade geral, com que se defrontavam na época muitos estudiosos das de “raças humanas”, a saber: a certificação documental dos restos humanos como evidência racial, através de registos de arquivo e informação histórico-biográfica guardada junto com as coleções (Roque 2018). Por outras palavras, a controvérsia em Portugal punha em relevo a “febre de arquivo” (Derrida 1995) que assolava antropólogos raciais de todo o mundo nos seus esforços para tornar real a fantasia da ideia de “raça”. Obcecados assim com a autenticação dos espécimes através de histórias e documentos, os raciólogos arvoravam-se num género de arquivistas e praticantes de conjeturas historiográficas.
Conjeturando passados para ossos humanos
Num fascinante ensaio sobre metodologia histórica, o historiador Carlo Ginzburg referiu-se ao estabelecimento, no final do século XIX, de um “paradigma conjetural ou presuntivo” nas ciências humanas; um paradigma que se distinguia por uma tendência para adivinhar o passado com base na inspeção detalhada de pistas materiais. Ginzburg detetou este paradigma no trabalho policial de determinação de crimes, no diagnóstico médico de doenças, na certificação especializada da autoria de obras de arte, por exemplo (Ginzburg 1990). Não lhe ocorreu referir então, de forma explícita, as ciências raciais, a craniologia étnica, ou a anatomia comparada como parte também das ciências humanas marcadas por esse paradigma Oitocentista. Penso que bem poderia tê-lo feito, pois a ciência da raça baseada em ossos humanos participa igualmente desse paradigma conjetural.
Ginzburg localiza a consolidação do paradigma conjetural durante o final do século XIX. No mesmo momento histórico, a antropologia como ciência da raça prosperava e os crânios humanos acumulavam-se aos milhares nos depósitos e nas galerias dos museus científicos. Os cientistas inspecionavam as ossadas na expetativa de nelas encontrar indícios concretos de diferenças e afinidades raciais constantes e naturais nas populações humanas. Esperava-se a obtenção de vestígios que autorizassem conjeturas sobre taxonomias e genealogias humanas, a construção de verdadeiras “histórias naturais” relativas à essência física e biológica dos humanos. É, pois, possível que a antropologia racial constituísse um outro modo de inquérito histórico no sentido sugerido por Ginzburg. Isto é: uma forma raciológica de conhecimento conjetural do passado, feito a partir do exame e decifração de pistas dispersas na materialidade do corpo humano - vivo, ou morto. O exame antropométrico e anatómico era então central a esta forma de conjetura. O anatomista racial recolhia no corpo pistas de “raças”, seguindo um mapa de signos sobrepostos à anatomia do esqueleto humano, uma rede de pontos craniométricos e antropométricos a que por convenção se chamavam “carateres antropológicos”. Mas o exercício de bem decifrar raças humanas não conseguia limitar-se à inspeção da fisicalidade dos corpos humanos. Eram precisos documentos. Em suma, muito especialmente quando se tratava de especular acerca de raças de povos distantes e exóticos, a raciologia exigia e mobilizava também o arquivo, produzindo, congregando e armazenando dados biográficos e informação histórica sobre os crânios-espécimes no museu.
Deste ponto de vista, o caso da coleção em Coimbra apresentava-se como um caso revelador da importância que a documentação das coleções adquiria nas práticas científicas de racialização. Esse caso expunha a urgência desses praticantes em atuar como um tipo de historiadores de “objetos” e de arquivadores de documentos para coleções de ossos. Por isso a vontade de possuir as ossadas de outras pessoas para fins de estudos raciais era acompanhada da vontade de possuir as suas histórias, coligindo e conservando, em papel ou às vezes nos próprios ossos, vestígios escritos dos seus passados. E, contudo, a coleção timorense iluminava esta característica fundamental da episteme das ciências raciais através de um dramático debate em torno da ausência desses indícios documentais. Era a história inexistente ou desconhecida da coleção que mostrava o valor da presença de registos arquivísticos no trabalho de classificação etnorracial. A controvérsia sobre a coleção em Coimbra, em suma, mostrava bem que uma coleção de ossadas humanas sem um passado histórico inequívoco e validado de forma documental podia impedir ou desestabilizar profundamente as especulações raciológicas.
A controvérsia da década de 1930 desenrolou-se em torno de um espaço arquivístico em branco, de uma carência de registos sobre a proveniência e as circunstâncias coloniais da coleção, em Timor. Um século e outros tantos anos depois, poderia esse vazio ser preenchido? Existiriam ainda traços passíveis de ser resgatados e interpretados, para além daqueles que o craniólogo e os oficiais coloniais haviam obtido? Fora dos espaços do museu, o que poderiam os vastos arquivos coloniais portugueses revelar sobre o passado da coleção - e o que poderia o conhecimento do passado da coleção oferecer à compreensão do colonialismo em Timor-Leste?
Uma etnografia de traços arquivísticos
Estas questões levaram-me a procurar vestígios documentais da coleção, para lá do perímetro de Coimbra. Fiz trabalho de campo e de arquivo em diferentes lugares e instituições, em Portugal, Macau, Timor-Leste, Austrália, Reino Unido, e França. Explorei uma variedade de géneros literários e de escritos coloniais e científicos. Mobilidade e multilocalidade foram, pois, necessárias para perseguir o rasto da viagem da coleção e da informação associada, desde Timor a Coimbra. O movimento da coleção não destoava do que foi a economia global de circulação de restos humanos das colónias para museus científicos na Europa, desde o século XVIII. As coleções de ossadas humanas viajavam (ou deviam viajar) na companhia também de documentos escritos que lhes precisavam a origem e, por vezes, também contavam uma história sobre elas. Assim, os documentos, tal como os objetos, não eram coisas estáticas. Tal como as coleções, o arquivo documental em movimento podia sofrer mutações. Podia desligar-se dos objetos, por exemplo. Deste modo o campo documental da coleção de Timor apresentava-se como um tipo do que designei acima por “arquivo circulatório”. Isto é: uma coleção variável de traços e inscrições em movimento do terreno para o museu, em fluxo por força da sua mobilidade física através do espaço-tempo; em fluxo também por força de inflexões gráficas e epistémicas provocadas por gestos de escrita e por movimentos interpretativos vários, sucedendo-se ao longo do tempo. Os crânios de Timor em Coimbra seriam, por isso, manifestação talvez de um processo de circulação em que, algures em certo ponto da viagem, a relação entre coisas e arquivos, entre crânios e documentação, foi truncada ou interrompida. Sabia-se que um conjunto de 35 crânios havia viajado de Timor até Coimbra - mas dessa passagem parecia não subsistir rasto documental. Faltava à coleção o seu traço arquivístico em papel.
Seguindo traços do passado
Para o filósofo Paul Ricœur, a noção de “traço” engloba o duplo significado de “passagem” e de “marca”. Esta noção, creio, é útil para pensar o processo de trabalho etnográfico e historiográfico com esta coleção. Os arquivos, no sentido de sítios institucionais que conservam coleções de registos documentais, são o lugar habitual de trabalho do historiador. Porém, como nota Ricœur, não é tanto o registo, ou o documento, que define a condição epistemológica do inquérito histórico, mas a “importância associada ao traço”, ou, aventuro-me a acrescentar, ao traço arquivístico. Para Ricœur, a noção de traço refere-se, por um lado, à dinâmica de alguém ou algo que passou (a passagem) e à impressão material durável dessa passagem (a marca), seja uma trilha deixada na paisagem, seja uma palavra, uma frase, deixada sobre uma folha de papel (Ricœur 1990: 118-119). Neste sentido, a viagem da coleção de crânios de Timor pode ser pesquisada como uma passagem que, a certo momento, deixou atrás de si um trilho durável de palavras, uma espécie de pegadas-letras, em páginas escritas. Todavia, além da controvérsia científica e além da materialidade mesma dos crânios (materialidade essa também, como veremos abaixo, capaz de propiciar marcas para a decifração do passado), os crânios permaneciam amputados numa forma epistémica; como um objeto desprovido de signos, de índice; como uma ocorrência sem narrativa, uma passagem sem marca, algo que “simplesmente aconteceu” (Ricœur 1990: 118).
A ausência da marca documental do passado da coleção animou a minha caçada semiótica no arquivo. Se a história pode ser tomada como um género de “conhecimento através de traços”, como sugeriu Ricœur, talvez seja porque é também uma forma de conhecimento assente na metáfora da caçada. Sendo assim, também a etnografia de arquivo, adiciono eu, pode ser pensada como uma etnografia de traços; logo, como uma modalidade de caça. Ricœur interpreta a prática da história à imagem de uma caçada, o “conhecimento através de traços” por excelência. “O traço convida-nos a persegui-lo, a ir atrás dele, se possível até à pessoa ou animal que passou por ali”. Prossegue Ricœur: “Ele orienta a caçada, a busca, a pesquisa, o inquérito. Mas é nisto que consiste a história. Dizer que é um conhecimento por traços é apelar, em última análise, ao significado de um passado que passou e que, não obstante, permanece preservado nos seus vestígios.” (Ricœur 1990: 118) O trabalho de terreno em arquivo é um género de caçada, quer no sentido analógico, quer também, talvez, no sentido genealógico. Regresso às reflexões de Ginzburg. No mesmo ensaio sobre o paradigma conjetural nas ciências humanas, Carlo Ginzburg complementa as alusões de Ricœur. Para Ginzburg, a prática da caça e a prática da história partilham semelhanças estruturais e genéticas enquanto formas de saber. “Talvez a própria ideia de narração”, escreve Ginzburg, “(distintamente de encantamentos, exorcismos ou invocações) tenha tido origem numa sociedade de caçadores, que relatavam a experiência de decifrar trilhos. […] O caçador teria sido o primeiro a ‘contar uma história’ porque apenas ele era capaz de ler, no silêncio, os rastos quase impercetíveis da sua presa, uma sequência coerente de acontecimentos” (Ginzburg 1990: 103).
A hipótese de Ginzburg respeitante à profunda conjunção entre caça e história suplementa a intuição de Ricœur quanto à validade da caça enquanto metáfora para descrever a prática historiográfica. Caçar, fazer história, praticar medicina, efetuar trabalho policial, ou, diria também, trabalhar sobre crânios para elaborar considerações raciais, podem envolver formas comparáveis de atividade semiótica e de conhecimento conjetural sobre o passado. Pois todas estas práticas de saber parecem implicar “uma atitude em relação à análise de casos específicos que podem ser reconstruídos mediante traços, sintomas, pistas” (Ginzburg 1990: 104); todas parecem representar epistemologias de conhecimento presuntivo sobre eventos passados, baseadas no exame de traços - ora os movimentos de uma fera na floresta, os sintomas manifestos de uma doença, a configuração anatómica dos ossos, ou palavras inscritas no papel. É desta perspetiva, porventura, que o percurso epistémico da coleção de Timor se apresenta no ponto de tensa interseção entre modalidades distintas, mas parcialmente conexas e justapostas, deste tipo de paradigma conjetural.
No final do século XIX, o craniólogo Barros e Cunha presumiu um passado colonial para a coleção a partir da sua leitura dos traços anatómicos que os crânios materialmente exibiam. Na primeira metade do século XX, os oficiais do exército leriam outro passado com base em rumores que circulavam na colónia. No início do século XIX, eu próprio, um etnógrafo no arquivo, segui o trilho da coleção de Timor para rever esses passados imaginados, associando à coleção uma narrativa colonial onde culturas de violência e poder, portuguesas e timorenses, surgiam densamente emaranhadas na forma do que designei “parasitismo mútuo” (Roque 2010a).
Golpes de lâmina
Em 1894, cerca de 40 anos antes da explosão pública da polémica, Barros e Cunha publicou o seu artigo craniológico sobre a coleção de Timor, argumentando que a coleção demonstrava a afiliação dos timorenses a um tipo racial papua (Cunha 1894). Na base do artigo estiveram as observações craniológicas que realizou sobre os crânios humanos quando era estudante da cadeira de antropologia em Coimbra, nove anos atrás, em 1885. O argumento classificatório presumia conjeturas sobre o passado dos materiais. No mesmo artigo, Barros e Cunha associou às conjeturas craniológicas uma breve narrativa que, evocando a ideia da selvajaria e primitivismo dos timorenses, servia o propósito de explicar o passado dos traumas visíveis na anatomia dos crânios. “Os crânios do museu”, concluiu Cunha (1894: 855), “provêm evidentemente de campos de batalha.”; acrescentando:
“Apesar disso fomos obrigados a considerar um como indubitavelmente feminino, e seis como incertos. Não pode isso surpreender: os Timores são cruéis e covardes, e fazem a guerra à moda selvagem, surpreendendo, sempre que podem, as aldeias, e matando todos os habitantes sem distinção de sexo, nem de idade.”
Segundo Barros e Cunha, “campos de batalha” em Timor eram o sítio de origem da coleção; eram timorenses as vítimas; e eram também timorenses os perpetradores da guerra e da decapitação. Esta atribuição de identidade timorense quer aos restos humanos, quer aos autores da violência constituía um exercício conjetural que partia, por um lado, da observação direta de traços anatómicos na fisicalidade das ossadas e, por outro lado, de uma imaginação antropológica e colonial que lançava sobre o Outro indígena o ónus cabal da “selvajaria”. Assim, primeiro, a inspeção da anatomia craniana revelou a Cunha a “larga falta”, “em quasi todos os crânios”, “de substância que têm na base”; portanto, mensurações envolvendo o basion, assim como a avaliação da capacidade craniana, não podiam ser efetuadas pelo anatomista (Cunha 1894: 855). A materialidade das ossadas impedia uma descrição craniométrica plena; mas, ao mesmo tempo, capacitava o observador a lançar inferências sobre a história colonial da coleção. Na opinião de Cunha, esta particularidade anatómica de todos os crânios humanos resultava “evidentemente” de “golpes de um instrumento cortante, golpes que”, escrevia Cunha, “em geral parecem ter sido dirigidos da direita para a esquerda, e de trás para diante” (Cunha 1894: 855).
Ao craniólogo interessava estabelecer um simples nexo causal entre o preconceito da selvajaria dos timorenses (o craniólogo nunca visitou Timor) e os traços traumáticos existentes na base dos ossos. A sua leitura histórica das marcas físicas da coleção implicava, pois, uma presunção antropológica específica da alteridade. Porque os crânios apresentavam marcas de violência, de “golpes de um instrumento cortante”, eles ofereciam prova do primitivismo cultural e social dos nativos de Timor, de que as tradições rituais de caça de cabeças em batalha eram a prova culminante. É significativo que o imaginário da caça de cabeças se tenha imposto por completo à leitura craniológica das marcas de violência visíveis nas ossadas. Com efeito, além de marcas de lâmina, outros signos de violência existiam. A decapitação explicava parte apenas dos traços traumáticos observados por Cunha. Vários crânios evidenciavam também buracos produzidos, provavelmente, por projéteis de tipo balístico. Barros e Cunha, todavia, desvalorizou estas marcas de bala, talvez por não se adequarem à imagem do indígena selvagem armado de um primitivo “instrumento cortante” que guiava a sua interpretação dos traumas anatómicos.
As conjeturas histórico-etnológicas de Cunha eram dominadas por estereótipos metropolitanos e coloniais sobre a selvajaria da população nativa. É provável, além disso, que uma confiança adicional nessa explicação derivasse da sua leitura de certos textos tidos por credíveis sobre o território, nomeadamente a leitura da popular narrativa de viagem do reconhecido naturalista britânico Henry O.Forbes. Em 1885, Forbes publicou o relato da sua visita à colónia portuguesa de Timor, descrevendo a “caça de cabeças” (headhunting) na qualidade exclusiva de costume guerreiro “praticado entre os timorenses”, deste modo obliterando a ação efetiva dos portugueses da dinâmica da violência ritual em Timor (Forbes 1885: 450). Em Coimbra, esta descrição reforçava os pré-juízos existentes sobre a identidade e o passado dos crânios decepados. Reforçava a presunção de que eram crânios de primitivos timorenses com marcas de violência originadas na ação de bárbaros timorenses. Por conseguinte, a coleção supunha-se alheia ao colonizador europeu. Pois ela era concebida, a um tempo, como representando, fisicamente, ossos de corpos puramente “indígenas”; e, culturalmente, artefactos de um costume selvagem também puramente “indígena”, a dita caça de cabeças. As conjeturas anatómicas e os estereótipos etnológicos conspiravam para produzir um distorcido passado histórico de violência que ilibava a iniciativa e a responsabilidade europeias - um passado sem agentes e sem vítimas de origem portuguesa, organizado integralmente em torno da imaginação do Outro timorense. Mas esta imagem é simplista, distorcida, redutora. Com efeito, à medida que aprofundava as minhas excursões em arquivos coloniais, percebia que a violência da caça de cabeças não podia ser simplesmente separada da presença colonial portuguesa nesse período histórico.
Marcas arquivísticas
Em 2004, visitei pela primeira vez a coleção no museu da Universidade de Coimbra. Consultei os documentos que ainda existiam e pude observar os 28 crânios de Timor que restam da antiga coleção, composta originalmente por 35.7 Guiaram-me nesta visita as antropólogas Eugénia Cunha e Maria Augusta Rocha, com quem aprendi a conhecer os arquivos da instituição e a história da antropologia em Coimbra. Foi o seu olhar treinado e competente que me conduziu na leitura das marcas traumáticas - balas; cortes; defumação. Do ponto de vista anatómico, parecia inquestionável que o conjunto da coleção carregava consigo um passado de assassínio e decapitação. Mas, do ponto de vista histórico, a incerteza permanecia. O vazio deixado pela inexistência de traços arquivísticos continuava a pesar sobre a identidade presente e futura da coleção, mesmo depois de produzidas reflexões mais atualizadas sobre a sua antropologia física (uma tese de licenciatura, Ribeiro 1999). Existiriam ou não cabeças de europeus entre o conjunto, continuavam a perguntar os antropólogos de Coimbra em 2004? Como, porquê, em que circunstâncias foram as pessoas decapitadas, e como puderam tomar o caminho do museu?
Em Coimbra, a coleção continuava envolta em dúvidas de natureza historiográfica. Entretanto, em outros arquivos, em Lisboa, eu consultaria documentação da administração colonial que me levaria a questionar essa ideia de que, em Timor colonial, a decapitação ritual do inimigo constituía um hábito guerreiro puramente “timorense”, um signo do primitivismo nativo, a que os portugueses eram simplesmente alheios. Parecia-me que fantasias coloniais e racistas da alteridade tinham atuado nas anteriores conjeturas históricas sobre as marcas anatómicas da coleção. Em consequência desta distorção, traços violentos do colonialismo português tinham ficado invisíveis, ou talvez sido apagados, da pista da coleção. Porventura, o trabalho etnográfico no arquivo poderia encontrar esses traços ocultos, resgatando-os algures no mundo de palavras escritas da administração colonial portuguesa. Mas seria possível preencher o vazio documental que se verificava no museu, indo em busca de traços no manancial arquivístico colonial que estava noutros lugares? Que pistas do passado da coleção poderia eu perseguir e decifrar através da etnografia de arquivo, não apenas em coleções no museu, mas também do próprio arquivo colonial português?
Signos de violência colonial
Os crânios, supôs Barros e Cunha, provinham de campos de batalha. Seguindo esta pista, enveredei pelas pastas do Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa na busca de relatos de guerra assinados por oficiais portugueses na colónia de Timor, nas décadas finais de oitocentos. Porém, ao contrário do que presumiram o antropólogo coimbrão e os seus adversários, este trabalho de arquivo deu corpo a uma hipótese alternativa: a de que os golpes de lâmina deixados nos crânios não eram traço de um suposto costume indígena de “caça de cabeças”, em tudo estranho aos portugueses, mas sim o produto histórico de uma forma social de violência na qual os colonizadores portugueses eram, a par dos guerreiros timorenses, também participantes ativos.
Os historiadores militares tinham já constatado que as guerras coloniais e as campanhas punitivas em Timor se desenvolviam, por norma, com o apoio de auxiliares timorenses que, nesses contextos, praticavam a decapitação ritual dos inimigos do governo colonial português (Oliveira 1950; Pélissier 1996). Verifiquei igualmente que esta cumplicidade portuguesa na violência era uma recorrência, uma marca estrutural da situação colonial nesse local. A guerra constituía um estado rotineiro nas relações entre o governo português e as autoridades nativas dos chamados reinos de Timor. Nos relatos assinados por administradores e oficiais portugueses sobre estas guerras contra adversários timorenses observei ser comum a contagem de cabeças cortadas ao inimigo. Nos seus longos relatórios de campanha, os oficiais do exército português descreviam (por vezes com detalhe) os ritos guerreiros de caça de cabeças que os auxiliares timorenses (designados por arraiais e moradores) praticavam no decurso dessas mesmas campanhas. Os guerreiros nativos eram uma presença sistemática no interior dos exércitos coloniais. Com efeito, desde os primórdios da presença portuguesa na ilha, nos séculos XVI-XVII, desenvolveu-se uma associação reciprocamente conveniente entre os representantes portugueses e certos grupos e classes timorenses, sobretudo no que dizia respeito à condução da guerra e da justiça. A violência, portanto, ocupava espaço considerável nos escritos coloniais portugueses e os sinais da presença da prática de decapitação eram abundantes.
Os textos portugueses de oitocentos documentam esta presença de forma por vezes paradoxal. Por um lado, representam a caça de cabeças que decorria nas guerras coloniais como algo distintamente “indígena” e “primitivo”; por outro lado, também situam essa prática timorense no seio da dinâmica de conquista e punição colonial, como se formassem realidades conjugadas e interdependentes. Na verdade, nas campanhas coloniais portuguesas em Timor não existia diferença efetiva entre os modos timorense e português de conduzir a guerra; da mesma maneira, não existia diferença substantiva no que tocava aos ritos timorenses de caça de cabeças, com uma principal particularidade: é que os portugueses eram também, de alguma forma, agentes da dinâmica terrífica desses ritos. Em suma, a documentação sugeria que, à época em que a coleção foi adquirida em Timor, a decapitação ritual constituía um costume, não apenas timorense, mas português e profundamente colonial. Seriam então os “campos de batalha” da coleção de Coimbra resultantes deste tipo de costume? Mesmo na hipótese de que foram timorenses a infligir os golpes de lâmina visíveis nas ossadas, é necessário também aceitar que as autoridades portuguesas que as comandavam e que promoviam a guerra estiveram inextricavelmente implicadas no passado brutal da coleção. A quem, então, atribuir a violência?
Nos arquivos coloniais, abundavam indícios do facto de as tradições de corte de cabeças em Timor-Leste estarem integradas na pulsão colonial de poder e conquista. Por conseguinte, a narrativa que ligava as origens coloniais da coleção de Coimbra a uma data anterior a 1882 necessitava, provavelmente, de ser revista em função de uma interpretação que enfatizasse a dinâmica cúmplice entre portugueses e timorenses no domínio da violência. Nesta perspetiva, os golpes de lâmina seriam traços de decapitação timorense na mesma medida em que eram traços da violência colonial punitiva da administração portuguesa. Os crânios de Timor em Coimbra eram um vestígio material de um género de “caça de cabeças” colonial. As marcas truncadas da anatomia craniana tornavam-se, nesta interpretação, índices de um passado no qual as fronteiras das dicotomias entre “colonial” e “indígena”, entre “portugueses” e “timorenses”, entre “civilização” e “barbárie” se dissipavam; por conseguinte, as anteriores narrativas da coleção podiam e deviam, agora, ser reequacionadas.
A guerra de Laleia
Foi atento à inserção da caça de cabeças na dinâmica colonial que prossegui em busca de traços arquivísticos da coleção. Os catálogos e textos publicados não davam indicações adicionais que pudessem decidir onde e quando procurar esses traços por entre os papéis do arquivo. Quaisquer que fossem os vestígios sobreviventes da aquisição das ossadas, eles estariam talvez algures, no meio das muitíssimas palavras, dispersas por muitos manuscritos, que os agentes da administração em Timor e Macau - militares, missionários, funcionários civis, governadores - dirigiram para os seus superiores em Lisboa. A ideia de procurar, ou caçar, uma agulha num palheiro parecia adequada ao desafio que se apresentava a esta pesquisa. Embora a pista principal me conduzisse a relatos de guerra, decidi ampliar o inquérito e tomar como universo de pesquisa a totalidade da documentação colonial (incluindo administração civil, obras públicas, e administração eclesiástica) produzida desde o final da década de 1870 (perto da data da chegada da coleção a Coimbra, em 1882) até meados da década de 1890. Muitos documentos depois, esta estratégia foi recompensada. Os traços arquivísticos da coleção acabariam por vir a lume em registos eclesiásticos, associados à então chamada “guerra de Laleia”, que decorreu em Timor entre 1878 e 1881.
Num primeiro momento, esperei que os escritos assinados por militares portugueses me viessem a revelar os traços perdidos da coleção. Por regra, eram os oficiais do exército quem, neste período histórico, mais se imiscuía nos assuntos da guerra e, também, mais diretamente participava na ritualidade da violência da decapitação nas campanhas coloniais. Mas, como tantas vezes acontece, a pista revelar-se-ia parcialmente equívoca. Pois, no caso da guerra de Laleia, a violência ritual da caça de cabeças inscrita na ação punitiva do governo colonial português não implicou apenas agentes militares. Implicou também a intervenção direta dos missionários católicos. Da conjunção entre pulsão evangelizadora, punição colonial e violência ritual nasceria, assim, a coleção de Coimbra. Da mesma maneira, a pequena história (mais tarde perdida) que os colecionadores missionários associaram inicialmente aos crânios humanos enviados para Portugal apareceu no arquivo colonial no meio dos discursos pertencentes à lógica da guerra.
O envolvimento dos missionários na campanha contra o rei timorense D. Manuel dos Remédios é bem evidente nos registos documentais. Este envolvimento terá consistido na instigação política do conflito, no apoio à punição do governo e aos confrontos armados e também, em alguns casos, talvez no comando direto de guerreiros em batalha. Em nome do governo e da missão Católica foram queimadas muitas aldeias e assassinado um amplo número desconhecido de timorenses - alguns deles decapitados pelos auxiliares ao serviço dos portugueses. A mesma guerra motivou um circuito de correspondência em Timor e entre Timor, Macau e Lisboa que culminaria num aceso inquérito judicial do governo às causas do conflito, que incluiu acusações contra o comportamento belicoso dos missionários. Fazendo esforços para ilibar os missionários das acusações, o superior da missão, reverendo António Joaquim de Medeiros (mais tarde, bispo de Macau) escreveu ao seu superior eclesiástico uma longa carta defensiva. Nesta carta, descreveu pomposamente o bom trabalho colonizador feito pelos missionários, incluindo o contributo dos religiosos para a aquisição de coleções de interesse científico em Timor. Reverendo Medeiros destacou a aquisição e organização de uma coleção de 35 crânios de timorenses. O próprio Medeiros teria adquirido os crânios das mãos de tropas auxiliares timorenses, a título de presente aos missionários, “na guerra de Laleia contra o facínora e rebelde Manuel dos Remédios entre 1878 e 1879”. Segundo o missionário, eram as cabeças de ditos “indígenas” rebeldes, os inimigos do governo colonial português e da missão católica (Medeiros 1881).
Contudo, as palavras que Medeiros escreveu em 1881 sobre a identidade e proveniência dos crânios perderam-se no percurso da coleção para Lisboa; como que hibernaram mais de um século no papel do arquivo colonial em Lisboa. O desligamento entre estas palavras e a coleção foi uma contingência da viagem dos ossos para Portugal. É provável que os escritos e catálogos do reverendo Medeiros tenham sido definitivamente desligados da coleção a meio do caminho, em Macau, aquando da reorganização e catalogação das remessas de Timor para Lisboa. Ficaram, porém, alguns dos seus vestígios, noutro lugar do arquivo circulatório da coleção, soltos no meio de um relatório eclesiástico que exaltava o papel dos padres na empresa de guerra e na alegada obra “civilizadora” dos portugueses que incluía a macabra coleta de crânios de inimigos para museus científicos em Portugal. Este passado destrutivo e missionário da coleção perdeu-se rapidamente da memória colonial em Timor-Leste. Mesclou-se também com a memória local de um outro marcante evento de violência e circulação colonial de cabeças humanas associado ao chamado “massacre” de Cová de 1895. A expedição punitiva desse “massacre” incluiria o resgate dos restos mortais dos soldados e oficiais europeus decepados em 1895.A cabeça de um desses oficiais foi de facto enviada e enterrada num cemitério em Lisboa. Desde então, este evento ofereceu um passado colonial alternativo para a coleção. Durante décadas, ele substituiu e suprimiua Missão Católica e a guerra de Laleia do passado da coleção - uma supressão epistémica que a caçada empreendida na minha etnografia de arquivo pôde enfim revelar e resolver, cerca de um século depois.
Conclusão
Neste artigo, recontei um trajeto de pesquisa com vista a conceber a etnografia de arquivo como um modo, um método talvez, de caçada semiótica. Descrevi a etnografia histórica de uma coleção antropológica como um trabalho de busca e decifração de traços, indícios e vestígios arquivísticos de vária ordem - traços na forma de inscrições literárias ou imagens dispersas por papéis e documentos; mas também traços físicos, não literários, incluindo marcas de lâmina na anatomia de ossadas. Parti da hipótese de que historiografia e etnografia podem assim formar uma congregação metodológica, na qual as práticas de pesquisa de arquivo e de terreno comunicam e se entrelaçam. Imagino o arquivo como campo etnográfico; imagino o terreno como campo historiográfico. Deste ponto de vista, conceber a etnografia de arquivo como caça semiótica permite elucidar a pragmática de pesquisa que, no cruzamento entre arquivo e terreno, se move em torno da procura e decifração de traços de eventos que aconteceram no passado. Quando o arquivo é o terreno, ou quando o terreno é arquivo, o etnógrafo-historiógrafo é colocado, à imagem de um caçador, perante o desafio de identificar, decifrar e interpretar múltiplas pistas e indícios de passados efetivos ou potenciais, muitas vezes dispersos em lugares e matérias várias. É-lhe exigido um intenso labor interpretativo e a narração de uma história. No estudo que revisitei aqui, menos do que um lugar institucional delimitado, o “arquivo” desse labor foi ganhando forma ao longo do percurso, vindo a configurar um complexo de documentos e textos em circulação. Afinal, o arquivo desta minha etnografia histórica foi uma manifestação emergente da própria pesquisa. Um efeito conjunto dos traços arquivísticos ocultos e revelados; intercetados e reunidos; interpretados e postos em conexão pela prática, ou - para empregar a metáfora que propus - pela caçada semiótica.
Durante esta caçada, à medida que os indícios do passado da coleção se revelavam, dois rastos históricos pareciam plausíveis. O primeiro conjunto de pistas partia das conjeturas craniológicas sobre a brutalidade do passado colonial dos crânios, decorrentes da leitura feita pelo antropólogo coimbrão. Barros e Cunha identificou marcas anatómicas de corte e decapitação. A resultante narração craniológica do passado pressupunha que a violência legível nos ossos resultava de uma repulsiva selvajaria cultural atribuível em absoluto ao mundo “indígena” timorense. O craniólogo via nas cabeças decapitadas a pura manifestação da barbaridade timorense. Em contracorrente a esta interpretação, o segundo grupo distinto de pistas sobre esse passado de violência partia de traços arquivísticos, que fui encontrando em manuscritos, correspondência e publicações assinadas por administradores, militares, missionários e outros agentes da administração colonial. Contrariamente às inferências históricas do craniólogo, articuladas a partir de preconceitos coloniais e raciais da alteridade, estes traços forneciam indícios de um passado de violência mais complexo. A etnografia de arquivo sugeria que os traumas anatómicos da coleção deveriam ser interpretados, não em relação a representações essencialistas do Outro, mas sim enquanto signos de violência colonial, índices de um passado no qual portugueses e timorenses coparticipavam na dinâmica de violência guerreira que resultava na punição e decapitação dos inimigos do governo português. Nesta leitura, nascente dos traços dispersos no arquivo, a história da coleção de Coimbra evocava uma colonialidade violenta situada numa zona violenta de interseção sociocultural entre portugueses e timorenses.
A etnografia de arquivo reconciliou, por fim, a coleção com os traços arquivísticos truncados do seu passado. A caçada semiótica permitiu indexar a coleção à violência colonial da qual proveio. Produziu-lhe, assim, outros significados. A coleção de crânios humanos decapitados nasceu da brutalidade de uma campanha de guerra empreendida pelo governo colonial e pela missão católica contra inimigos timorenses, com o socorro de outros aliados e guerreiros timorenses, entre 1878 e 1881. Hoje, cerca de 140 anos depois, torna-se uma marca legível da ferocidade do colonialismo português e do racismo científico obcecado com fantasias de alteridade primitiva. Não mais evidência de “raças humanas”; não mais sinal unívoco do barbarismo de outros povos. Doravante, os golpes de lâmina nos crânios humanos existentes no museu da Universidade de Coimbra dão-se a ler como índices da violência colonial que germinou em Timor-Leste.