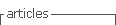Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Cadernos de Estudos Africanos
Print version ISSN 1645-3794
Cadernos de Estudos Africanos no.33 Lisboa Jan. 2017
https://doi.org/10.4000/cea.2195
DOSSIÊ
Formas de Resistência Africanas às Autoridades Portuguesas no Século XVIII: A guerra de Murimuno e a tecelagem de machira no norte de Moçambique[1]
Forms of African resistance to Portuguese authorities in the XVIII century: The war in Murimuno and the weaving of machira in North Mozambique
Luís Frederico Dias Antunes
Centro de História da Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa, Portugal, endereço de correio eletrónico: luisfredantunes@netcabo.pt
RESUMO
O texto procura discutir diferentes formas de resistência africanas à presença colonial e à pressão comercial externa, em Moçambique setecentista. No primeiro caso, procura analisar os violentos ataques praticados por um conjunto de chefaturas macua contra o corpo expedicionário português, em 1753. Diferentemente, o segundo caso assume um cariz marcadamente económico e cultural e aborda o aumento do cultivo de algodão e do fabrico de panos nativos (machiras), como forma de preservação de costumes e da identidade cultural africana face à imposição do consumo e uso de têxteis indianos.
Palavras-chave: resistência, macua, mujao, marfim, machiras, Moçambique
ABSTRACT
The purpose of this paper is to discuss different forms of African resistance both against the Portuguese colonial presence and the external commercial pressure in Mozambique, in the eighteenth century. In the first case, it studies the violent attacks on the expeditionary Portuguese troops perpetrated by a number of belligerent Makua chieftains, in 1753. In contrast, the second case is mainly of economic and cultural nature and deals with the growing cultivation of cotton and the production of native cloths (machiras) as a way of preserving customs and identity thus facing the imposition of consumption and use of Indian textiles.
Keywords: resistance, Makua, Yao, ivory, machiras, Mozambique
Um dos principais aspectos que marcaram a historiografia portuguesa sobre a sua presença colonial em Moçambique diz respeito à enorme disparidade cronológica acerca dos conhecimentos e dos eventos históricos, a qual incidia sobretudo no período da conquista, na primeira metade do século XVI, e, depois, no período do estabelecimento em territórios do interior, a partir do século XVII. Como é sabido, a produção histórica das últimas décadas tem procurado preencher as enormes lacunas cronológicas do conhecimento histórico, esforçando-se igualmente por investigar um conjunto de temas da maior relevância e de grande complexidade das relações coloniais portuguesas com a África que inviabiliza a aceitação de explicações simplistas que reproduzem concepções que apenas pretendem perdurar a glorificação do mito dos cinco séculos da presença portuguesa em África.
Nesta matéria, talvez um dos temas de maior dificuldade de análise tem sido as diferentes formas de resistência africanas à dominação colonial portuguesa setecentista em Moçambique (Alpers, 1980; Serra, 1983; Rodrigues, 1999; Liesegang, 1975; Isaacman, 1979; Botelho, 1934). Ora, isso coloca desde logo a questão de se saber o que é que, no contexto colonial, constitui uma acção de resistência, uma matéria complexa que, na década de 1960, investigadores, em desacordo com os limites que o conceito encerrava, alargaram o seu significado e a problemática que ele envolvia. Assim, de acordo com Hollander e Einwohner (2004) o termo resistência tem sido frequentemente utilizado para descrever um vasto leque de acções e comportamentos sociais e, ainda, para caracterizar numerosos cenários, desde os sistemas políticos ao lazer e a literatura, passando pelo quotidiano laboral. Neste sentido, a resistência tanto exprime as reacções dramáticas de carácter físico e material que incluem, por exemplo, as revoluções e os diferentes graus de tensão social no âmbito do trabalho, bem como as oposições mais subtis como as que são conseguidas pelo discurso ou outro comportamento simbólico, como as canções e a literatura de protesto ou o estilo de penteado. Quase tudo tem sido qualificado como acto de resistência, o que tem permitido que alguns autores o vejam em toda a parte e outros nunca o encontrarem (p. 534).
O texto procura discutir a forma como a resistência fez parte do relacionamento quotidiano entre autoridades africanas e portuguesas, em Moçambique setecentista. No primeiro caso, procura descrever e comentar a acção armada e violenta perpetrada pelo macua Murimuno sobre o corpo expedicionário português, no ataque à Macuana, em 1753 – a resistência entendida como um acto que assinala, reconhece e reage contra um inimigo-alvo, como processo de resistência ostensiva e intencional à sua autoridade ou poder (Hollander & Einwohner, 2004; Hoffman, 1999; Scott, 1985; Kastrinou-Theodoropoulu, 2009; Duncombe, 2008). De modo diferente, o segundo caso assume um cariz marcadamente económico e cultural e aborda o incremento do cultivo de algodão nativo e da produção permanente de machiras, como forma de manutenção de costumes e identidade face à imposição do consumo e uso de têxteis indianos. Nesta circunstância, a produção artesanal de tecidos de algodão também pode ser considerada um exemplo de resistência, na medida em que conservar a tradição do cultivo de algodão e da confecção de panos africanos dificultava, no plano económico, o avanço do comércio de têxteis asiáticos em zonas do interior moçambicano. Foi, pois, um comportamento persistente que as próprias autoridades coloniais reconheceram como sendo de manifesta desobediência e uma ameaça explícita ao estado em que as coisas estavam (Hollander & Einwohner, 2004; Scott, 1990; Crais, 1992, 2005; Mackinnon, 2003). Evidentemente estes actos de resistência, quer assumissem o confronto directo ou formas mais simbólicas, não colocaram em risco a continuação do poder colonial, não obstante terem causado algum tipo de impacto, ainda que limitado.
Alguns aspectos políticos e económicos de Moçambique em meados de Setecentos
Em meados do século XVIII, a par do quadro político mais geral em torno do processo autonómico de Moçambique em relação ao Estado da Índia – que determinou que os territórios portugueses na África Oriental ficassem na dependência directa da metrópole, colocando na ordem do dia a discussão da viabilidade da colónia, nomeadamente a forma de administração do comércio, o tipo de colonização e a defesa do território (Lobato, 1957, p. 283) – verificou-se uma significativa recomposição do poder nas sociedades africanas e um novo relacionamento entre estas e as autoridades coloniais, factos que contribuíram para a transformação do comércio interno da África Oriental.
Moçambique conheceu, então, uma importante transformação política e económica, devido, sobretudo, à combinação de um conjunto de factores no qual o elemento africano assumiu um papel central. Nesta matéria temos que assinalar a ascensão gradual dos Mujao, povos que eram oriundos de regiões próximas do lago Niassa e estavam envolvidos no comércio de marfim de longa distância, desde pelo menos meados da década de 1730 (Alpers, 1969, pp. 407-409; Alpers, 1970, pp. 84-88; Mitchell, 1951, pp. 294-296; Mitchell, 1956, pp. 22-23; Abdallah, 1973)[2].
A progressiva importância comercial dos Mujao acompanhou de perto o gradual redireccionamento de antigas rotas de marfim cujas caravanas, partindo dos sertões do interior nas imediações do lago Niassa, se dirigiam aos portos da costa suaíli, sobretudo Mombaça, no actual Quénia, e Quíloa, na Tanzânia. A partir de meados do século XVIII, estas rotas tradicionais, por onde também transitavam caravanas de escravos, passaram a seguir por itinerários mais a sul, fazendo com que grandes quantidades de marfim atravessassem com frequência a Macuana em direcção à Ilha de Moçambique[3].
Em 1753, caravanas com mais de mil carregadores mujao[4] eram responsáveis pelo transporte e comércio de perto de 120 toneladas de marfim, o que equivale a mais de 85%, em média, do total que anualmente se exportava de Moçambique para Goa, Damão e Diu[5]. Alguns anos mais tarde, as informações do escrivão da alfândega de Moçambique, António Xavier, acerca do volume de marfim exportado revelam que nos anos 1759, 1760 e 1761 se remeteram para a Índia cerca de 150, 130 e 120 toneladas de marfim bruto, respectivamente[6]. Um ano depois, em 1762, a quantidade de marfim exportado para a Índia rondava as 140 a 165 toneladas, cujo valor variava entre 240 a 280 contos de réis[7]. Talvez se perceba a sua importância no equilíbrio das receitas da colónia se compararmos os valores das saídas de marfim com os de escravos: saíram mil escravos, em 1762, cujo valor total ascendeu a apenas 40 contos de réis.
Grandes quantidades de marfim da costa oriental africana, sobretudo da faixa entre Mombaça e Sofala, foram exportadas por redes antigas de comerciantes indianos oriundos do Guzerate, desde meados do século XVIII (Antunes, 2001). O comércio de marfim esteve sempre intimamente ligado ao tráfico e à escravidão, sobretudo porque usavam as mesmas rotas de distribuição e portos de exportação. Mas, também, porque marfim e escravos, geralmente trocados por tecidos indianos, patacas espanholas, armas e pólvora francesa, proporcionaram a integração dos mercados leste-africanos numa rede comercial mais vasta que vinculava directamente mercadorias e agentes comerciais de diversos continentes, nomeadamente da América do Sul e Central, das ilhas francesas do Índico e da Índia, e daí com importantes centros comerciais do Extremo Oriente e do mundo árabe.

A guerra do Murimuno e o modo africano de a fazer no sertão moçambicano
O reacender do clima hostil entre os Macua e os portugueses, cujas relações tinham conhecido um relativo apaziguamento após a década de 1720, marcou, a partir de meados do século, o início de um longo período de conflitos mais ou menos violentos cujos marcos emblemáticos ocorreram em 1753-1754 e em 1783-1784 na região da Macuana[8] (Medeiros, 2011, pp. 195-196), um vasto sertão que se estendia para o interior do litoral fronteiro à Ilha de Moçambique. Do ponto de vista militar, as autoridades portuguesas encontravam-se numa situação bastante difícil, por apenas contarem com algumas centenas de homens mal armados. Esse facto parece explicar o fracasso de 1749 quando os portugueses foram obrigados a reagir às investidas perpetradas por um conjunto de chefaturas macua amotinadas lideradas por Murimuno, cuja principal aldeia se situava no interior do sertão, a cerca de 50 km da costa[9] (Botelho, 1934, p. 436; Rocha, 1987). Convinha, no entanto, ocultar a realidade. De tal forma que, em meados de 1753, o próprio governador de Moçambique Francisco de Mello e Castro (1750-1758) foi obrigado a suspender um projecto que há muittos tempos tinha ideado para os punir. Em alternativa, o governador optou por alardear publicamente o aparatto mellitar que julgou proporcionado, fingindo assim possuir forças que a administração colonial realmente não dispunha[10].
Os conflitos causados por Murimuno, considerado por Caetano Xavier o mais orgulhozo entre os mais, tiveram como origem principal os reiterados bloqueios à passagem franca dos Mujavo que [por essa razão] não pod[ia]m vir à praia com o seo marfim sem passarem pellas terras delles[11]. Esta situação dificultou a circulação das caravanas de carregadores de marfim e as rotas dos traficantes de escravos que se dirigiam às praias da Macuana, lesando o rendimento das alfândegas coloniais.
Note-se que, em Moçambique, a actividade económica da Coroa foi sendo cada vez mais ausente à medida que avança o século XVIII: resumia-se a pouco mais que a gestão das receitas da alfândega, baseada no acréscimo de taxas sobre as importações têxteis e exportações de marfim e escravos, já que os rendimentos dos foros dos prazos da Zambézia eram bastante inexpressivos (Hoppe, 1970, pp. 144-153).
Ora, nos inícios da década de 1750, os Macua apavoravam todos os que possuíam escravos, quer fossem traficantes, prazeiros, ou simples moradores. O próprio governador Melo e Castro informava que Murimuno gozava de total impunidade, fazendo na sua principal povoação coutto de todos os escravos que fugião aos Moradores desta Ilha [Moçambique], e da outra banda [Mossuril], roubando aos nossos Mercadores, fazendo vários dezacattos a gente de mayor excepção das nossas terras que passava, ou hia as suas[12].
Naturalmente, os motivos que levaram as autoridades portuguesas a declarar guerra aberta contra os Macua tiveram origem nos elevados prejuízos causados às receitas alfandegárias de Moçambique, devido à interrupção do tráfico de marfim e de escravos, resultante de incursões isoladas e, de certa forma, circunscritas à Macuana, nos anos de 1751 e 1752[13] (Lobato, 1957, pp. 110-111). No entanto, ocorreu outro tipo de perdas. Desde logo as resultantes da diminuição no comércio de missangas, tanto a de origem veneziana, transportada em navios portugueses, como a que provinha de Goa, negociada por conta da Fazenda Real. Ainda, as da redução do comércio de têxteis indianos. Finalmente, a quebra do provimento de comestíveis, água e lenha indispensável à manutenção dos moradores e das tropas portuguesas estacionadas na praça-capital de Moçambique[14] (Botelho, 1934, p. 436).
Em meados de 1753, pouco mais de um ano após a separação do Estado da Índia, chegaram a Moçambique dois navios com tropas de socorro treinadas e bem equipadas na metrópole, sob o comando do brigadeiro David Marques Pereira. Em África, essas tropas foram de imediato agregadas à pobre guarnição que zelava pela defesa da praça, formando-se assim um corpo expedicionário muito heterogéneo incumbido de castigar o movimento insurrecto de Murimuno. Na localidade de Moncuri, defronte da Ilha de Moçambique, organizaram-se sob o comando do tenente-coronel João Aires Baptista 120 soldados europeus munidos, a que se reuniram pouco mais de meia centena de cipaios da Índia e naturais da colónia, nomeadamente da Zambézia e ainda, mais de 600 africanos cedidos pelos xeques aliados de Quitangonha e de Sanculo, as formas mais usuais de recrutamento em Moçambique (Rodrigues, 2006, p. 82). Estes vinham armados de arcos e flechas e alguns poucos com espingardas, a que se agregou ainda, o capitão-mor Manuel Domingos acompanhado da sua milícia escrava, gente negra, calejada e conhecedora da vida no mato e com experiência dos caminhos da Macuana[15]. Sem grandes delongas, no início de Setembro, as tropas portuguesas avançaram confiantes pelo sertão em direcção aos territórios de Murimuno.
Enquanto isso, Murimuno preparou-se para o confronto pondo em prática a tradicional política de abandono total dos territórios e povoações macua que se encontravam na primeira linha de ataque dos portugueses, levando consigo todos os mantimentos disponíveis e organizando o recuo dos seus guerreiros para um local estrategicamente bem situado no interior por forma a aguardar pelo melhor momento para investir sobre o inimigo. Era uma táctica já antes experimentada, por exemplo, nas guerras na Zambézia, na década de 1680, que culminaram com a expulsão dos portugueses da região do planalto, após os massacres efectuados pelo Changamira sobre os portugueses que viviam nas minas e feiras da Mocaranga e da Manica, e da sua fuga para Tete, em 1694 (Axelson, 1969, pp. 176-183; Beach, 1980, p. 231; Mudenge, 1988, pp. 285 e 294; Lobato, 1995, pp. 330-331; Antunes & Lobato, 2006, pp. 282-284; Rodrigues, 2013, pp. 242-253).
Evidentemente, o corpo expedicionário patrocinado pela Coroa progrediu na sua marcha sem resistência, encontrando aldeias sem vivalma que seriam sucessivamente passadas a fogo, até que tendo subido o xeque da Quitangonha ao cimo de um pequeno morro deparou-se com:
vários negros emboscados com armas de fogo, arco de flexa, e azagayas e temeroso da quantidade como do perigo, mandou hua das pessoas mais do seu lado ao capitão-mor com a notícia do que passava pedindo lhe adjutoria [i.e. socorro, ajuda] de alguma gente pois [o capitão-mor Manuel Domingos] pouco distante estava[16].
De acordo com a única fonte portuguesa que descreve em detalhe a expedição, as dissensões internas e os acontecimentos que se precipitaram de uma forma tão impulsiva quanto inadmissível, justificaram o posterior massacre das tropas portuguesas. Nesse caso, o xeque de Sanculo foi baleado por se ter recusado a acudir com os seus homens as referidas forças que se achavam bloqueadas, sucedendo então que, para vingar a morte do seu chefe, os seus companheiros insurgiram-se violentamente contra os soldados portugueses, matando alguns que aí se encontravam. Fatigado e sem provisões para prosseguir a expedição punitiva, o comandante Aires Baptista ordenou a retirada das suas tropas, decisão que mostrou-se desastrosa. No entanto, as fontes indicam que Murimuno esperou o momento exacto para lançar um violento ataque ao desnorteado corpo expedicionário, cuja intensidade amedrontou tanto oficiais quanto soldados que juntamente temerosos botarão a fugir que se assim não fisessem morrerião todos. Nessa debandada geral, em que cada um se escapulia como podia e o que melhor pernas tinha, melhor se livrou e [ ] alguns largarão as armas, e fato para hirem mais leves, acabaram por morrer no mato mais de uma centena de soldados e oficiais e uma quantidade considerável de escravos. Acrescentaram-se a todas estas mortes no campo de batalha, as dos que sucumbiram à fome, à sede e [perdidos] nos matos, e as dos feridos que acabaram por mais tarde sofrer igual desdita no hospital da ilha-capital, sem contar com a perda de muitos cativos que na fuga desordenada aproveitaram para escapar à sua condição escrava[17].
A necessidade de afastar o perigo macua e derrubar a liderança de Murimuno tornou-se tarefa bastante difícil pelo facto de o novo xeque de Sanculo, sentindo-se traído pelos portugueses responsáveis pela morte de seu pai, ter decidido interromper o indispensável abastecimento de gados e mantimentos à fortaleza de Moçambique[18].
Depois do desastre da campanha da Macuana, o governador Mello e Castro procurou de imediato o auxílio do chefe macua Micieira,
hum dos mais Apotentados que tem esta costa, e o nosso mais próximo vizinho, [para que] entrasse na Macuana, e não só talasse as Terras daquelle Régulo [Murimuno], e as puzesse a ferro e fogo, mas também de outros circunvizinhos, para que o estrago que padecesse as suas Terras contivesse a Cafraria deste Certão[19].
Porém, embora tendo inicialmente aceite ajudar Mello e Castro, Micieira, receoso das consequências que a sua decisão poderia provocar, hesitou demasiado tempo pelo que o governador, sem ter outra alternativa, decidiu renovar o pedido de ajuda ao xeque da Quitangonha.
De imediato, as forças do xeque avançaram pelos sertões da Macuana até à povoação principal da Murimuno, infligindo-lhe pesadas baixas, perseguindo os seus guerreiros pelos matos e acabando por aprisionar muitos deles. Murimuno ainda procurou vingar-se desta humilhação e preparou seus homens de armas para retaliar e assolar as fazendas dos moradores portugueses do Mossuril. No entanto, essa acção foi frustrada porque o xeque da Quitangonha, previamente avisado das intenções de Murimuno, preparou uma emboscada, provocando muitas mortes e forçando as suas forças a fugir para o interior.
A documentação coeva conclui que o que sucedeu com o enorme malogro da expedição da Macuana foi o típico exemplo de uma campanha mal preparada e mal comandada no terreno (Botelho, 1934, p. 439). As consequências deste episódio nefasto para as forças portuguesas prolongar-se-iam até cerca de 1760, no contexto mais vasto da guerra endémica que historicamente opôs os portugueses às diversas chefaturas macua e a outros povos moçambicanos que se prolongaria até finais do século XIX[20].
Outro aspecto que a documentação permite discutir diz respeito ao modo como se organizavam as forças macua, os escravos rebeldes fugidos ao cativeiro e os povos amotinados que viviam em espaços em que a jurisdição colonial era nula. José Capela já nos tinha alertado para a necessidade de analisar a forma como as populações ameaçadas, incluindo os escravos de Moçambique, se organizavam em aringas, precisamente devido à importância e dimensão que este tipo de fenómenos tinha alcançado no Brasil-colónia. Em Moçambique, os negros reuniam-se em comunidades estrategicamente situadas e seguras, um género de campos fortificados denominados aringas (Aulete, 1881, p. 138) – que à semelhança do Brasil seriam, segundo Capela (2006, p. 82), chamados de quilombos de Moçambique –, onde escravos armados, os achicunda, foram os mais sérios adversários à presença colonial portuguesa, na virada do século XIX. A investigação de Capela recai, no entanto, sobre uma época bem posterior à cronologia deste texto. Também Eugénia Rodrigues (2013, pp. 912-915) se debruçou sobre esta matéria, circunscrevendo, todavia, a análise à área dos prazos da Coroa na Zambézia.
Então temos que na região de Tete, área de prazos na margem sul do Zambeze, os refúgios de população negra – independentemente do seu estatuto jurídico e dos significados atribuídos à escravidão e à liberdade na documentação portuguesa –, incluindo os escravos fugidos, estavam conceptualmente relacionados aos misitu ou mussitos. De acordo com o padre Manuel Barreto (1667), estas designações referem-se aos mattos fechados de bastimo arvoredo e impenetrável, em cujo centro situavam-se as principais povoações onde só pássaros poderão voar ou cobras romper, sendo, por isso, consideradas praticamente inexpugnáveis (Barreto, 1885, p. 43). De igual modo, a descrição de frei Bartolomeu dos Mártires (1823) sobre as povoações de negros livres situadas na área dos prazos da Zambézia corrobora inteiramente as informações dadas pelo padre Barreto século e meio antes. A configuração dos mussitos que cercavam e defendiam no seu interior uma ou mais povoações, embora aproveitasse em parte a mata natural já constituída, foi fruto, sobretudo, de uma intrincada construção feita de estacas grossas e pontiagudas junto com espinheiros, silvas e outros arbustos espinhosos densamente plantados, de modo a formar uma estrutura cerrada que dificultasse a acessibilidade do exterior[21] (Rodrigues, 2013, pp. 913-914).
No entanto, é preciso reconhecer que nas regiões fora da jurisdição dos prazos da Coroa, como foi o caso do sertão a norte do rio Zambeze onde se desencadearam os ataques do Murimuno, os termos macua misitu e mussito não foram até aí utilizados na documentação ultramarina portuguesa. Evidentemente não esquecemos que o uso das línguas não se circunscreve a espaços culturalmente definidos, pelo que o uso daquelas palavras macua estaria naturalmente bastante difundido nas duas margens do Zambeze.
O que percebemos é que, em meados do século XVIII, as fontes apenas mencionaram as palavras couto e valhacouto, vocábulos de origem latina que expressavam um lugar imune (Bluteau, 1728, Vol. I, p. 344; Vol. II, p. 507). Palavras que implicavam um privilégio senhorial europeu, por exemplo, o de interdição de funcionários régios entrarem nas terras de coutada por pertencerem a um nobre. Mais tarde, abolidos aqueles privilégios, esses mesmos termos passaram a definir, por extensão de sentido, os locais de asilo, lugares seguros onde se encontrava refúgio, abrigo ou esconderijo, ou, em sentido figurado, antro de malfeitores, covil de criminosos ou de animais.
Só 30 anos depois, em 1783-1784, aquando da guerra que o macua Uticulo desferiu contra os portugueses, é que os referidos vocábulos macua surgem na documentação portuguesa relativa à região a norte do Zambeze, para designar o nome de uma palmeira brava, rasteira, mais vulgarmente conhecida por Marita e Rentte, espécie arbórea com ramificações espinhosas muito próximas do solo e de cujas folhas se extraem fibras usadas na confecção de vestuário e de cestaria trançada, elementos que permitem, numa interpretação semântica mais lata, construir uma imagem semelhante à que se traçou para a área dos prazos da Coroa[22] (Prata, 1990, pp. 107 e 423).
Podemos, pois, considerar que a utilização de termos de origem macua na descrição das guerras do Uticulo na década de 1780 corresponde a um desempenho historicamente definido que revela alguma familiaridade com a língua e costumes locais e indicia o avanço e o estabelecimento da presença portuguesa nos territórios do Bororo e do Chire, a norte do rio Zambeze, mesmo que de forma ainda precária.
Finalmente, as questões da resistência económica e cultural e a melhor compreensão das sociedades africanas no Índico passam por evocar os principais traços que caracterizam as culturas e as instituições moçambicanas. A tecelagem de machiras, encarada como sinal do uso de técnicas complexas (desde a limpeza, descaroçamento, batimento e cardadura, até à fiação do algodão), e como marco revelador do gosto e da qualidade dos objectos de uso quotidiano de quem os produz e consome, tornou-se um elemento essencial para o conhecimento do passado africano. Com base nesta percepção compreendemos melhor as continuidades até à actualidade.
A resistência económica e cultural: produzem machiras porque estimão em muito os seus costumes
A outra forma de resistência assumiu, como assinalei no início do texto, um cariz económico e cultural e aborda o incremento do cultivo de algodão nativo e da produção de tecidos africanos, como resposta à imposição do consumo e uso de têxteis indianos.
Na realidade, na mesma época em que ocorreu a campanha de 1753 contra os Macua, as autoridades coloniais se deram conta que a crescente importação de têxteis asiáticos provocava a sua desvalorização e desestabilizava os mercados leste-africanos, lesando os comerciantes envolvidos nos negócios de escravos e de marfim, factos que causaram apreensão, se bem que num grau inferior ao dos ataques macua atrás descritos.
Como se sabe, desde muito cedo as actividades comerciais na África Oriental portuguesa envolviam os mercadores indianos e as elites das diversas formações sociais moçambicanas, através de uma complexa rede de intermediários africanos, indianos e portugueses. Esse comércio antigo recaía numa enorme variedade de tecidos de algodão estampado indiano, a maioria oriunda de Cambaia e de Surrate, no Guzerate, e em diversos tipos de missanga veneziana e indiana em troca de milhares de toneladas de marfim cujo destino eram as indústrias indianas de artigos de luxo procurados um pouco por todo o mundo (Antunes, 1996; Rita-Ferreira, 1982; Beach, 1983; Chittick, 1983).
Nas regiões localizadas a norte do Zambeze, nomeadamente nas que se encontravam sob maior pressão e influência económica do comércio externo estabelecido na Ilha de Moçambique, assim como nas do planalto zimbabueano, as missangas e os panos de algodão indianos de diferentes qualidades constituíam a parte mais expressiva das mercadorias transaccionadas.
Evidentemente, a maior parte dos tecidos era de fraca qualidade e servia de moeda corrente nas trocas com Macua, Mujao e, também, com os diversos potentados chona (Karanga) do sertão zambeziano. Outra parte dos tecidos, sem dúvida de melhor qualidade, serviria para consumo de uma pequena elite portuguesa e, ainda, de saguate[23] (Dalgado (II), 1921, pp. 271-272) oferecido às chefias africanas em sinal de cortesia e consideração, para uso próprio e de suas famílias, podendo, ainda, ser distribuída pelos séquitos que os rodeavam. O consumo de tecidos indianos revestia-se da maior importância por ser uma das formas de acumular riqueza e de consolidar o estatuto social, que estavam frequentemente associados ao tráfico, à obtenção e circulação de mulheres que, de acordo com Eduardo Medeiros (2007, p. 137), as vinculava às estratégias linhageiras e à construção das solidariedades, matérias que constituíam a base do poder político (Medeiros, 2007, pp. 128-137; Pereira, 2009, pp. 1-3; Zimba, 2012, p. 35; Martins, 2011, p. 178).
O contínuo fluxo de têxteis indianos em Moçambique colocou as autoridades africanas numa situação de grande dependência relativamente aos agentes comerciais de origem asiática e europeia. Para se ter uma ideia aproximada do volume de têxteis envolvidos no escambo de marfim, admitimos que em meados do século XVIII, quando o comércio moçambicano se encontrava sob monopólio da Coroa, a quantidade de tecidos indianos consumidos em Moçambique, incluindo os seus prolongamentos em direcção à África Central e Austral, rondava os 350 a 400 bares anuais, o equivalente a 125 até 160 mil panos[24]. De acordo com Alexandre Lobato (1957), essa quantidade era, ainda assim, modesta quando comparada com o consumo registado em épocas mais recuadas. O mesmo historiador avaliou que o volume de panos podia duplicar nos curtos períodos em que o comércio moçambicano se processava em regime de liberdade (p. 258).
Por outro lado, sabemos que na década de 1770 o negócio de panos e marfim proporcionava ganhos na ordem dos 100% a favor dos negociantes indianos que operavam em Moçambique mas mantinham redes de negócios, família e residência no Guzerate. Na realidade, eram eles, ou um comissário em seu nome ou em nome da sua firma, quem adquiria nos mercados indianos as fazendas necessárias aos negócios da costa oriental africana. Assim, em cada ano entravam na alfândega de Moçambique perto de 20.000 maços de missanga, enormes quantidades de tecidos de algodão de Cambaia e, ainda, outros produtos de menor estima, cujo valor somado não excederia 100 contos de réis. A maior parte destas mercadorias indianas serviria para comprar as cerca de 115 toneladas de marfim que Macua e Mujao transportavam para a Ilha de Moçambique, cujo valor ascendia a 200 contos de réis, produzindo os supracitados lucros na ordem dos 100%, por ano. Evidentemente, os ganhos anuais a favor dos comerciantes indianos eram maiores, podendo ascender aos 125%, caso as contas da missanga fossem calculadas a preços de Lisboa e os tecidos de algodão avaliados aos preços de Cambaia e de Surrate[25].
Ora, a enorme dependência dos africanos relativamente aos comerciantes envolvidos no comércio de tecidos indianos originou diferentes reacções, em diversas circunstâncias na história dos povos de Moçambique. Neste caso, a resistência macua assumiu cariz económico e cultural através do incremento da plantação de algodão indígena e da manufactura e comercialização de machiras. A difusão das machiras pelo sertão, penetrando na região dos prazos da Zambézia, revelar-se-ia uma das respostas mais eficazes para reagir à crescente penetração de têxteis indianos na costa oriental africana, em meados do século XVIII. Essa foi a razão pela qual a administração portuguesa se mostrou tão preocupada com as enormes quantidades de algodão selvagem que crescia de forma espontânea, ou através do plantio incipiente de espécies silvestres, realizado pelos Macua e por alguns moradores portugueses de poucos recursos, nas regiões do Chire, nas faldas da serra de Morumbala, e nas terras do Bororo, no baixo Zambeze.
A documentação permite-nos acompanhar o desenvolvimento gradual do cultivo de algodão indígena e do fabrico de machiras desde, pelo menos, meados do século XVI. O vocábulo machira é, no entanto, mais antigo. O padre Pires Prata (1990) assinalou os termos mashira (plural) e nshira, com o sentido de machila, liteira, palanquim e, machila, pano antigo tecido pelos nativos (do Chire), respectivamente (pp. 109 e 236). De igual modo, o padre Alexandre Valente de Matos (1974) registou o vocábulo nshira, como sendo um termo oriundo da língua macua com o significado específico e cronologicamente datado de pano que os nativos Macuas fabricavam antes da chegada dos portugueses. A par desse vocábulo, surgem, na mesma entrada do dicionário, as palavras igualmente macua, ekuwo e etchepé, com significado um pouco mais lato, a saber, tecido; qualquer obra de pano (pp. 255, 292 e 373). Curiosamente, o padre Dalgado (1919) assinalou igualmente o termo machira, dando-lhe, no entanto, duas acepções, ambas usadas na África Oriental. Na primeira, o termo teria sido usado com o significado de machila, e estava associado ao transporte numa peça de lona, presa pelas pontas a um varal grosso, de que se seguiram outros modelos mais confortáveis e sofisticados (pp. 5-7). Dalgado remeteu, no entanto, a palavra machila para outra entrada específica do seu Glossário. Na outra acepção, semelhante às de Valente Matos e Pires Prata, o termo significava lençol grosso de algodão, de fabrico indígena. Entendeu, no entanto, que esta última acepção é primordial, na medida em que foi dela que se derivou a outra.
Em 1573, Francisco de Monclaro referia que o cultivo do algodão se fazia para além de Sena, ao longo do rio Zambeze e nas terras de Bororo, de que os moradores dalli fazem fiado de que tem as machiras, revelando ainda ter visto o seu fabrico em teares baixos e lentos (Monclaro, 1975, pp. 380 e 390). Na esteira de Monclaro, mas com informação um pouco mais acurada, o padre António Gomes registou, em 1648, que nas terras da Morumbala, na margem esquerda do Zambeze:
semea esta gente do Bororo muito algodão, e fazem muita machira [...] em tiares [que] não tem arte nhua, cõ hus paos cumpridos dividem a linha, e com outro metem a linha, de hua parte pera outra, se nesta terra ouvera outros naturaes, mais industriozos, e de mais arte pudera dar roupas ao mundo todo pella muita abundancia que há de algodão (in Axelson, 1959, p. 203).
Outros autores seiscentistas referiram-se aos tecidos africanos sem, no entanto, acrescentar grande conteúdo (Barreto, 1885, p. 45; da Conceição, 1867, p. 43; Queiroz, 1916, p. 920; ). Todos eles confirmam, ainda assim, um aspecto muito importante: a existência de um continuum cultural na produção e comércio de machiras, considerando a enorme heterogeneidade espacial e temporal na evolução histórica dos povos africanos em presença. Um continuum económico e cultural que, até aí, nunca fez parte da pauta de preocupações das autoridades coloniais portuguesas.
Só a partir do segundo quartel do século XVIII, o plantio de algodão bravio e a produção de machiras foram encarados como iniciativas prejudiciais ao comércio da colónia. Em 1728, o governador Cardim Froes (1726-1730) informou que não podia calar as muitas sementeiras que nos Rios de Senna hoje há de algudão, e fabricas de pannos a que chamão machiras que rivalizando com os panos da Índia, provocariam graves prejuízos ao negócio conduzido pela Junta do Comércio de Moçambique, caso as autoridades não atalharem com pennas graves[26]. O mesmo Cardim Froes, em parecer dirigido ao Vice-rei da Índia, avançava com providências concretas e urgentes para a defesa da economia e do comércio de Moçambique, nomeadamente o impedir a cultura das árvores de algudão, e destruhir todas as que estiverem plantadas para evitar, que os cafres fabriquem os pannos, a que chamão machiras, [porque] são muito de sua estimação, e de grande damno ao comércio[27].
Porém, a situação não só não foi solucionada como, antes, se agravou. Em 1750, o governador Mello e Castro insistia que as muitas sementeiras que nos Rios de Senna hoje há de algudão, e fabricas de pannos a que chamão Machiras, juntamente com os chamados pannos de Pate, reduziam o espaço de penetração dos tecidos indianos nos mercados do interior sertanejo, constituindo um obstáculo aos pequenos negócios efectuados pelos moradores portugueses e às receitas alfandegárias que as autoridades portuguesas se esforçavam por incrementar (Castro, 1861, p. 17). O governador reconhecia que o rápido aumento do número de sementeiras de algodão nativo e a proliferação de teares macua para o fabrico de machiras no Bororo, bem como a sua disseminação pela região dos prazos, na margem direita do Zambeze, tinha provocado uma sensível quebra no tradicional negócio de panos indianos, em tal grau que, no seu entender, se não faz hoje negocio nos Rios de Senna para parte alguma das em que se comercea as ditas machiras (ibid.). Como é evidente, as autoridades portuguesas não tinham os meios para impor que a legislação que proibia o cultivo de algodão pudesse ser aplicada, sobretudo em áreas exteriores aos prazos da Coroa[28]. Por exemplo, os mercadores que saíam do Zumbo rio assima às terras de Orenge, em distância de quinze dias de caminho, [actual província da República da África do Sul] traziam de retorno marfim, manchillas, cobre e ferro labrado (Varela, 1955, p. 307).
Mas evidentemente, não obstante os receios da administração moçambicana, o impacto do cultivo de algodão e, sobretudo, do comércio de machiras na economia da colónia foi conjuntural e de certa forma bastante limitado, acabando por ser integrado numa lógica transnacional, baseada em laços históricos que provêm do antigo comércio triangular que ligava a costa leste-africana à Península Arábica, ao Guzarate e ao Kerala.
Independentemente do nível da produção de tecidos nativos, o comércio na África Oriental portuguesa setecentista prosseguiu assente nas diferenças quanto à natureza dos mercados e das mercadorias da costa oriental de África e do Guzerate. As razões são simples. Os mercados africanos, entre outras características, eram de reduzida escala, tinham limites de consumo de mercadorias asiáticas e encontravam-se bastante dependentes de factores exógenos que explicam, pelo menos em parte, o seu carácter muitas vezes provisório e descontínuo. Ao invés, os mercados indianos estavam ligados ao comércio transcontinental e continham em si grandes níveis de crescimento e refinamento. Eram, quando comparados com os africanos, menos influenciados pelas incertezas e possuíam enorme capacidade para absorver o volume das mercadorias leste-africanas que proviam uma indústria de artigos de luxo indianos. Por outro lado, para comprar têxteis na Índia era necessário intervir directamente no processo produtivo e comercial para, no momento da venda, se alcançar lucros elevados. Ao invés, tanto o marfim como os escravos moçambicanos, se bem que necessitassem da intervenção humana para serem capturados, constituíam mercadorias que não eram resultado da produção, estando, por isso, mais próximas da categoria de matéria-prima. Foi sobretudo na desigualdade de mercados de longa distância e na diferença do valor e de preços que os comerciantes indianos intervieram, tornando-se insubstituíveis na vida económica moçambicana (Antunes, 1998, pp. 70-73 e 92).
Em relação ao vestuário das populações moçambicanas, as fontes setecentistas confirmam no essencial as descrições conhecidas. Os Macua da costa e do delta do Zambeze vestiam-se com panos asiáticos que os portugueses lhes vendiam. Já nos sertões de Moçambique, mais afastados dos mercados costeiros, onde geralmente se fazia o comércio de marfim, os Macua andavam com pouca roupa, sendo que, no caso das mulheres, muitas apenas usavam umas faixas de pano que mal as tapavam e apenas algumas se vestiam com tiras de folha de palmeira. A maioria da população que usava panos escolhia as machiras de fabrico próprio, as maiores podiam medir 3,5 m de comprimento por 3,5 m de largura. Estas machiras de algodão grosseiramente urdido eram bastante mais resistentes do que as fazendas indianas e podiam servir tão bem de cama[29]. A elite africana preferia panos mais trabalhados, ricos e delicados que atingiam preços mais elevados. Os reis e a aristocracia chona do planalto zimbabueano, a exemplo do rei do Quiteve e da sua comitiva de familiares e gente mais próxima, vestiam-se com um pano fino de algodão, ou de seda, cingido pêra baixo até os artelhos, e outro muito maior do mesmo algodão, que os cafres tecem, a que chamam machiras[30]. Tal como a posse de gado na região do Monomotapa tinha um grande valor económico e simbólico, a importância dos têxteis, enquanto bem de prestígio e forma de acumular riqueza, pode ser atestada pelo facto de estar associada ao modo como se ajustavam os casamentos: o marido tinha que dar uma porção de roupa, previamente acordada, ao pai da mulher e recuperava-a se, por qualquer razão, se enfadasse dela (Axelson, 1959, pp. 207-208; Monclaro, 1975, p. 388).
Parece importante salientar que os Macua do Bororo cultivavam algodão e produziam machiras, sobretudo para consumo doméstico, porque eram mais baratas e resistentes que os panos indianos. Acabavam, no entanto, por vender o excedente da produção por territórios bem mais vastos e que se estendiam de Tete a Quelimane[31]. A produção de machiras, circunscrita a um território relativamente extenso e dominado por chefaturas e populações economicamente dependentes do comércio de marfim e de escravos, constituiu ainda assim uma eficaz forma de resistência ao comércio externo e de preservação de valores que a ele estão associados porque estimão em muito os seus costumes (Monclaro, 1975, p. 388). Uma forma de resistência que pode ser comparada, por exemplo, à ocultação de minas (ibid., p. 390), que:
além de revelar preocupações com a política de conservação das terras e de defesa das soberanias africanas, revela também a oposição entre a mentalidade mercantil europeia e asiática que visava o lucro, e esta outra, africana, que, sem desprezar as vantagens materiais, procura sobretudo explorar de uma forma equilibrada os recursos disponíveis em função das necessidades sociais de bens importados (Lobato, 1995, p. 320).
Algumas notas finais
Nesta evocação dos conflitos e das resistências africanas ao poder colonial, três paradigmas ficam comprometidos: o de que as guerras em África eram geralmente sempre desencadeadas e ganhas pelos europeus, princípio que deprecia a iniciativa, a experiência e a tradição africanas no modo de organizar a acção militar, de preparar a defesa e o combate, como aconteceu, por exemplo, em 1776, onde mais de 8 mil cafres bem armados [ ] mataram para sima de cem pessoas, ou, em 1783-1784, onde forças macua invadiram o Mossuril, matando e aprisionando muita gente (Guerreiro, 1947, p. 106 e segs.); o de que as actividades produtivas e comerciais autónomas em África eram reservadas aos europeus e indianos, preceito que desvaloriza a capacidade dos africanos terem ânimo para conceber e executar qualquer prática económica mais sofisticada; e o de que o negro por ser gente de bárbaros costumes e de qualidade inferior à do europeu, não estima os seus costumes, o seu modo de viver, vestir, comer e beber.
O ataque de Murimuno revela uma estratégia própria de condução do combate. Foi Murimuno quem preparou a logística, deu início ao ataque e definiu o momento do desfecho da guerra. Foi ele quem preparou a logística, organizando a concentração num local escondido e mais resistente de populações de povoações menores e dispersas, e levando consigo tudo o que possuíam de mais valioso. Foi Murimuno quem escolheu a ocasião e o local onde desferir o ataque de surpresa porquanto estava bem familiarizado com as irregularidades, os pontos mais altos, a vegetação que poderia servir de esconderijo e os lugares mais acessíveis para efectuar uma fuga organizada. A estratégia usada pelos Macua colocou-os em condições de vencer, à semelhança, aliás, do que ocorreu com diferentes povos da costa atlântica, nomeadamente os Akan da Costa do Ouro, como realçou Thornton (1999, p. 15).
Por outro lado, talvez se perceba a importância do algodão de Moçambique no período histórico das Companhias Majestáticas, entre 1860 e 1930, e a aproximação às regras do funcionamento económico mundial, se procurarmos as suas raízes ou, como salienta Carlos Fortuna (1993), os primeiros ensaios algodoeiros e jogos de interesses, entre os administradores e comerciantes de meados do século XVIII (pp. 71-86). A oposição da governança ao algodão moçambicano explica-se pelo desejo de impor aos africanos os padrões de consumo de mercadorias indianas e pela necessidade de manter a colónia como entreposto garantindo o nível de receitas alfandegárias resultantes da grande importação e exportação de tecidos indianos e de marfim, respectivamente. Da mesma forma, o repúdio declarado das redes comerciais indianas e suaílis implantadas na costa leste-africana numa conjuntura específica, justifica-se pelos receios que o incremento da produção algodoeira mais organizado poderia causar na sua actividade comercial a curto prazo. Passada a conjuntura política de meados do século XVIII, a cultura de algodão nativo e a produção e consumo de machiras resistiram e entraram no circuito das actividades económicas de Moçambique historicamente ligado ao comércio do Índico, sobretudo da Índia.
Este vínculo asiático pode igualmente ser atestado se tomarmos o significado do termo machira. Como vimos, uma das acepções dadas por Sebastião Dalgado no seu Glossário Luso-Asiático para o vocábulo machira foi a de machila, cujo significado apresentou resumidamente como sendo um transporte em peça de lona. No entanto, em outra entrada do Glossário, desta vez específica para o termo machila, Dalgado explicita o seu significado e determina a sua proveniência. Percebemos, então, que machila era o nome do transporte que estava na moda no início do século XX, tanto na Índia como na África oriental:
um leito portátil, feito de madeira com o fundo e as testeiras de rota ou rotim [i.e., palhinha para cadeiras, cordas, esteiras, velas de embarcação. Na Índia Portuguesa, também pode significar bengala], suspenso por meio de cadeias de ferro em um varal (que se chama cana por ser feito de bambu espinhoso) coberto por uma tenda para abrigo da chuva.
Sobre a etimologia, Dalgado afirma que no concani existe o termo machil ou manchil que passou para o télegu, língua dravídica do Canará, na forma de manchila. De igual modo, Yule e Burnell (1996 [1886]), dão o termo como sendo de origem sânscrita, mancha, cujo significado é leito, estrado, que teria passado ao inglês muncheel, manjeel, por via da língua malaiala, do sul da Índia, cujo termo é manchal, manjil (p. 596). Dalgado assegura que se consultarmos a nossa história colonial concluímos que o termo machira, designando o nome de uma fazenda e de uma espécie de liteira, é antiquíssimo na África Oriental, pelo que é lógico concluir que o vocábulo possa ter migrado para a Índia, onde se aplicou a um andor modificado.
Percebe-se, então, que o cultivo do algodão e a machira permaneceram integrados no complexo comercial e cultural do Índico. Só em 1890, após a consolidação das plantações das grandes Companhias Majestáticas do norte de Moçambique, e, sobretudo depois de 1914, com a chegada de uma nova geração de colonos mais politizados e instruídos, a produção algodoeira moçambicana fez parte de um plano de desenvolvimento da colónia e se distancia dos limites do Índico, passando, então, a relacionar-se com a ainda incipiente produção industrial portuguesa.
Referências
Abdallah, Y. (1973). The Yaos: Chiikala cha Wayao. Londres: Frank Cass. [ Links ]
Alpers, E. (1969). Trade, state and society among Yao in the nineteenth century. Journal of African History, 10(3), 405-420. [ Links ]
Alpers, E. (1970). The French slave trade in East Africa (1721-1810). Cahiers détudes africaines, 10(37), 80-124. [ Links ]
Alpers, E. (1975). Ivory and slaves in East Central Africa. Londres: Heinemann. [ Links ]
Alpers, E. (1980). War and society in pre-colonial Northern Mozambique: The Makua of Macuana. In B. Obichere (Ed.), African states and the military: Past and present. Legon: University of Ghana. [ Links ]
Andrade, A. A. (1955). Relações de Moçambique setecentista. Lisboa: Agência Geral do Ultramar. [ Links ]
Anónimo. (1955). Memórias da Costa dÁfrica Oriental e algumas reflexões úteis para estabelecer melhor, e fazer mais florente o seu commercio. 1762. In A. A. Andrade, Relações de Moçambique setecentista. Lisboa: Agência Geral do Ultramar. [ Links ]
Antunes, L. F. (1996). A presença asiática na costa oriental africana antes da chegada dos portugueses. Povos e Culturas, 5, pp. 15-39. [ Links ]
Antunes, L. F. (1998). Os mercadores baneanes guzerates no comércio e navegação da costa oriental africana (séc. XVIII). Seminário Moçambique: Navegações, Comércio e Técnicas (pp. 68-93). Lisboa: Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses. [ Links ]
Antunes, L. F. (2001). O bazar e a fortaleza em Moçambique. A comunidade baneane do Guzerate e a transformação do comércio afro-asiático (1586-1810). Tese de doutoramento não publicada. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal.
Antunes, L. F., & Lobato, M. (2006). Moçambique. In M. de J. dos Mártires Lopes (Coord.), O Império Oriental (1660-1820), Vol. V, tomo 2, dir. por J. Serrão & A. H. de Oliveira Marques, Nova história da expansão portuguesa (pp. 265-332). Lisboa: Estampa. [ Links ]
Aulete, F. J. C. (1881). Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional. [ Links ]
Axelson, E. (1959). Viagem que fez o Padre Ant.º Gomes, da Comp.ª de Jesus, ao Império de Manomotapa; e assistência que fez nas ditas terras de Algus annos. Stvdia, 3, pp. 155-242. [ Links ]
Axelson, E. (1969). Portuguese in South-East Africa 1600-1700. Joanesburgo: Witwatersrand University Press. [ Links ]
Barreto, P.e M. (1885). Informação do Estado e conquista dos rios de Cuama vulgar e verdadeiramente chamados Rios de Ouro [1667]. Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 4ª Série, 1, pp. 33-59. [ Links ]
Beach, D. (1980). The Shona and the Zimbabwe 900-1850. Londres: Heinemann. [ Links ]
Beach, D. (1983). The Zimbabwean plateau and its peoples. In D. Birmingham, & P. Martin (Eds.), History of Central Africa, Vol. I (pp. 245-277). Londres: Longman. [ Links ]
Bluteau, R. (1712-1728). Vocabulário portuguez & latino. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus. [ Links ]
Botelho, J. T. (1934). História militar e política dos portugueses em Moçambique. I: Da descoberta a 1833. Lisboa: Governo-Geral de Moçambique. [ Links ]
Capela, J. (2006). Como as aringas de Moçambique se transformaram em quilombos. Tempo, 10(20), 72-97. [ Links ]
Castro, F. de Mello de. (1861). Descripção dos Rios de Senna feita por Francisco de Mello de Castro. Anno de 1750. Nova Goa: Imprensa Nacional. [ Links ]
Chittick, N. (1983). Africa del Este y Oriente: Los puertos y el comercio antes de la llegada de los portugueses. In Relaciones históricas a través del Océano Índico (pp. 15-26). Barcelona & Paris: Serbal & Unesco. [ Links ]
Conceição, Frei A. da. (1867). Tratado dos Rios de Cuama [1696]. In J. H. da Cunha Rivara (Ed.), O Chronista de Tissuary, Vol. II. Nova Goa. [ Links ]
Crais, C. (1992). White supremacy and black resistance in pre-industrial South Africa. The making of the colonial order in Eastern Cape. 1770-1865. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]
Crais, C. (2005). Resistance and accommodation. New dictionary of the history of ideas. Michigan: The Gale Group. In http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424300695.html (acedido em 6 de Março de 2016). [ Links ]
Dalgado, S. R. (1919-1921). Glossário luso-asiático. 2 vols. Coimbra: Imprensa da Univer-sidade. [ Links ]
Dias, L. F. C. (Org.) (1954). Fontes para a história, geografia e comércio de Moçambique (século XVIII). Anais, 9(1). Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar. [ Links ]
Documentos sobre os portugueses em Moçambique e na África Central 1497-1840, Documents of the Portuguese in Mozambique and Central Africa 1497-1840. (1962-1975). 9 vols. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos & National Archives of Rhodesia and Nyasaland.
Duncombe, S. (2008). Resistance. In W. Darity (Ed.), International encyclopedia of the social sciences, Vol. 7 (pp. 207-210). Nova Iorque: Macmillan Reference USA. [ Links ]
Fortuna, C. (1993). O fio da meada. O algodão de Moçambique, Portugal e a economia-mundo (1860-1960). Porto: Afrontamento. [ Links ]
Guerreiro, J. de A. (1947). Episódios inéditos das lutas contra os Macuas no reinado de D. Maria I. Boletim da Sociedade de Estudos da Colónia de Moçambique, 52, pp. 80-109. [ Links ]
Hoffman, D. (1999). Turning power inside out: Reflections on resistance from the (anthropological) field. International Journal of Qualitative Studies in Education, 12(6), 671-687. [ Links ]
Hollander, J. A., & Einwohner, R. L. (2004). Conceptualizing resistance. Sociological Forum, 19(4), 533-554. [ Links ]
Hoppe, F. (1970). A África Oriental Portuguesa no tempo do Marquês de Pombal (1750-1777). Lisboa: Agência Geral do Ultramar. [ Links ]
Isaacman, A. (1979). A tradição da resistência em Moçambique. O vale do Zambeze, 1850-1921. Porto: Afrontamento. [ Links ]
Kastrinou-Theodoropoulou, M. (2009). Editorial note: Political anthropology and the fabrics of resistance. Durham Anthropology Journal, 16(2), 3-7). [ Links ]
Liesegang, G. (1975). Aspects of Gaza Nguni history (1821-1897). Rhodesian History, 6, pp. 1-14. [ Links ]
Lobato, A. (1957). Evolução administrativa de Moçambique, 1752-1763. 1ª Parte: Fundamentos da criação do Governo-Geral em 1752. Lisboa: Agência Geral do Ultramar. [ Links ]
Lobato, M. (1995). Uma relação seiscentista anónima sobre o Monomotapa. In Actas do Colóquio Construção e Ensino da História de África (pp. 317-353). Lisboa: Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. [ Links ]
MacKinnon, A. (2003). Negotiating the practice of the state: Reclamation, resistance, and betterment in the Zululand reserves. In C. Crais (Ed.), Social history of Africa: The culture of power in Southern Africa (pp. 65-90). Portsmouth, NH: Heinemann. [ Links ]
Martins, L. (2011, Julho). Os Namarrais e a reacção à instalação colonial (1895-1913). Blogue de História Lusófona, Ano VI, pp. 171-197. [ Links ]
Medeiros, E. (2007). Os senhores da floresta. Ritos de iniciação dos rapazes macuas e lómuès. Porto: Campo de Letras. [ Links ]
Medeiros, E. (2011). O Islão e a construção do espaço cultural e social macua. In J. Rodrigues, & C. Rodrigues (Orgs.), Representações de África e dos africanos na história e cultura - Séculos XV a XXI (pp. 195-280). Ponta Delgada: Centro de História de Além-Mar. [ Links ]
Mitchell, J. (1951). The Yao of Southern Nyasaland. In E. Colson, & M. Gluckman (Eds.), Seven tribes of British Central Africa (pp. 292-353). Londres: Oxford University Press. [ Links ]
Mitchell, J. (1956). The Yao village. A study in the social structure of a Nyasaland tribe. Manchester: Manchester University Press. [ Links ]
Monclaro, P.e F. de. (1975). Relação (cópia) feita pelo padre Francisco de Monclaro, da Companhia de Jesus, da expedição ao Monomotapa, comandada por Francisco Barreto [post. 1573]. In Documentos sobre os portugueses em Moçambique e na África Central 1497-1840, Vol. VIII (1561-1588). Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos. [ Links ]
Mudenge, S. (1988). A political history of Munhumutapa, c. 1400-1902. Harare & Londres: Zimbabwe Publishing House & James Currey. [ Links ]
Pereira, L. F. (2009). A dinâmica das transformações no espaço da Província de Nampula. In http://www.iid.org.mz/dinamica_das_transformacoes_no_espaco_da_prov_nampula.pdf (acedido em 12 de Dezembro de 2015). [ Links ]
Prata, P.e A. P. (1990). Dicionário macua-português. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical. [ Links ]
Queiroz, P.e F. de. (1916). Conquista temporal e espiritual de Ceylão. Colombo: H. C. Cottle, Govt. Printer. [ Links ]
Rita-Ferreira, A. (1982). Fixação portuguesa e história pré-colonial de Moçambique. Lisboa: Instituto de Investigação Científica/Junta de Investigações Científicas do Ultramar. [ Links ]
Rocha, A. (1987). Os suaíli de Moçambique: Síntesehistórico-cultural de uma sociedade africana (das origens ao fim do século XVIII). Trabalho de mestrado não publicado. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal.
Rodrigues, E. (1999). A africanização da guerra nos Rios de Sena no século XVIII. 14º Congresso Internacional de História Militar. A guerra e o encontro de civilizações a partir do século XVI(pp. 702-715). Lisboa: Comissão Portuguesa de História Militar. [ Links ]
Rodrigues, E. (2006). Cipaios da Índia ou soldados da terra? Dilemas da naturalização do exército português em Moçambique no século XVIII. História: Questões & Debates, 45, pp. 57-95. [ Links ]
Rodrigues, E. (2013). Portugueses e africanos nos Rios de Sena. Os prazos da Coroa em Moçambique. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. [ Links ]
Santos, Fr. J. dos. (1999). Etiópia Oriental e vária história de cousas notáveis do Oriente. Lisboa: Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses. [ Links ]
Scott, J. (1985). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. Londres: Yale University Press. [ Links ]
Scott, J. (1990). Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts. New Haven: Yale University Press. [ Links ]
Serra, C. (1983). Para a história da arte militar moçambicana (1505-1920). Maputo: Cadernos Tempo. [ Links ]
Thornton, J. (1999). Warfare in Atlantic Africa 1500-1800. Londres: Taylor & Francis. [ Links ]
Valente de Matos, P.e A. (1974). Dicionário português-macua. Lisboa: Junta de Investigações Científicas do Ultramar. [ Links ]
Varela, J. (1955). Descripsão da Capitania de Monsambique, e suas povoasoins, e producçoins, pertencentes à Coroa de Portugal. In A.A. Andrade, Relações de Moçambique setecentista. Lisboa: Agência Geral do Ultramar. [ Links ]
Xavier, I. C. (1955). Notícias dos domínios portuguezes na costa de África Oriental. 1758. In A. A. Andrade, Relações de Moçambique setecentista. Lisboa: Agência Geral do Ultramar. [ Links ]
Yule, H., & Burnell, A. (1996). Hobson-Jobson: The Anglo-Indian dictionary. Hertfordshire: Wordsworth. (Obra original publicada em 1886) [ Links ]
Zimba, B. (2012). O papel da mulher no consumo de tecido importado no norte e no sul de Moçambique, entre os finais do século XVIII e os meados do século XX. Cadernos de História de Moçambique, 1, pp. 25-41. [ Links ]
Recebido: 22 de março de 2016
Aceite: 10 de agosto de 2016
NOTAS
[1] Texto escrito de acordo com a grafia antiga da língua portuguesa.
[2] Os Mujao (etnónimos: Ajawa, Ayao, Yao, Mujau, Mujavo, Wahiao, Wayao) são povos de língua bantu da África Oriental e Central que acreditam ter a sua origem histórica na região montanhosa, entre os rios Lujenda e Luchelingo. De acordo com a sua própria memória histórica, difundiram-se daí através de uma série de migrações ao longo do século XVII. Actualmente vivem sobretudo em Moçambique, Malawi e Tanzânia.
[3] Inácio Caetano Xavier, Notícias dos domínios portuguezes na costa de África Oriental. 1758, in Andrade (1955, p. 153).
[4] Anónimo, Breve notícia da infelicidade que teve a nossa expedição de Monçambique , in Arquivo das Colónias, Vol. II, 9 (1918), p. 106.
[5] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 8, doc. 42, 20.11.1753.
[6] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 20, doc. 83, 15.12.1761.
[7] Anónimo, Memórias da Costa dÁfrica Oriental e algumas reflexões úteis para estabelecer melhor, e fazer mais florente o seu commercio. 1762, in Andrade (1955, pp. 215-216 e 219-220).
[8] A configuração desse espaço cultural e social macua evoluiu durante um longo processo de contactos entre africanos de línguas banto, e, nas zonas costeiras, entre estes e grupos de comerciantes que aí se estabeleceram temporariamente, a que se acrescentam vagas sucessivas de imigrantes vindos da Península Arábica e da Índia que possuíam culturas e línguas próprias.
[9] Nesta época, outras chefaturas macua lideradas por Mauruça, Mocutomunu e Movamuno, ocuparam territórios próximos à Ilha de Moçambique onde viviam populações culturalmente islamizadas que mantinham vínculos com indivíduos de outros centros costeiros afro-islâmicos, incluindo familiares, que deram origem, por exemplo, a uma rede tributária incipiente com cobrança de taxas pelo direito de passagem pelas suas terras.
[10] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 8, doc. 49, 27.11.1753; A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 8, doc. 33, 31.11.1753.
[11] Inácio Caetano Xavier, Notícias, in Andrade (1955, pp. 152-153).
[12] Ataque às terras da Macuana. Relatório, in Arquivo das Colónias, Vol. IV (1919), p. 55.
[13] Inácio Caetano Xavier, Notícias, in Andrade (1955, pp. 152-153).
[14] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 8, doc. 38, 15.11.1753.
[15] Anónimo, Breve notícia da infelicidade que teve a nossa expedição de Monçambique , in Arquivo das Colónias, Vol. II, 9 (1918), p. 107.
[16]Ibid.
[17] Ibid., pp. 108-111; Carta de Francisco de Melo e Castro, Governador de Moçambique, para o Rei, 28.12.1753, in Arquivo das Colónias, Vol. IV (1919), p. 58.
[18] Anónimo, Breve noticia da infelicidade , in Arquivo das Colónias, Vol. II, 9 (1918), p. 112.
[19] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 10, doc. 29, 16.11.1754.
[20] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 14, doc. 17, 09.05.1758; A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 19, doc. 8, 03.03.1761.
[21] Arquivo da Casa do Cadaval, Memória Chorografica da Provincia ou capitania de Mossambique na Costa dAfrica Oriental conforme o estado em que se achava no anno de 1822, offerecida ao publico por Bispo de S. Thomé Prelado de Mossambique, 1823, Códice Cadaval 826, M VI 32, fol. 60.
[22] MARITA, s. pl. 1. Palmeira-brava, também conhecida por mukittu, mukintu e msittu. Palmeira de tâmaras bravas. Das suas inflorescências, cortadas no pedúnculo, extrai-se uma bebida doce ou fermentada, chamada osura, como a dos coqueiros, usada como fermento para o pão, etc. [i.e., sura, vinho de palma]; 2. Vestimenta, à maneira de saia, confeccionada de fitas desta palmeira e usada pelos recém-iniciados alùkhu, ou pelos dançarinos nos batuques. RENTTE, Nome de uma variedade de palmeira-anã. Usada em trabalhos finos de entrançados, como chapéus, carteiras, chuteiras, pastas, etc.
[23] Vocábulo comum na Índia portuguesa e na África Oriental. Significa presente, dádiva, mimo, especialmente o que se dá em ocasiões festivas ou em sinal de homenagem.
[24] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 8, doc. 42, 20.11.1753.
[25] Luís António de Figueiredo, Notícia do Continente de Moçambique e abreviada do seu comércio. Lisboa 1 de Dezembro de 1773, in Dias (1954, p. 265).
[26] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 4, doc. 43, 14.08.1728.
[27] A.H.U., C.U., Índia, Maço 54 (77), 26.12.1734.
[28] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 10, doc.18, 08.11.1754.
[29] Castro, 1861, p. 17; Frei João dos Santos dá-nos conta que, entre os ofícios dos negros do Quiteve contava-se os tecelões, que fazem alguns panos grossos de algodão, do tamanho de um lençol meão, a que chamam machiras (Cf. Santos, 1999, p. 112).
[30] Santos, 1999, p. 111; A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 11, doc. 48, 17.08.1755.
[31] A.H.U., C.U., Moçambique, cx. 42, doc. 7, 07.05.1783.