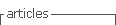Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Cadernos de Estudos Africanos
Print version ISSN 1645-3794
Cadernos de Estudos Africanos no.33 Lisboa Jan. 2017
https://doi.org/10.4000/cea.2206
DOSSIÊ
De Escravos a Serviçais, de Serviçais a Contratados: Omissões, perceções e equívocos na história do trabalho africano na Angola colonial
From slaves to serviçais, from serviçais to contratados: Perceptions, omissions and misconceptions in the history of African labour in colonial Angola
Maria da Conceição Neto
Departamento de História, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Agostinho Neto, Rua Ho Chi Minh, 56, Caixa Postal 1649, Luanda, Angola, endereço de correio eletrónico: saoneto@yahoo.com
RESUMO
Reflexão sobre a investigação histórica das questões laborais na colónia de Angola, visando contribuir para uma agenda da história do trabalho em África que dê conta da riqueza de fontes existentes. Problematiza, também, o uso de categorias genéricas (escravo, trabalhador) para diferentes espaços, épocas e contextos culturais. Partindo de uma breve panorâmica da transição do trabalho escravo ao trabalho livre em Angola (do século dezanove aos anos 60 do século vinte) o artigo destaca, por um lado, a importância, violência e persistência do trabalho forçado e, por outro lado, o facto de a maior parte da força de trabalho angolana, na produção e nos serviços, não ter sido por ele abrangida. Reconhecendo que os estudos sobre o trabalho africano no período colonial enfatizam algumas categorias e realidades, omitindo ou apenas mencionando outras, apela à diversificação de temas e abordagens, incluindo as que privilegiem as experiências de camponeses (nomeadamente mulheres), pescadores, pequenos comerciantes, artesãos, trabalhadores migrantes etc., ainda à margem na história do trabalho africano em Angola.
Palavras-chave: Angola, abolição da escravatura, trabalho forçado, serviçais, contratados
ABSTRACT
A reflexion on historical research on labour in Angola under Portuguese rule, this article aims to contribute to an African labour history agenda exploring the great amount of sources available. It points out to the problematic use of categories like slave and worker for very different spaces, times and cultural contexts. Starting with a quick overview of the slow transition from slavery to free work in Angola (from the nineteenth century to the 1960s), this article highlights the importance, violence and persistence of forced work. However, it also stresses the fact that most of productive and service activities in colonial Angola were not using forced labour. Research on African labour under colonial rule has emphasized certain categories and approaches while others were left in the shadow, so this article calls for more attention to the experiences of peasants (namely women), fishermen, petty traders, migrant workers and others still at the margins of the historical work on African labour in colonial Angola.
Keywords: Angola, slavery abolition, forced labour, serviçais, contratados
O presente texto, embora ancorado em investigações prévias sobre questões do trabalho em Angola a partir da segunda metade do século XIX, é uma versão ligeiramente modificada da conferência de encerramento do Seminário Internacional Cultura, Política e Trabalho na África Meridional[1]. As reflexões ali partilhadas visaram, principalmente, alimentar o debate e incentivar o desenvolvimento de uma agenda futura da história do trabalho em África que explore cada vez mais profundamente a diversidade de fontes existentes[2].
O foco principal da análise incide nas formas de utilização da força de trabalho da grande maioria da população colonizada, na colónia portuguesa de Angola. Certamente não se pode (não se deve) pensar o trabalho e o seu significado, para quem o realiza ou para quem o impõe, sem referência mais ampla às teorias e circunstâncias políticas que o enquadram e às culturas que lhe atribuem sentido. Porém, o texto que se segue não poderia ser tão ambicioso e foi estruturado, basicamente, em duas direções.
Primeiro, proporcionar uma panorâmica breve daquilo a que por vezes se chama, com razão, uma abolição inacabada, ou seja, a passagem do escravo a liberto, do liberto a serviçal e deste a contratado ou recrutado sem contrato, configurando formas de trabalho forçado a que foram sujeitos aqueles que as leis coloniais classificaram como indígenas. Partindo do princípio que a transição do trabalho escravo ao trabalho livre em Angola não é bem conhecida fora de um círculo relativamente restrito de investigadores, vale a pena resumi-la.
Em segundo lugar, sublinhar os riscos da banalização, na linguagem corrente mas também na historiografia, de palavras como escravo, escravizado, escravatura, escravidão, ou trabalho, trabalhador e salário, como se fosse consensual e óbvio o seu significado, o que não é o caso. Apesar de discussões académicas recorrentes sobre os conceitos que tais palavras veiculam, o problema subsiste e não é demais alertar para as armadilhas que elas colocam no caminho do historiador.
Na sequência destas preocupações, parece oportuno levantar também o problema de como os estudos sobre o trabalho africano nas colónias europeias colocam bastante ênfase em algumas categorias e realidades, mas omitem ou apenas mencionam outras. A questão não é meramente académica, pois influi no modo de compreender o passado, de transmitir experiências e de articular discursos políticos sobre o presente.
Considerando aqui deslocada e desnecessária uma revisão da vastíssima bibliografia já produzida sobre o tema, desde o período colonial aos autores recentes, é obrigatório destacar duas contribuições historiográficas de índole diferente mas igualmente importantes para novas abordagens históricas nas questões do trabalho na África colonizada. Primeiro a obra fundamental de Frederick Cooper, a começar pela sua comparação da questão laboral nas colónias britânicas e francesas, publicação que tem vinte anos mas continua a ser de leitura obrigatória para os que estudam o colonialismo europeu do século passado (Cooper, 1996, 2005, 2016). Mais recentemente e abrangendo áreas e períodos diversos, destaca-se no mundo de língua portuguesa a iniciativa do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto e seus parceiros que têm vindo a publicar, desde há anos e de forma continuada, os resultados de conferências internacionais por eles organizadas, com importantes contribuições (CEAUP, 2006, 2007, 2009, 2013).
Antes de entrar propriamente no tema, observemos o que era a colónia portuguesa de Angola no período a que nos vamos referir. Em 1836, quando legalmente se suprimiu o tráfico de escravos (e não a escravatura, note-se) proibindo a sua exportação das colónias africanas de Portugal para além-Atlântico, a colónia de Angola era um território descontínuo ocupando uma pequena parte da Angola atual. Ao contrário de representações comuns em mapas simplificados, a zona mais extensa era uma faixa horizontal de cerca de 300 quilómetros de comprimento, entre Luanda e Pungo Andongo, que para o norte da capital nem chegava ao Ambriz e a sul terminava no rio Kwanza; seguindo o litoral para sul, havia a feitoria fortificada de Novo Redondo (atual Sumbe) sem domínio do território em redor e, ainda mais a sul, um outro corredor de penetração para o interior, que ia de Benguela a Caconda. O resto eram regiões ainda independentes, onde os poderes africanos decidiam o que faziam ou não faziam a respeito das relações com os Europeus. Cerca de trinta anos mais tarde, o relatório de governo de 1861 informava que Angola era formada pelos distritos litorâneos de Luanda, Benguela, Moçâmedes e Ambriz (estes dois recentemente ocupados) e o distrito interior do Golungo Alto. Os limites a leste atingiam Malanje, entretanto subjugado e, no extremo sul, atingiam o Humbe. Mas dificilmente se poderia desenhar uma fronteira, já que muitos dos pontos avançados no interior estavam em completo isolamento uns dos outros (Menezes, 1867)[3].
Quando da Conferência de Berlim (1884-1885), embora a colónia se tivesse expandido bastante, ainda estava por definir a configuração de toda a metade oriental de Angola e a única fronteira que foi traçada em Berlim foi a do noroeste, separando o chamado Congo Português (com sede em Cabinda) do futuro Congo Belga. A zona de Cabinda também não ficou totalmente definida na Conferência, vindo a ser negociada mais tarde com os Franceses. A fronteira sul estava completamente em aberto, sendo objeto de sucessivas negociações, primeiro com os Alemães, depois com Britânicos e Sul-Africanos, as quais só terminaram em 1926. A última fronteira de Angola foi definida em 1927, no nordeste, com os Belgas. Portanto, ao discutir políticas coloniais, até à viragem para o século vinte, estamos a falar de espaços muito diferentes do atual. Importa sublinhar isto porque, no estudo destas sociedades, ou se avança para uma história que compreenda a região onde está inserido o país, ou se corre o risco de perda de sentido e de anacronismos, ao analisar a história dentro de limites fronteiriços que cada país ganhou apenas num período posterior. Mesmo no século vinte, a despeito da ocupação por diferentes colonizadores, as fronteiras eram zonas de intercâmbio e não barreiras intransponíveis e, portanto, é preciso compreender a história num quadro que vai além dos limites dos atuais Estados. Esta é uma constatação óbvia, mas nem sempre assumimos todas as implicações que isso tem na metodologia da pesquisa e nas fontes a explorar – ficando o alerta sobretudo para quem começa agora o seu caminho pela história da África.
Uma abolição tardia e inacabada
A questão da data da abolição da escravatura em Angola não é de resposta simples. Ao longo do século dezanove, uma série de medidas legislativas acabou por conduzir à abolição do tráfico transatlântico e, anos depois, à proibição da condição de escravo nas áreas sob domínio português. Portanto, do ponto de vista da legislação portuguesa, como da europeia em geral, incluindo a das colónias, a escravidão (ou escravatura) estava juridicamente suprimida no final do século dezanove. Mas a abolição da escravatura, aqui como noutras regiões do mundo, não foi de modo algum universal, nem imediata, nem completa. Quanto ao cumprimento das leis abolicionistas, basta ver quantas vezes o tema foi retomado nas reuniões internacionais, para exigir aos diferentes governos colonizadores europeus a sua efetiva aplicação[4].
No que diz respeito a Portugal, quase quarenta anos decorreram entre o famoso decreto do liberal Marquês de Sá da Bandeira em 1836, que proibiu a exportação de escravos das colónias portuguesas por mar (no caso de Angola, para o continente americano) e o decreto de 1875 que estabeleceu a liberdade de todos os ex-escravos libertos[5]. Podemos começar pelo decreto de 29 de abril de 1858, que previa para dali a vinte anos a liberdade dos escravos nas colónias; depois, em 25 de fevereiro de 1869, foram declarados libertos todos os indivíduos dos dois sexos, sem exceção alguma, que no mencionado dia se acharem na condição de escravos, mas não ficaram ainda livres, na medida em que eram obrigados, na sua nova condição, a trabalhar por um pequeno salário para as pessoas a quem anteriormente pertenciam. Aliás, eram marcados com ferro em brasa com o novo símbolo de liberto, tal como anteriormente tinham sido marcados pelos sucessivos proprietários. Em 1875, o decreto de 28 de abril, por vezes indicado como marco da abolição definitiva, extinguiu a servidão dos libertos para daí a um ano, mas eles ficariam sob tutela pública até 29 de abril de 1878, a data prevista no decreto de 1858! Percebe-se a dificuldade de indicar a data da abolição legal da escravatura em Angola.
A condição de liberto representava uma evolução em relação à de escravo mas, apesar da carta de alforria, os libertos não podiam livremente dispor de si e do seu trabalho, continuando tutelados por uma Junta especialmente designada. Assim se fazia sentir aos antigos senhores que estes ex-escravos não podiam ser tratados como dantes, mas era garantida por mais algum tempo a mão de obra da qual dependiam.
Seja como for, o alcance destas leis era muito reduzido pelas próprias limitações do domínio europeu em África no período em causa, sendo quase nulos os efeitos da legislação abolicionista no interior. E enquanto houve clientes do lado americano do Atlântico (o Brasil, o sul dos Estados Unidos, Cuba), houve tráfico de escravos[6].
Quando finalmente se libertaram todos os libertos, o desenvolvimento das plantações de café e cacau em S. Tomé arrastou até lá milhares de Angolanos, agora chamados serviçais, em condições de recrutamento e de trabalho que pouco diferiam das dos escravos. E quando na Europa, sobretudo na Grã-Bretanha, foi denunciado o escândalo do recrutamento e condições de trabalho dos serviçais que produziam o bom cacau, criando alguns problemas de consciência a quem lucrava com ele e o consumia (Nevinson, 1906; Burtt, 1907; Swan, 1909; Cadbury, 1910)[7], estava já em vigor a legislação que justificava o recurso ao trabalho forçado dos colonizados. Desde o Regulamento do Trabalho dos Indígenas das Colónias de 1899 até 1961, quando a guerra de libertação que eclodiu em Angola obrigou a rápidas reformas, a legislação colonial portuguesa permitiu sempre formas diversas de trabalho forçado (com ou sem contrato formal), que não se aplicavam aos cidadãos portugueses mas apenas àqueles pela lei classificados como indígenas. Não sendo já a escravidão, ainda não era o trabalho livre que só a legislação de 1961 veio consagrar, abolindo o Estatuto dos Indígenas e tornando todos cidadãos. No entanto, o sistema colonial não estava preparado para os efeitos económicos do fim da discriminação laboral e foi instituído um Código do Trabalho Rural que, apesar do nome, também se aplicava nos centros urbanos, por exemplo aos trabalhadores da construção civil que antes fossem considerados indígenas. Esse subterfúgio legal permitia que esses trabalhadores continuassem a ser pagos por tabelas salariais com valores inferiores aos dos cidadãos (Capela, 1977).
Para quem tenha pouca ou nula informação sobre o que foi o regime de indigenato instituído a partir de 1926 em Angola e Moçambique (e na Guiné em 1927), torna-se necessário explicá-lo, já que o Estatuto dos indígenas foi um elemento estruturante da doutrina e da política coloniais na maior parte do século vinte (Messiant, 2006; Neto, 1997, 2010, 2017; Vera Cruz, 2005; Keese, 2007; para o indigénat nas colónias francesas, Conklin, 1997, e Mann, 2009). Nesse contexto, o indígena não era equivalente a natural da terra ou a negro (de facto, alguns negros e mestiços, considerados civilizados, tinham estatuto de cidadãos). A maioria esmagadora da população colonizada, negros e seus descendentes, foi colocada na categoria jurídica de indígena, sujeita a obrigações específicas (impostos, trabalho, serviço militar), distinguindo-se assim dos ditos civilizados que incluíam todos os brancos (por inerência ) e uma muito pequena minoria de negros e mestiços. A discriminação racial ganhou assim base legal, já que os classificados como brancos seriam sempre cidadãos, apesar do elevado grau de analfabetismo, da pobreza de muitos deles e de uma considerável percentagem de degredados criminosos, longe dos padrões de vida e integridade moral exigidos aos outros para a sua inclusão no grupo dos civilizados.
Os ditos indígenas, além de legislação específica na esfera laboral, fiscal e judicial, e de restrições à livre circulação no território, eram excluídos dos lugares de residência, do tipo de escola, dos empregos, do acesso à propriedade fundiária etc. reservados aos cidadãos. O sistema de indigenato não só permitia a extração em larga escala da força de trabalho da maioria colonizada e dos seus recursos económicos (gado, excedentes agrícolas) como protegia a minoria branca da eventual concorrência da maioria negra, constituindo um poderoso inibidor da mobilidade social desta, mesmo quando, através sobretudo das Missões Cristãs, um grande número obteve alguma escolaridade e adotou o Cristianismo e muitos aspetos da cultura europeia (Neto, 2010, pp. 214-218). Em Angola, o Censo de 1940 revelou que na população civilizada os brancos estavam em minoria, situação sem paralelo nas outras colónias portuguesas de indigenato e que foi revertida nas décadas seguintes, com o fluxo da imigração europeia e maiores restrições no acesso à cidadania[8].
Voltando à questão da escravatura, ela está amplamente documentada em Angola no início do século vinte, dentro e fora da área controlada por Portugal, continuando a ocorrer a captura e comércio de pessoas que seriam utilizadas na produção, no transporte e nos serviços domésticos (Neto, 2010). Existia também o chamado resgate (terminologia herdada de épocas anteriores) feito por missionários católicos ou protestantes que, com rapazes e raparigas assim comprados e libertos, iam reforçando as hostes de fiéis e as suas aldeias cristãs, tentando ignorar o facto de se verem identificados como compradores de escravos e de acabarem por alimentar o tráfico que queriam suprimir[9]. O tráfico de escravos prosseguia, portanto, numa vasta zona da África central e austral, embora sem comparação com a intensidade de outrora. O facto de algumas sociedades africanas continuarem a alimentar esse comércio servia de desculpa aos compradores e utilizadores, camuflando também formas mais diretas de os obter, através de raptos, da falsa contratação de carregadores etc.[10]. Segundo Augusto Bastos, um bem informado habitante da Catumbela, em 1908 havia naquela povoação do litoral benguelense duas agências de emigração para S. Tomé (nesse ano foram enviados 907 serviçais) e alguma emigração para o litoral a sul de Benguela. A maior parte dos serviçais tinha sido trazida por outros africanos desde as áreas da Luva [Luba], Lunda e Ganguelas, sendo já muito menos os do Bié, Bailundo e Huambo (Bastos, 1912, p. 69).
Não só os métodos de obtenção, transporte e utilização de serviçais se confundiam com os do anterior tráfico, como eram frequentes na época as ofertas de crianças ou jovens mulheres para o serviço doméstico, assunto mencionado nos jornais, abertamente, sem parecer chocar quem os lia. Argumentava-se que não era escândalo resgatar gente a troco de aguardente e panos, ou trocar armas por géneros e moleques, ou resgatar a dinheiro serviçais domésticos, se afinal os que iam para S. Tomé eram comprados em Angola com aprovação do governo. E que havia em boas casas de Lisboa muitos rapazes e raparigas enviados de presente ou para satisfazer pedidos (Aguiam, 1903, pp. 14, 15, 17 e 59-60). Adelino Torres, investigando os acórdãos do Tribunal da Relação de Luanda, encontrou, para os anos de 1904 a 1913, registos de muitas dezenas de crimes de cárcere privado, ou cativeiro com ofensas corporais graves, e 40 crimes de práticas de compra e venda de pessoas (Torres, 1991, p. 202 e todo o capítulo). A nível internacional, as denúncias de Nevinson e outros, já referidas, iam abrindo caminho para a tomada de medidas oficiais mas não parecem ter afetado grandemente a situação no terreno.
Apesar de após 1910 ter diminuído drasticamente este tipo de situação, crédito que devemos dar ao novo regime republicano em Portugal, as condições de trabalho dos serviçais, em Angola ou em S. Tomé, pouco melhoraram. Aliás, a visibilidade do caso de S. Tomé obscurecia o facto de um número muito maior de trabalhadores forçados serem utilizados por empresas em Angola. O famoso Relatório Ross (Ross, 1925) apontou mais uma vez o dedo às autoridades coloniais portuguesas pela forma como se obtinha a mão de obra[11]. Mas mesmo quando se condenavam em reuniões internacionais os métodos de recrutamento usados em Angola e Moçambique, não faltavam acordos com o Estado português para recrutamento de trabalhadores, como no caso da África do Sul com Moçambique ou, em muito menor escala, o Congo Belga com Angola.
A sequência e/ou sobreposição de diferentes regimes de exploração da mão de obra mostra que o trabalho forçado não foi uma aberração ocasional do sistema colonial ou uma originalidade da colonização portuguesa em África[12]. Ele foi uma forma de extrair riqueza e força de trabalho das populações colonizadas, usada sistematicamente, de um ou outro modo, por todos os colonizadores europeus em África, em pleno século vinte. Portugal, como é sabido, prolongou por mais tempo o recurso ao trabalho forçado, mesmo quando ele já estava em declínio ou tinha sido eliminado nas outras colónias. Mas as formas violentas de obtenção de trabalhadores seguiram modelos similares, salvaguardadas épocas e circunstâncias diversas, nas colónias francesas, no dito Congo Belga ou nas colónias britânicas, fosse para a construção de infraestruturas, as minas, as plantações ou as campanhas militares[13]. No trabalho forçado se devem também incluir as corveias (sem qualquer remuneração e a pretexto do interesse público) impostas aos habitantes das aldeias, mulheres e crianças inclusive, nomeadamente para a construção e manutenção de estradas e pontes.
Se pode ser afirmado que o tráfico de escravos negros representou para África uma sangria demográfica e um obstáculo ao desenvolvimento das suas potencialidades, pode também dizer-se que a colonização europeia que se seguiu, sobretudo nas primeiras décadas, não trouxe melhores perspetivas. É certo que as pessoas já não eram exportadas para o outro lado do Atlântico, mas continuaram a ser deslocadas e usadas segundo as conveniências da potência colonizadora, por vezes com recurso a grande violência. As leis que restringiam o trabalho forçado abriam exceções suficientes para permitir o seu amplo uso, como exemplifica, no caso português, o Artigo 20º do Ato Colonial:
O Estado somente [itálico nosso] pode compelir os indígenas ao trabalho em obras públicas de interesse geral da coletividade, em ocupações cujos resultados lhes pertençam, em execução de decisões judiciárias de carácter penal, ou para cumprimento de obrigações fiscais (Diário do Governo I Série, nº 156, 8 de julho de 1930).
Ainda se encontra bibliografia sobre o trabalho nas colónias europeias em África onde os autores parecem pensar que o que está consignado na lei é a realidade. A legislação, porém, será mais útil para o estudo da ideologia colonial, ou das diversas doutrinas coloniais, do que para entender as relações laborais ou as condições de trabalho. No caso de Angola na segunda metade do século dezanove e nas primeiras décadas do século vinte, nem as leis eram para cumprir (e só lentamente se impunham) nem o governo português controlava grande parte das áreas onde eram obtidos os serviçais ou eram resgatados os escravos que circulavam na colónia. Depois, na fase em que as fronteiras coloniais estavam finalmente definidas e a ocupação militar deu lugar à administração civil, continuou a discrepância entre a legislação produzida nas metrópoles e a sua aplicação no dia a dia colonial. As habilidades jurídicas com a linguagem, tendentes a justificar a colonização como obra de civilização, fazem da maior parte da legislação colonial uma boa coleção de palavras de reduzido interesse para a história social.
Os sucedâneos coloniais da escravatura têm, de facto, certas características diferentes e não considero útil, a bem da análise histórica, confundi-los e aplicar-lhes o mesmo rótulo. Porém, para as populações de Angola que viram os seus filhos serem levados para as roças de São Tomé ou outros lugares distantes, para a construção de estradas e vias férreas, ou para as pescarias, minas e fazendas, essa realidade foi vivida e sentida como uma nova forma de escravatura.
Em resumo, com base no que se passava em Angola, mas não só, gostaria de destacar:
- a permanência de formas da escravidão típica, clássica (no contexto da história do Atlântico), até às primeiras décadas do século vinte;
- a generalização de meios coercivos de obtenção de mão de obra que acompanhou a instalação do sistema colonial: os impostos, o recrutamento forçado, a pressão sobre os chefes das aldeias, as punições coletivas etc.;
- a importância de estudarmos as questões do trabalho na África colonizada, tanto quanto nos permitam as fontes existentes, a partir do que se passava no terreno e não tanto com base na prolixa legislação colonial.
Uma escravidão sem fim?
Sabemos que as palavras viajam e se revestem de novos significados e não surpreende que isso mesmo tenha sucedido com termos e conceitos relativos à problemática em análise. Compete-nos estar atentos aos riscos que corremos com palavras trazidas de meios sociais e de experiências históricas diferentes: a generalização, a simplificação, o estereótipo, a banalização de conceitos ou a sua descaracterização influenciam negativamente a pesquisa e afetam o rigor da análise histórica, mesmo quando possam, eventualmente, ter interesse didático.
Um caso paradigmático (e que já fez correr muita tinta) é o que envolve o uso dos termos escravo, escravizado, escravidão, escravatura[14]. O que se passou do lado americano do Atlântico marcou definitivamente a nossa relação com essas palavras. Entretanto, do outro lado, na África que continuou independente até ao final do século dezanove ou mais tarde, a palavra portuguesa escravo sempre foi insuficiente para cobrir a variedade de situações existentes. Pelo menos na região da África em que se situa Angola, as várias línguas bantu preservam ainda diversas designações distinguindo a pessoa escravizada na guerra, ou comprada, da pessoa escravizada temporariamente, por dívida ou por crime[15]. Não preciso insistir na importância de, em cada situação, tentar saber como localmente poderão ser designadas estas diferenças. Teremos de continuar a recorrer a palavras como escravo, servo, dependente, penhor – mas seja qual for a escolha, temos consciência de que as línguas europeias que usamos estão marcadas por uma experiência, que durou séculos, de um certo tipo de tráfico, de um certo tipo de escravidão. E esta, por sua vez, influenciou o conceito de escravo também em África. O uso de expressões como escravatura doméstica ou escravatura patriarcal pode ajudar mas não resolve o problema, já que continua a envolver numa mesma designação formas diversas de servidão e dependência.
Porém, o problema não se esgota na questão do vocabulário e gostaria aqui de questionar uma opção corrente na historiografia quando, face a tanta violência associada às formas de trabalho forçado que acompanharam o domínio colonial em África no século vinte, se decide designá-lo igualmente por escravatura (ou escravidão). A importância do assunto justifica o debate.
A tendência para fazer uso do termo escravatura e afins nesse novo contexto colonial vem de dois campos bem diferentes.
Por um lado, aqueles que no mundo académico, com razão, querem demonstrar a falsidade ou o pouco impacto das proclamações antiesclavagistas e atingir a boa consciência dos colonizadores que aboliram a escravatura, insistindo na persistência de formas de trabalho servil ou, genericamente, não-livre[16]. A terminologia da escravatura não se tem aplicado, no geral, às corveias impostas à massa da população camponesa, mas a outras formas de trabalho forçado ao serviço da economia colonial: o recrutamento contra vontade e, por vezes, sob ameaça direta de prisão, de trabalhadores braçais para as minas e plantações, o serviço de carregadores, as tropas auxiliares das campanhas coloniais etc.
Por outro lado, há os descendentes dos colonizados, que partilham uma memória social onde todo o trabalho para o colono era trabalho escravo por, em última análise, não ser trabalho livre, sendo o colonialismo do século vinte designado também como tempo da escravatura, em que se viveu até à independência. O discurso das vítimas de um sistema é essencial para compreendermos o sistema pois, mais do que saber o que é verdade, permite dar conta do que é visto como verdade. Mas aquilo a que muitas vezes assistimos hoje, nas vozes dos que se apresentam como representantes das vítimas, pode ser tão estereotipado, tão ideológica e politicamente determinado como o discurso dos defensores do sistema. Por vezes usado com convicção, é com frequência um discurso manipulador, ao serviço de objetivos políticos ou de prestígio pessoal. No entanto, quando dito por alguém que sofreu na pele (ou descendente de quem sofreu na pele), ganha legitimidade, sobretudo em fóruns internacionais, e vaza para o discurso académico e a imprensa, em intervenções públicas diversas.
Sendo assim, é necessário justificar a posição aqui defendida. Reafirmando o que tenho escrito, acho inadequado e, em certos casos, errado, o uso do termo escravatura (ou escravidão) para designar diversas modalidades de trabalho forçado. Embora já me tenha também referido a essa nova escravatura, há muitos anos[17], foi precisamente a continuidade do trabalho de investigação que me levou a perceber que isso é mais um risco do que uma vantagem para a análise das situações concretas e a compreensão dos processos a que estão ligadas. Portanto, esta discussão não se coloca num puro plano conceptual, mas no plano da operacionalidade dos conceitos. A investigação histórica sobre o tema precisa de estabelecer semelhanças e diferenças nas modalidades da obtenção da mão de obra, no papel do Estado, nos agentes recrutadores, nas rotas, no transporte, nos direitos dos donos ou patrões, nos limites desses direitos, no destino dos trabalhadores, na duração e condições do trabalho.
É consensual, entre os investigadores mas também em muitos autores da época, que certas formas de recrutamento de serviçais no início do século vinte pouco ou nada se distinguiam do tráfico de escravos. E do ponto de vista dos pais a quem levavam o filho, ou da mulher que ficava sem o companheiro, tanto fazia que o levassem para S. Tomé como escravo, como serviçal ou como contratado. Mas a análise histórica e sociológica não deve contentar-se com o discurso e a linguagem da denúncia e do combate à exploração do trabalho. Aliás, no caso angolano pelo menos, alguns dos atingidos pelo trabalho forçado reconheciam a diferença: em muitas partes de Angola, a memória social guardou o ano de 1910 (implantação da República em Portugal) como o ano em que foi de facto abolida a escravatura (digamos) clássica que, embora residual, continuava a ter nichos de mercado internos e externos (Neto, 2010). Essa data não consta em nenhum decreto abolicionista, mas algumas medidas foram tomadas pelo novo governo republicano e, em Angola, pelo governador-geral Norton de Matos. Ele próprio, no entanto, não viu inconveniente em que os administradores aplicassem as corveias à população camponesa para pôr mais gente a trabalhar na construção e manutenção das estradas que Norton considerava essenciais à colonização e símbolo de progresso.
Generalizar demasiado ou obscurecer diferenças nunca foi muito útil à compreensão dos fenómenos e processos sociais. Já é suficientemente complicado, para os quase quatro séculos do tráfico transatlântico, usarmos as mesmas palavras para situações muito diversas. Mas há ainda um argumento, não menos importante, contra a tendência de utilização excessiva (a meu ver) do termo escravatura e afins no período da ocupação colonial efetiva e generalizada: é que, ao contrário da intenção original, involuntariamente branqueamos de certa forma aquela escravatura, aquele comércio de seres humanos que durante séculos ligou os destinos da África, da Europa e da América, configurando grande parte da história mundial e, mais ainda, determinando a perceção do lugar dos negros na história do mundo. Quando estendemos a linguagem da escravatura de forma a cobrir quase tudo o que veio depois, aquela do tráfico transatlântico passa a ser mais uma etapa, não necessariamente melhor ou pior, na longa e interminável (?) história da escravatura nas sociedades humanas. É nesse sentido que me parece que, de certa forma, a banalizamos e, ao fazê-lo, a branqueamos, ainda que não seja essa a intenção.
Afinal, se ainda hoje temos de lutar contra algumas formas de escravatura e se, de um ou de outro modo, durante milénios a existência de pessoas escravizadas foi uma constante da história da Humanidade, por que insistimos nós em singularizar tão fortemente aquela? A resposta simples e direta pode ser: porque essa escravatura condicionou de forma decisiva o que veio depois, não só do lado americano e do lado africano mas também no resto do mundo, através particularmente dos impérios europeus; porque as feridas abertas pelo tráfico de escravos negros ainda não sararam, nem em África nem fora dela; porque ainda vivemos, na nossa época, com muitas das suas consequências, quer tenhamos ou não consciência disso. E enquanto assim for, é necessário singularizar aquela escravatura e o correspondente tráfico de seres humanos por terra e por mar, continuando a explorar novas fontes, a aprofundar as nossas análises, a desafiar ideias estabelecidas.
Embora muitos dos efeitos da escravatura ligada ao tráfico transatlântico se tenham prolongado através do trabalho forçado nas colónias europeias de África, não era a mesma coisa. Mais uma vez vendo do lado da população angolana, podemos apontar desde logo uma diferença: quando as pessoas partiam para não se sabia onde, além-mar, desapareciam para sempre. Mesmo os que iam para S. Tomé, de onde inicialmente poucos regressavam, na prática desapareciam. Portanto, quando de uma comunidade, de uma família, pessoas eram levadas no tempo do tráfico de escravos, a escravidão era equivalente à morte, pois era o desaparecimento definitivo. Quando, no tempo do trabalho forçado que sucedeu à escravatura, isto se passava dentro da colónia, ou até fora das suas fronteiras mas em espaço acessível, não havia a mesma ideia de separação definitiva. Apesar do grande sofrimento que implicava, encontravam-se meios de mandar recados e avisos, o homem poderia voltar a casa, dar alguma ajuda, fazer mais um filho, antes de partir novamente. E a fuga era uma possibilidade real. Há, pois, um impacto diferente na perceção e na realidade, relativamente ao que se passava no tempo do tráfico transatlântico e nas décadas finais do século dezanove e primeiras do século vinte, quando a ida de serviçais para S. Tomé ainda era a escravatura.
Os trabalhadores e os outros
A despeito de importantes trabalhos concluídos nos últimos anos e teses promissoras em curso em diversas universidades, vale a pena refletir sobre as (quase) omissões existentes na historiografia relativa ao trabalho, pelo menos no que diz respeito às antigas colónias portuguesas[18].
Sabemos que não há nada de universal na conceção do que é trabalho ou do que é um trabalhador. Para uns é quem produz ou acrescenta valor à produção, para outros é o assalariado, para outros é o que não possui meios de produção – e poderíamos continuar. O que considero surpreendente é que se possa evocar a história do trabalho como se o mundo se tivesse organizado desde sempre em torno do Mediterrâneo e, depois, da Europa e suas dependências além-mar. É usual, em obras de referência, lembrar a tradição judaico-cristã (o trabalho é, basicamente, a punição do homem expulso do Paraíso), passar pela escravidão mediterrânica com auge no Império Romano e chegar, após a travessia de uma deprimente Idade Média, à Reforma e à ética protestante que terá alimentado o capitalismo nascente. Depois, sabe-se, foi a Revolução Industrial a impor o ritmo das máquinas ao trabalho humano e veio o capitalismo triunfante. Seguem-se as revoltas dos trabalhadores contra o sistema capitalista, colocando o operário como o grande símbolo (quando não simplesmente sinónimo) do trabalhador, antes de novas revoluções tecnológicas lhe tirarem o protagonismo. E isso será tido com a história mundial do trabalho até ao século vinte, com algumas dessas obras a dedicar, eventualmente, meia dúzia de páginas ao resto do mundo.
Só que o mundo era e é bem mais vasto e mais rico em culturas com outras visões, sejam as de Confúcio ou as dos Bantu. E no que às colónias europeias em África diz respeito, os operários não eram o símbolo dos trabalhadores, eles eram de facto pequena minoria, já que os países da Europa industrializada exploraram as suas colónias de África com muito pouca industrialização e pouca maquinaria. Para quê, se o que queriam eram matérias-primas e se podiam obter trabalhadores gratuitamente ou quase? O caso de Portugal é extremo, por ser ele próprio um país industrialmente atrasado, mas não é muito diferente de outros até aos anos 40 do século vinte.
Não se pretende aqui desenvolver o assunto, mas apenas referir o problema, contribuindo para um mapeamento de dificuldades encontradas por quem decide estudar questões do trabalho nas colónias africanas nos períodos posteriores ao tráfico de escravos. Na verdade, não foram poucos os textos, no século vinte, em que os colonizadores comentaram ou tentaram dar a sua explicação sobre diferentes conceitos de tempo, de valor do trabalho, de noção de salário, de atividades laborais socialmente aceites ou completamente rejeitadas, conceitos sobre os quais patrões europeus e trabalhadores africanos dificilmente poderiam estar de acordo[19].
Essa visão eurocêntrica do trabalho jogou também o seu papel no discurso imperialista e racista que emergiu com força nas últimas décadas do século dezanove, acompanhando a nova fase da expansão europeia em África. A insistência numa suposta inata preguiça dos negros e na sua opção pela ociosidade, era bastante conveniente para legitimar o recurso ao trabalho forçado dos colonizados, quando estes não se dispusessem, de boa vontade, a contribuir para a economia, na direção que interessava à metrópole.
A historiografia tem dedicado particular atenção a escravos, serviçais, contratados e outros que, numa época dominada pela industrialização e defesa da liberdade de trabalho na Europa, continuavam impedidos, nas suas colónias, de exercer essa liberdade. Estes são os temas mais visíveis nos estudos sobre a questão laboral. Porém, essas categorias de trabalhadores nunca foram a base maioritária da força de trabalho que alimentou a economia da colónia de Angola, quer estejamos a falar da pequena colónia do século dezanove ou daquela que se constituiu no século vinte, com as fronteiras atuais. Qualquer análise da economia e, nomeadamente, das exportações de Angola poderá confirmar isso. Até aos primeiros anos do século vinte, apesar de alguma produção agrícola, exportavam-se sobretudo produtos da coleta ou da caça, como a cera, marfim, borracha e urzela. Só a última vinha de áreas sob algum controlo colonial. Nas décadas seguintes, a indústria extrativa dos diamantes recorrerá largamente ao trabalho forçado (Tavares, 2010; Cleveland, 2015) mas os outros principais produtos de exportação (milho, café, algodão) eram maioritariamente, no caso de Angola, da produção camponesa e não de grandes fazendas, à exceção das plantações de cana-de-açúcar (Ball, 2015). A situação do café, inicialmente também com muita produção familiar africana, irá mudar nos anos 40 e mais acentuadamente depois da II Guerra Mundial, com uma vaga migratória de colonos portugueses para a região norte. Quanto ao petróleo, só em 1973 se tornará mais importante que o café.
O transporte de mercadorias, essencial à economia, mobilizou uma categoria de trabalhadores que merece particular atenção: os carregadores, cuja visibilidade nas fontes históricas contrasta com a ausência de grandes estudos sobre eles[20]. Na maior parte da África tropical o transporte dependia dos carregadores e isso significou, dependendo do tempo e do local, escravos, trabalhadores forçados ou homens livres que se dispunham ao serviço em troca de pagamento em géneros. Numa mesma caravana podiam coexistir as três categorias. A questão do recrutamento dos indispensáveis carregadores foi das que mais polémica gerou entre os interessados na definição de políticas coloniais até ao início do século vinte, já que sem eles nada avançava, mas o abuso no seu recrutamento era, frequentemente, causa de revoltas. Durante as campanhas de ocupação, os carregadores tornavam-se igualmente decisivos para a logística militar. Não estamos só a falar de força de trabalho não qualificada, recrutada ao sabor de necessidades imediatas, mas também de autênticos especialistas do transporte de mercadorias, mais ou menos delicadas, ou do transporte de pessoas (carregadores de tipoias), podendo constituir uma verdadeira profissão, por conta própria ou ao serviço de outrem. Já em 1856 Sá da Bandeira, à frente do Conselho Ultramarino, criticava ao governador de Angola o abuso de impor o serviço a homens livres e rejeitava o argumento de que um serviço de carregadores voluntários e pagos prejudicaria a economia, lembrando que o sistema já existia para o sertão de Benguela desde 1796, sem quebra do comércio. Ou seja, ainda na vigência da escravatura e prolongando-se depois da sua abolição oficial, coexistiam legalmente diferentes regimes para a obtenção de carregadores, um similar à escravatura, outro baseado no pagamento satisfatório da prestação do serviço (Annaes, pp. 623-636).
Dentro das (quase) omissões que ainda persistem na historiografia do trabalho nas colónias africanas, a mais injusta, pela dimensão do universo que abrange, é a das camponesas. Na zona de África onde se insere Angola, a principal força de trabalho na agricultura foi, até tempos relativamente recentes, a das mulheres, exceto para trabalhos iniciais mais pesados. Assim, as mulheres foram as grandes responsáveis pelo sucesso da introdução, aclimatação e expansão de novas culturas (milho, mandioca e outras) vindas das Américas no período do tráfico de escravos, ainda antes da ocupação colonial. E no século vinte, apesar do envolvimento maior dos homens na agricultura, continuaram a ser as mulheres a assegurar o principal da produção camponesa para o mercado. Evidentemente, quando partimos de estatísticas e outras fontes que ignoram essa força de trabalho feminina, as conclusões sobre o mundo do trabalho nas colónias são pouco realistas. Houve regiões onde a dominação colonial reduziu a esfera tradicional de ação dos homens (no comércio de longa distância, ou na caça, por exemplo) e motivou a sua conversão em agricultores, como sucedeu, com bastante sucesso, no planalto central angolano. Mas rapidamente o regime colonial voltou a retirar muitos deles das suas terras, compelindo-os ao trabalho nas minas, nas pescarias, na agricultura empresarial. Embora esse recrutamento não tenha ocorrido de forma tão generalizada em Angola como em Moçambique, teve impacto suficiente para voltar a pôr sobre os ombros das mulheres o esforço principal da atividade agrícola, que não era só para o mercado interno. Elas continuaram a lavrar a terra e a carregar os produtos até ao comerciante mais próximo que os escoava para os circuitos comerciais mais vastos, incluindo a exportação[21]. Não estamos perante agricultura de subsistência nem pequeno comércio informal, que também existiam, mas sim perante uma produção agrícola integrada nos circuitos principais da economia colonial. Essa população trabalhadora rural feminina não mereceu ainda grande atenção dos historiadores.
Está ainda muito pouco estudado um vasto leque de profissões ou atividades temporárias de homens e mulheres indígenas nos centros urbanos, fossem diferentes tipos de trabalho assalariado ou atividades por conta própria, mais ou menos lucrativas: artífices, alfaiates, vendedores ambulantes, lavadeiras etc. Profissões mais prestigiadas (e com mais facilidade de acesso ao estatuto de cidadão) incluíam ferroviários, marinheiros de longo curso e enfermeiros.
Terreno de investigação quase virgem é, também, o dos Angolanos que emigraram para trabalhar noutras colónias. A circulação de informações permitia aos colonizados comparar a situação dos dois lados da fronteira e fazer as suas escolhas, sendo melhor conhecida a importância da fronteira noroeste e da emigração dos Bakongo para a colónia belga. Mas também pela fronteira leste e pela fronteira sul saía muita gente, temporária ou definitivamente, em busca de melhores condições de trabalho. Nestes casos, a pesquisa terá de fazer-se em arquivos dispersos por vários países africanos e as suas respetivas ex-metrópoles, em várias línguas, o que talvez explique a ausência de estudos sobre esses trabalhadores migrantes. Ao contrário de Moçambique, estas eram iniciativas sobretudo individuais, já que prevaleceu, no geral, a interdição de recrutamento organizado em Angola para outras áreas, com a notória exceção de S. Tomé.
Do que acima foi dito decorre que, apesar da violência e do peso específico de diversas formas de trabalho forçado na colonização portuguesa no período analisado, a maior parte dos trabalhadores de Angola (considerando trabalhadores os produtores de bens e serviços) não se verá abrangida por estudos sobre escravatura ou trabalho forçado. A exploração da sua força de trabalho foi feita por outros processos, nem por isso mais justos: ou indiretamente, através dos impostos que forçavam a população indígena a produzir mais excedentes ou aceitar trabalhar por conta de outrem, para escapar à prisão e ao trabalho forçado[22]; ou através de monopólios comerciais detidos por grandes companhias, como no caso das comunidades aldeãs obrigadas a cultivar nas suas terras o algodão e a vendê-lo exclusivamente à Companhia a que o Estado concedera o monopólio comercial, a qual estabelecia preços e condições; ou através dos comerciantes portugueses instalados por todo o interior de Angola, embora de forma desigual, cujos abusos geravam, frequentemente, um ciclo de endividamento e empobrecimento dos camponeses.
Qualquer consulta atenta às estatísticas coloniais revela a importância da dita economia indígena, tradicional ou familiar (por oposição à empresarial) na economia de Angola, especialmente antes da industrialização dos últimos anos coloniais. Portanto, seja no fim do século dezanove ou no século vinte, há um mundo de produtores (trabalhadores em sentido lato) que é maioritário mas que tem ficado na sombra: pequenos agricultores, criadores de gado, coletores, caçadores, artesãos, gente de ofícios diversos, produzindo tanto para o mercado interno como para exportação. O mesmo se pode dizer de pequenos comerciantes, carregadores, estivadores, marinheiros, criados e prestadores de serviços vários.
Entre 1961 e 1974, a força de trabalho assalariada angolana cresceu rapidamente, acompanhando o boom económico decorrente das reformas económicas e políticas introduzidas por Portugal em resposta ao início da guerra pela independência. Mudanças importantes ampliaram as indústrias extrativas e as indústrias transformadoras, levaram ao crescimento acelerado da construção civil (acompanhando o aumento da imigração branca), aos investimentos nas infraestruturas de comunicações, ao crescimento do setor empresarial capitalista na agricultura e criação de gado etc. Toda essa atividade se refletiu no aumento significativo dos trabalhadores assalariados e também em transformações mais profundas nas sociedades rurais donde saía essa mão de obra. Por essa época, porém, o trabalho forçado era já residual, não só devido às reformas introduzidas na legislação mas também porque a maior parte dos que iam como contratados já o faziam voluntariamente, para escapar aos problemas económicos crescentes das suas áreas de origem. Na memória coletiva, porém, ainda não se apagou a imagem do contratado como símbolo do trabalho forçado nas pescarias, nas minas e nas fazendas coloniais, longe de casa por meses ou anos, a troco de quase nada.
Referências
A abolição do tráfico e da escravatura em Angola - Legislação de 1836 a 1858: Documentos. (1997). Luanda: Museu Nacional da Escravatura, Instituto Nacional do Património Cultural, Ministério da Cultura.
Aguiam, B. (Org.) (1903). A revolta do Bailundo e os Conselhos de Guerra de Benguella. Lisboa: Imprensa Lucas. [ Links ]
Allina, E. (2012). Slavery by any other name: African life under company rule in colonial Mozambique. Charlottesville & Londres: University of Virginia Press. [ Links ]
Angola. Repartição de Estatística Geral. (1941). Censo geral da população, 1940 (Vol. 1). Luanda: Imprensa Nacional. [ Links ]
Annaes do Conselho Ultramarino. (1867). Parte Official, Série I, Fevereiro de 1854 a Dezembro de 1858. Lisboa: Imprensa Nacional. [ Links ]
Ball, J. (2015). Angolas colossal lie: Forced labor on a sugar plantation, 1913-1977. Leiden: Brill. [ Links ]
Bastos, A. (1912). Monographia de Catumbella. Lisboa: Sociedade de Geografia. [ Links ]
Brásio, A. (1940). A Missão e o Seminário da Huíla. Lisboa: Agência Geral das Colónias. [ Links ]
Burtt, J. (1907). Report on the conditions of coloured labour on the cocoa plantations of S. Thomé and Principe, and the methods of procuring it in Angola. In W. A. Cadbury (1910), Labour in Portuguese West Africa (pp. 103-131). Londres: Routledge & Sons. [ Links ]
Cadbury, W. A. (1910). Labour in Portuguese West Africa. Londres: Routledge & Sons. [ Links ]
Cahen, M. (2015) [2017]. Seis teses sobre o trabalho forçado no império português continental em África. África (São Paulo), 35, pp. 129-155. doi: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2526-303X.v0i35p129-155 [ Links ]
Capela, J. (1977). O imposto de palhota e a introdução do modo de produção capitalista nas colónias. As ideias coloniais de Marcelo Caetano. Legislação do trabalho nas colónias nos anos 60. Porto: Afrontamento. [ Links ]
Carreira, A. (1977). Angola, da escravatura ao trabalho livre. Subsídios para a história demográfica do século XVI até à Independência. Lisboa: Arcádia. [ Links ]
CEAUP (Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto) (Coord.). (2006). Trabalho forçado africano: Experiências coloniais comparadas. Porto: Campo das Letras. [ Links ]
CEAUP (Coord.). (2007). Trabalho forçado africano: Articulações com o poder político. Porto: Campo das Letras. [ Links ]
CEAUP (Coord.). (2009). Trabalho forçado africano: O caminho de ida. Ribeirão (Portugal): Húmus. [ Links ]
CEAUP. (2013). O Estado colonial: género ou sub-espécie? Número Especial Africana Studia, 21. [ Links ]
Clarence-Smith, W. G. (1976). Slavery in coastal Southern Angola, 1875-1913. Journal of Southern African Studies, 2(2), 214-223. [ Links ]
Clarence-Smith, W. G. (1979). Slaves, peasants and capitalists in Southern Angola 1840-1926. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]
Cleveland, T. (2015). Diamonds in the rough: Corporate paternalism and African professionalism on the mines of colonial Angola, 1917-1975. Ohio: Ohio University Press.
Conklin, A. L. (1997). A mission to civilize: The republican idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930. Stanford: Stanford University Press. [ Links ]
Cooper, F. (1996). Decolonization and African society. The labor question in French and British Africa. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]
Cooper, F. (2005). Colonialism in question. Theory, knowledge, history. Berkeley: University of California Press. [ Links ]
Cooper, F. (2016). Histórias de África. Capitalismo, modernidade e globalização. Lisboa: Edições 70. [ Links ]
Dias, J. (1998). Angola. In V. Alexandre, & J. Dias (Coord.), O império africano 1825-1890 (pp. 319-556). Lisboa: Estampa. [ Links ]
Duffy, J. (1967). A question of slavery. Labour policies in Portuguese Africa and the British protest, 1850-1920. Oxford: Clarendon Press. [ Links ]
Ferreira, R. (2012). Dos sertões ao Atlântico: Tráfico ilegal de escravos e comércio lícito em Angola, 1830-1860. Luanda: Kilombelombe. [ Links ]
Freudenthal, A., & Pantoja, S. (Coord.). (2013). Livro dos baculamentos que os sobas deste Reino de Angola pagam a Sua Majestade – 1630. Luanda: Ministério da Cultura & Arquivo Nacional de Angola. [ Links ]
Havik, P., Keese, A., & Santos, M. (2015). Administration and taxation in former Portuguese Africa 1900-1945. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. [ Links ]
Heintze, B. (2004). Pioneiros africanos: Caravanas de carregadores na África centro-ocidental (entre 1850 e 1890). Lisboa & Luanda: Caminho & Nzila. [ Links ]
Heintze, B. (2014). A África centro-ocidental no século XIX (c. 1850-1890): Intercâmbio com o mundo exterior, apropriação, exploração e documentação. Luanda: Kilombelombe. [ Links ]
Henriques, I. (1997). Percursos da modernidade em Angola. Dinâmicas comerciais e transformações sociais no século XIX. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical. [ Links ]
Heywood, L. (1985). Porters, trade and power: The politics of labor in the central highlands of Angola, 1850-1914. In C. Coquery-Vidrovitch, & P. Lovejoy (Eds.), The workers of African trade (pp. 243-267). Beverly Hills: Sage. [ Links ]
Heywood, L. (1988). Slavery and forced labor in the changing political economy of Central Angola, 1850-1949. In S. Miers, & R. Roberts (Eds.), The end of slavery in Africa (pp. 415-436). Madison: The University of Wisconsin Press. [ Links ]
Jerónimo, M. B. (2010). Livros brancos, almas negras: A missão civilizadora do colonialismo português c. 1870-1930. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [ Links ]
Keese, A. (2007). Living with ambiguity: Integrating an African elite in French and Portuguese Africa, 1930-61. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. [ Links ]
Mann, G. (2009). What was the indigénat? The empire of law in French West Africa. Journal of African History, 50(3), 331-353. [ Links ]
Margarido, A. (1978). Les porteurs: Forme de domination et agents de changement en Angola (XVIIe-XIXe siècles). Revue française dHistoire dOutre-Mer, 65(240), 377-400. [ Links ]
Marques, J. P. (1999). Os sons do silêncio: O Portugal de Oitocentos e a abolição do tráfico de escravos. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [ Links ]
Mendes, A. (1966). O trabalho assalariado em Angola. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina. [ Links ]
Menezes, S. L. C. (1867). Relatório do Governador Geral da Provincia de Angola - 1861. Lisboa: Imprensa Nacional. [ Links ]
Messiant, C. (2006). 1961. LAngola colonial, histoire et société. Les prémisses du mouvement nationaliste. Bâle (Suisse): P. Schlettwein. (Obra original publicada em 1983) [ Links ]
Neto, M. C. (1997). Ideologias, contradições e mistificações da colonização de Angola no século XX. In Lusotropicalisme. Idéologies coloniales et identités nationales dans les mondes lusophones (pp. 327-359). Paris: Karthala. [ Links ]
Neto, M. C. (2003). Angola na década 1950-1960 – Breve introdução histórica. In M. C. Medina, Angola: Processos políticos na luta pela Independência (pp. 13-28). Luanda: Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. [2ª edição ampliada, Coimbra: Almedina, 2011] [ Links ]
Neto, M. C. (2010). A República no seu estado colonial: Combater a escravatura, estabelecer o indigenato. Ler História (Lisboa), 59, pp. 205-225. [ Links ]
Neto, M. C. (2012). In town and out of town: A social history of Huambo (Angola) 1902-1961. Tese de doutoramento não publicada, School of Oriental and African Studies, Universidade de Londres, Londres, Reino Unido. In eprints.soas.ac.uk/13822/1/Neto_3375.pdf
Neto, M. C. (2017). The colonial State and its non-citizens: Native Courts and judicial duality in Angola. Portuguese Studies Review, 25(1), 235-253. [ Links ]
Nevinson, H. W. (1906). A modern slavery. Londres: Harper & Brothers. [ Links ]
Rego, A. A. F. (1911). A mão dobra nas colonias portuguezas dAfrica. Lisboa: Typographia do Commercio. [ Links ]
Rockel, S. J. (2006). Carriers of culture. Labor on the road in nineteenth-century East Africa. Portsmouth: Heinemann. [ Links ]
Ross, E. A. (1925). Report on employment of native labor in Portuguese Africa. Nova Iorque: Abbott Press. [ Links ]
Santos, M. E. (1998). Nos caminhos de África. Serventia e posse. Angola século XIX. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical. [ Links ]
Silva, F. D. (1968). O Huambo: Mão-de-obra rural no mercado de trabalho de Angola: Para a formação de uma política de desenvolvimento equilibrado. Luanda: FASTA. [ Links ]
Swan, C. A. (1909). The slavery of today or the present position of the open sore of Africa. Glasgow: Pickering & Inglis. [ Links ]
Tavares, A. P. (2010). Memória e História: Estudo sobre as sociedades Lunda e Cokwe em Angola. Tese de doutoramento não publicada, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, [ Links ] Portugal.
Torres, A. (1991). O império português entre o real e o imaginário. Lisboa: Escher. [ Links ]
Vera Cruz, E. (2005). O Estatuto do Indigenato: Angola – A legalização da discriminação na colonização portuguesa. Lisboa: Novo Imbondeiro. [ Links ]
Recebido: 22 de março de 2016
Aceite: 10 de agosto de 2016
NOTAS
[1] Agradeço aos dois referees anónimos do CEA as críticas e sugestões úteis. Não segui, porém, a ideia de eliminar todas as marcas discursivas da Conferência que deu origem ao texto. Considero que o facto de um texto académico indicar as circunstâncias da sua produção (o tempo, o lugar, o motivo) e ser menos formal não diminui o seu carácter científico. Reitero os agradecimentos a José Curto (Universidade de York), Sílvia Lara e Lucilene Reginaldo (Universidade Estadual de Campinas) pelo empenho na minha presença e na publicação deste texto.
[2] Para o desenvolvimento de algumas das questões abordadas e respetivas fontes e referências bibliográficas, ver Neto 1997, 2003, 2010, 2012 (especialmente os capítulos 3 e 5) e 2017.
[3] Na historiografia sobre Angola no século dezanove, publicada em português, destaque para: Henriques, 1997; Dias, 1998; Santos, 1998; Heintze, 2004, 2014; Ferreira, 2012. Sobre a política imperial portuguesa, é fundamental a vasta obra de Valentim Alexandre.
[4] Por exemplo, a Conferência de Bruxelas (1906) ainda insiste na questão. Já na Conferência de Berlim (1884-1885) fora aprovada uma Declaração respeitante ao tráfico de escravos, nomeadamente na bacia convencional do rio Congo.
[5] A abolição do tráfico e da escravatura em Angola (1997). Ver Nota Introdutória, pp. 7-8. Sobre a questão dos libertos e as contradições do abolicionismo em Portugal no século XIX, ver Marques (1999).
[6] Seria ingenuidade confundir as leis que proibiram a importação de escravos nas Américas com uma efetiva abolição do tráfico atlântico. Os traficantes clandestinos recorriam a veleiros mais rápidos (incluindo os famosos clippers norte-americanos) e buscavam praias menos policiadas do litoral de Angola, a norte e a sul de Luanda (Dias, 1998, e Ferreira, 2012, passim).
[7] Viagens de vários Britânicos a Angola e São Tomé resultaram em denúncias na imprensa que forçaram os beneficiários dos lucros do cacau e o governo português a agir. Os artigos de Henry Nevinson inicialmente publicados no Harpers Magazine deram origem ao livro. O relatório de Joseph Burtt, apresentado ao governo português em 1907, foi publicado no livro de Cadbury. Para um estudo recente desta questão, ver Jerónimo (2010, pp. 89-139).
[8] Numa população de mais de 3,5 milhões de habitantes, os 91.611 civilizados de Angola incluíam 44.083 brancos, 23.244 mestiços, 24.221 pretos e 63 outros (Angola. Repartição de Estatística Geral, 1941).
[9] Em 1897 na Missão Católica da Huíla O internato das meninas [era] frequentado por 175 pequenas Três quartas partes delas foram resgatadas pela Missão a seus antigos donos (Brásio, 1940, p. 70).
[10] Ver, entre outros, Duffy, 1967; Heywood, 1988; CEAUP, 2006; e o texto de Jelmer Vos nesta revista.
[11] Para uma denúncia em Portugal, ver Rego (1911, pp. 50-74). O sociólogo norte-americano Edward Ross esteve em Angola em 1924, a convite de missionários protestantes. Da viagem resultou o relatório para a Comissão da Escravatura da Sociedade das Nações.
[12] Para uma visão convergente em alguns aspetos e divergente noutros, ver as teses de Michel Cahen sobre o trabalho forçado no império português (Cahen, 2015 [2017]).
[13] A questão militar tem sido menos estudada, mas as operações militares envolveram o recrutamento forçado de muitos milhares de colonizados, para apoio logístico ou para os combates, tanto nas campanhas de ocupação colonial como nas que ocorreram no quadro das duas guerras mundiais.
[14] Não vem agora ao caso discutir qual destas formas é mais correta, o que envolveria várias questões semânticas e políticas.
[15] Além de referências em dicionários dessas línguas, a questão é assinalada em quase todas as obras sobre escravidão com recurso a fontes de arquivo. Para uma edição recente de uma fonte inédita do século XVII, Freudenthal e Pantoja (2013).
[16] Como Eric Allina (2012) refere, sugestivamente, slavery by any other name. Ver também o texto de Allina nesta revista. Nos anos 60, James Duffy abriu o caminho (Duffy, 1967). Também Clarence-Smith fez essa opção no seu importante estudo sobre o sul de Angola (Clarence-Smith, 1976, 1979).
[17] Carregadores, serviçais e revoltosos em Angola no início do século vinte: A resistência africana à nova escravatura, comunicação à Conferência Uma abolição inacabada: Tráfico negreiro e escravatura em Angola c. 1836 - c. 1915, Embaixada de Angola em França, Paris, 12-13 de novembro de 1998 (não publicada).
[18] Seria pretensioso e pouco credível pretender invocar aqui a vastíssima historiografia já produzida sobre o tema noutras regiões de África ou sobre elas. Mas algumas das omissões e equívocos também lhes dizem respeito.
[19] Por exemplo, Mendes (1966); Silva (1968), para mencionar apenas os do colonialismo português tardio.
[20] Ao contrário de outros casos africanos. Ver, por exemplo, Rockel (2006). Para Angola é justo destacar os pioneiros António Carreira (1977) e Alfredo Margarido (1978), embora não cubram a diversidade de situações, tal como Heywood (1985) e Torres (1991). Numa ótica centrada no protagonismo africano, Heintze (2004).
[21] Um notável exemplo é o do milho nos anos 30 e 40 do século vinte (Neto, 2012).
[22] Para uma análise recente e abrangente do impacto dos impostos aplicados aos indígenas nas colónias portuguesas em África, ver Havik, Keese e Santos (2015).