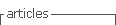Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Relações Internacionais (R:I)
Print version ISSN 1645-9199
Relações Internacionais no.33 Lisboa Mar. 2012
A crise e a governação democrática do euro: questões legais e políticas de uma crise orçamental
Miguel Poiares Maduro
Professor e diretor do Programa de Governação Global do Instituto Universitário Europeu, Florença.
RESUMO
Na primeira parte o artigo contextualiza a adoção do Tratado de Estabilidade e, admitindo a irreversibilidade política da sua adoção, avalia os problemas de algumas das suas cláusulas, nomeadamente na interpretação jurídica. Na segunda parte, é avaliada a incapacidade política que a ue tem deixado transparecer na superação da crise da zona euro. Nesse sentido, são apontadas algumas medidas identificadas como possíveis formas de assegurar a legitimidade democrática de uma futura governação económica do euro.
Palavras-chave: Tratados europeus, governação democrática, crise da zona euro, disciplina orçamental
The Euro Crisis and the Democratic Governance of the Euro: Legal and Political Issues of a Fiscal Crisis
ABSTRACT
In its first part, the article provides the historical context for the adoption of the Treaty on Stability. Acknowledging the political irreversibility of its endorsement, it assesses the problems posed by a number of its clauses, namely in juridical interpretation. In the second half, an evaluation is carried out of the political inability the eu has shown in overcoming the Eurozone crisis. To this purpose, a series of measures are pointed out that have been identified as feasible ways of ensuring the democratic legitimacy of a future economic governance of the Euro.
Keywords: European treaties, democratic governance, Eurozone crisis, fiscal discipline
O TRATADO DE «ESTABILIDADE»: MUITO BARULHO POR NADA?
Não era necessário um novo tratado para implementar o que consta do seu texto final. O conteúdo do tratado não traz muito de novo e poderia ter sido adotado através do mecanismo da cooperação reforçada. Na verdade, teria sido melhor adotá-lo sob a forma de cooperação reforçada na medida em que isto teria permitido uma utilização mais fácil e eficiente dos mecanismos e instituições já existentes nos tratados da União Europeia (ue), prevenindo eventuais incompatibilidades e os riscos inerentes ao processo de ratificação.
Em primeiro lugar, o facto de a forma jurídica adotada ter sido um novo tratado fora do quadro legal da União impôs limites à sua ambição. Isto é particularmente evidente no que diz respeito ao objetivo anunciado de reforçar a coordenação económica e política. Este acordo não reforça substancialmente a governação económica. A maior parte das medidas acordadas já estava prevista nos tratados ou na legislação. Foram reiteradas algumas das obrigações adotadas aquando da reforma six-pack e prometida uma maior coordenação das políticas existentes se necessário, no futuro, recorrendo à cooperação reforçada. É criada a Cimeira do Euro, que acaba por ser apenas uma versão melhorada do «Eurogrupo», passando da esfera ministerial para o nível dos chefes de Estado e de governo mas continuando a ser basicamente um encontro informal porque não podia ser criado um novo órgão ou instituição. Não é introduzido nenhum mecanismo de governação propriamente dito, uma vez que, e ainda que houvesse vontade política para tal, seria muito difícil alcançar este propósito através de um tratado externo ao quadro legal da União. Um tratado seria incompatível com os tratados atuais na medida em que alterasse as competências da União, afetasse o equilíbrio institucional estabelecido nos tratados ou os direitos dos estados membros que não são parte integrante deste novo tratado. Estes receios condicionaram fortemente o Tratado de «Estabilidade».
É esta a razão pela qual, por exemplo, o mecanismo de controlo judicial previsto no tratado tem de ser despoletado pelos estados membros, não resultando do recurso por incumprimento que o Tratado sobre o Funcionamento da ue (tfue) atribui à Comissão. Pode dizer se que a «utilização» do Tribunal de Justiça para disputas entre estados membros relativas à implementação da cláusula de orçamento equilibrado é autorizada pelo artigo 273.º do tfue («qualquer diferendo entre os estados membros, relacionado com o objeto dos Tratados»). Porém, o artigo 273.º só se refere aos estados membros, limitando portanto a participação da Comissão. As instituições da ue receberam no passado competências adicionais ao abrigo de acordos internacionais separados, com o consentimento tácito de todos os estados-membros. O Tribunal de Justiça aceitou esta situação como legítima no acórdão Bangladesh de 1993 (Processos Apensos C-181 e C-248/91), que se referia no entanto a um acordo entre todos os estados-membros. Apesar destes limites, o novo tratado prevê a participação da Comissão ainda que tal seja concebido não como uma nova competência mas como um «convite» a emitir uma opinião à qual os estados partes contratantes neste novo tratado se comprometem, se necessário, a dar sequência interpondo a ação perante o tribunal. Este regime algo rebuscado era necessário para prevenir qualquer acusação de que o tratado altera as competências das instituições da ue.
Ao mesmo tempo, os limites impostos ao que se pode fazer fora da ue impediram o que muitos temiam: que os novos mecanismos de governação levassem a uma intergovernamentalização ainda mais profunda da ue. Na verdade, a autoridade da Comissão não parece ter sido afetada e poderá até ter saído reforçada.
De qualquer modo, o novo tratado não evita todas as reservas em relação à sua compatibilidade com o direito da ue (o artigo 2.º não é suficiente para eliminar todos os possíveis problemas). Não irei aprofundar estas questões neste artigo, mas não quero deixar de apontar uma questão que considero de especial importância e sensibilidade, e que se refere a uma prática já aceite e que este tratado vem reforçar e tornar legalmente vinculativa. Neste tratado, os estados-membros participantes comprometem-se legalmente a coordenar entre si o voto em determinadas áreas de tomada de decisão da ue.
Esta situação corresponde na prática a um sindicato de voto, cuja compatibilidade com os direitos dos estados-membros não participantes pode ser questionada. Na verdade, o pré-acordo destes estados para a adoção de uma posição comum pode acabar por esvaziar de qualquer significado os direitos dos outros estados-membros nas áreas do direito da ue que estão sujeitas a uma decisão por maioria.
Porém, o núcleo fundamental deste novo tratado, e a sua principal novidade1, é a chamada «regra de ouro»: a obrigatoriedade da introdução na lei nacional (preferencialmente a nível constitucional) dos novos limites orçamentais definidos no artigo 3.º, parágrafo 1, em particular um défice «estrutural» não superior a 0,5 por cento do pib. Esta é também a medida mais controversa, uma vez que, para alguns, ameaça petreficar uma determinada visão política da execução orçamental.
Há argumentos a favor e contra a «constitucionalização» da disciplina orçamental. Ambos podem assumir uma forma democrática. Em primeiro lugar, a falta de disciplina orçamental de alguns estados pode ter efeitos sobre outros estados. Isto pode ser visto como um problema democrático, uma vez que os interesses dos últimos não são tidos em consideração no processo democrático dos primeiros (em muitos aspetos, a ue pode ser vista precisamente como expandindo o âmbito dos interesses que devem ser tidos em conta pelas democracias nacionais). Em segundo lugar, os limites ao défice orçamental podem também ajudar a corrigir problemas democráticos intergeracionais no seio dos estados (a geração que toma decisões acerca do défice não é necessariamente a mesma que terá de o pagar) e, num sentido mais lato, a minimizar os riscos resultantes das pressões dos ciclos políticos. É normal que as comunidades políticas procurem isolar determinadas questões da pressão da política quotidiana, de forma a prosseguir interesses de longo prazo. Todas estas razões podem ser invocadas como democraticamente relevantes para apoiar uma certa disciplina orçamental. Por outro lado, os argumentos contra a constitucionalização de uma reforçada disciplina orçamental também são democráticos. Para alguns, este tipo de limites constitucionais restringe o âmbito da escolha política e consolida uma determinada visão económica da política fiscal o que contraria a lógica democrática, sendo que os défices podem ter uma rentabilidade futura positiva. Para além disso, a imposição destes limites, em particular por parte da UE, pode ser vista como uma interferência numa área da soberania nacional que muitos consideram estar no âmago do autogoverno necessário à preservação de uma democracia nacional (curiosamente, esta opinião foi defendida de forma particularmente vigorosa pelo Tribunal Constitucional alemão, nos seus acórdãos sobre o Tratado de Lisboa e, mais recentemente, o primeiro resgate à Grécia ).
Posto isto, o objetivo de uma disciplina aos défices orçamentais deveria ser o de reduzir os riscos de mau funcionamento democrático nos processos políticos de um Estado, relacionados com os problemas democráticos intergeracionais e as externalidades impostas noutros estados, enquanto ao mesmo tempo se procuraria preservar a flexibilidade necessária a garantir que diferentes opções ao nível das políticas económicas e orçamentais são possíveis e permitem défices «bons» ao mesmo tempo que evitam défices «maus». No atual contexto, este equilíbrio de valores e interesses tem sido afetado pela necessidade de assegurar a credibilidade orçamental necessária a tranquilizar os mercados e a opinião pública de alguns estados (aqueles que fornecem crédito aos estados sob programas de ajustamento).
Tive oportunidade de sugerir no passado que fosse aplicado nesta área um mecanismo semelhante ao que existe atualmente para os auxílios de Estado na ue. Acima de um determinado défice orçamental ou nível de dívida pública, determinadas despesas do Estado – dependendo do seu impacto orçamental – deveriam estar sujeitas a aprovação por parte da Comissão, de forma a garantir que são de facto justificadas, por exemplo, para reagir a uma conjuntura de contração económica ou porque prometem um elevado retorno sobre o investimento efetuado. Continuo a acreditar que um mecanismo deste tipo possibilitaria um melhor equilíbrio entre as diferentes preocupações identificadas anteriormente, em particular devido ao facto de impor alguma disciplina externa sobre os processos políticos nacionais, ao mesmo tempo que preservaria alguma flexibilidade para as políticas orçamentais. Tratar-se-ia de disciplinar mas não substituir as democracias nacionais. Também ajudaria a desenvolver a dimensão política da Comissão Europeia (algo que, como discutirei em seguida, considero fundamental não só para o futuro democrático da ue mas também para a sobrevivência do papel da Comissão no processo de integração europeia).
Em termos jurídicos, as cláusulas do tratado geram outras perplexidades. É inevitável que o tratado crie incerteza uma vez que alguns dos conceitos utilizados são bastante vagos e de difícil interpretação para os tribunais – desde o novo conceito económico de défice estrutural até ao bizarro conceito legal de uma norma «permanente». É afirmado que a «regra de ouro» deve ser uma «norma permanente», preferencialmente de natureza constitucional. Enquanto jurista, não conheço nenhuma norma permanente. O mais próximo de uma norma permanente que consigo conceber são normas como os limites materiais da nossa e outras constituições. Paradoxalmente, segundo o tratado esta «norma permanente» não precisa de estar no texto constitucional: trata-se portanto de uma norma que é mais permanente do que as normas que constituem o núcleo de uma Constituição, mas que não precisa de estar nesta Tal como outras coisas no tratado, este é acima de tudo um conceito político que pretende expressar a importância dada a esta obrigação e que a mesma não pode depender de uma maioria conjuntural. Talvez estas normas venham a ser tão permanentes como o amor é eterno nas palavras de Vinicius de Moraes: enquanto dura
Porém, a verdade é que este tratado era politicamente irreversível. A Alemanha, em particular, investira nele demasiado capital político. Desta forma, a expectativa é que o tratado tenha uma função mais política do que propriamente jurídica. Serve para legitimar politicamente nalguns estados as medidas adicionais que muitos entendem ser necessárias. Apesar dos problemas identificados – e talvez, em parte, devido a esses mesmos problemas – este acordo é, em grande medida, inócuo. Em particular, no que diz respeito à cláusula que suscita mais contestação (artigo 3.º, parágrafo 1), o seu mecanismo de transposição e as exceções previstas são tais que, muito provavelmente, irá continuar a permitir uma margem substancial de flexibilidade em relação à forma como os estados o irão aplicar. Paradoxalmente, os aspetos mais criticados no tratado (a sua falta de clareza e ambição) são o que acaba por tornar irrelevantes as críticas O problema com este acordo passa acima de tudo pelo que não está lá: instrumentos que lidem de forma eficaz com a crise da zona euro e que permitam legitimar democraticamente a sua governação. Esta não é uma tarefa fácil. A esperança é que o novo tratado permita conseguir o apoio político a nível das opiniões públicas de certos estados nacionais para as mudanças que são necessárias a nível europeu.
A GOVERNAÇÃO DEMOCRÁTICA DO EURO
Diz-se muitas vezes que a crise do euro é, em primeiro lugar, uma crise política. Muitos falam do que a União precisa de fazer. Ainda que com algumas diferenças quase todos os economistas concordam que a resposta à crise passa por uma mistura de austeridade e políticas de crescimento económico. Para a União, isto deve corresponder a uma mistura de sanções e condicionalismos com elementos de solidariedade e mutualização da dívida entre os estados do euro. Todos sabemos que isto tem de ser feito, mas ainda ninguém descobriu como levar a ue a fazê-lo. Alguns criticam a falta de vontade política para tal e afirmam que a Europa tem falta de liderança política. Mas o que significa isto exatamente? É necessário começar a compreender porque falta essa vontade política. É fundamental mudar a natureza dos incentivos políticos a nível europeu para que a Europa faça o que a Europa necessita.
A incapacidade da União para responder à atual crise tem, na sua base, uma lacuna política: o âmbito e o nível da política não acompanharam o âmbito e o nível dos problemas na Europa. Este é o nosso principal défice democrático. Não interiorizámos as consequências democráticas da interdependência entre estados resultante da integração. Os problemas financeiros de alguns estados tornam-se um problema de todos. Um fluxo migratório num Estado tem efeitos para todos os outros estados. Uma avaliação errada por parte das autoridades alemãs dos riscos para a saúde de um determinado vegetal provoca elevados prejuízos a agricultores um pouco por toda a Europa. Em todas estas áreas, as políticas nacionais produzem externalidades noutros estados-membros. Sucede que as soluções para estes problemas europeus dependem ainda, em grande medida, da política nacional.
Ao mesmo tempo, a ue é uma fonte de criação de riqueza, através da integração dos mercados, mas também uma fonte de efeitos redistributivos, através da concorrência nesse mercado e do caráter cada vez mais maioritário das suas decisões. Esta situação exige que a democracia acompanhe onde estão os problemas e os interesses em causa; mas exige também uma noção democrática de justiça distributiva, de forma a legitimar o impacto diferenciado do que é feito e decidido em comum.
A integração europeia cria portanto uma profunda interdependência entre políticas nacionais que nunca se traduziu num espaço político europeu. Mas se os espaços políticos nacionais não forem capazes de incorporar a atual interdependência europeia em determinadas questões, não serão capazes, por si só, de fornecer soluções adequadas, legítimas e democráticas para as mesmas questões. O atual défice democrático é mais político do que institucional. Embora haja problemas sérios com as regras institucionais acordadas no Tratado de Lisboa, podemos dar passos importantes no sentido de politizar a União no contexto das atuais regras. Um passo importante seria transformar as eleições para o Parlamento Europeu em eleições genuinamente europeias para a escolha do presidente do «Executivo Europeu». Para que isto fosse possível, seria suficiente que os diferentes grupos políticos europeus apresentassem os seus candidatos antes da próxima eleição. Pela primeira vez, teríamos eleições para o Parlamento Europeu genuinamente europeias. Apesar de o Conselho continuar a deter o poder de nomear o presidente da Comissão, a sua sujeição à aprovação pelo Parlamento Europeu e o facto de as eleições para este último se transformarem numa escolha sobre o presidente da Comissão iria tornar inevitável que esse fosse o candidato do grupo político vencedor.
Naturalmente, esta estratégia comporta riscos. A politização da Comissão iria necessariamente afetar a sua aparente neutralidade perante o Conselho e a autoridade que lhe advém do facto de ser vista como um órgão tecnocrático. Por outro lado, a criação do cargo de presidente do Conselho, que serve de intermediário nas relações entre os estados-membros mas também compete na definição da agenda política da ue, está já a ter impacto ao nível da influência da Comissão sobre o Conselho. Ao mesmo tempo, o crescimento dos poderes do Parlamento Europeu está também, cada vez mais, a ter impacto na posição da Comissão. De facto, é possível dizer que, à luz destes desenvolvimentos, a Comissão tem conseguido até agora ser bastante eficaz na preservação do seu poder. Porém, para continuar a ser politicamente eficaz, terá de reforçar o seu capital político. A melhor forma de reforçar este capital é ter um presidente da Comissão que seja diretamente legitimado por eleições europeias. A Europa necessita de um líder europeu com esta legitimidade democrática. Ao mesmo tempo, seria um passo importante para envolver os cidadãos europeus na política europeia.
Seria importante, igualmente, utilizar a próxima reforma das perspetivas financeiras como uma oportunidade para democratizar a política da ue. A União deve ser responsabilizada pelo que gasta mas também pela riqueza que consegue gerar. Deve distribuir o «seu» dinheiro, e não o dinheiro dos estados. O argumento democrático requer uma ligação clara entre os recursos financeiros da União e a riqueza que esta consegue produzir ou as atividades económicas dos estados que tenham externalidades significativas noutros estados. As recentes propostas da Comissão relativas aos recursos próprios da ue são um passo na direção certa. Uma possibilidade seria que a reforma do iva relacionasse este imposto com as transações transfronteiriças, estabelecendo uma ligação clara, aos olhos dos cidadãos, com o mercado interno. Outras fontes de rendimento poderiam advir de atividades nacionais com impacto transfronteiriço substancial. Um imposto europeu sobre as transações financeiras (que até poderia substituir as contribuição em termos de pib) seria outra possibilidade de recurso próprio suscetível de, ao mesmo tempo, ter um efeito pedagógico perante os cidadãos sobre a natureza da ue e a interdependência que cria. Se democratizarmos a forma como a União é financiada, estaremos a dar um passo importante no sentido de democratizar o debate acerca da forma como esse dinheiro é gasto. Este é um aspeto crucial para assegurar a legitimidade democrática de uma futura governação económica do euro.
Finalmente, precisamos de democratizar o mercado interno. A falta de um verdadeiro mercado europeu de serviços financeiros é bem visível no facto de, atualmente, diferentes empresas estarem a pagar taxas de juro substancialmente distintas, dependendo não das suas condições próprias ou de onde e em quê pretendem investir mas simplesmente do seu Estado de origem. Os limites ao mercado interno são também visíveis no nível ainda bastante baixo na ainda pouca mobilidade de pessoas na ue. Esta mobilidade é crucial, não só para corrigir os desequilíbrios emergentes na zona euro mas também para possibilitar um sistema de mobilidade social e redistribuição não baseado apenas em transferências em estados.
Uma solução credível para a atual crise depende de uma resolução deste défice democrático mas, ao mesmo tempo, e passe o lugar comum, constitui também uma oportunidade para tal. A crise começou devido a um problema democrático: as políticas orçamentais de alguns estados tiveram consequências negativas para os outros estados e a União não possuía qualquer mecanismo de governação eficaz para prevenir e regular esse problema. A resolução deste exige o desenvolvimento de instrumentos de governação que possam prevenir estes impactos e, se necessário, disciplinar as externalidades resultantes das políticas económicas e financeiras dos estados. Foram dados passos nessa direção. Porém, estes passos precisam, também eles, de ser legitimados democraticamente. Por exemplo, a partir do momento em que a ue faz depender a ajuda financeira disponibilizada a alguns estados da adoção de certas políticas, torna-se necessário responsabilizá-la, igualmente, pelo resultado dessas políticas. O pior que pode acontecer é a União continuar a ignorar a dimensão democrática do que está a suceder e o seu impacto na legitimidade social do processo de integração europeia.
Precisamos de discutir não só a governação do euro mas uma governação democrática do euro. Esta questão deve assumir um lugar central nas reformas que agora se iniciaram. Em primeiro lugar porque, como mencionei, muitos dos problemas que estão na origem da crise correspondem a falhas democráticas por parte dos estados que a ue necessita de corrigir. Em segundo lugar, porque qualquer que seja a resposta encontrada, esta também terá de ser legitimada democraticamente. Neste contexto, um desafio fundamental para uma futura reforma será o de inverter o pressuposto, partilhado por muitos, de que estas questões só podem ser abordadas democraticamente a nível nacional ou, se abordadas a nível europeu, terão necessariamente de reproduzir o modelo democrático do Estado. Ultrapassar estes paradigmas requer contribuições de várias disciplinas, e a associação de competências técnicas com uma nova imaginação institucional e política. O ideal seria que a governação do euro fosse aproveitada para desenvolver um novo discurso democrático para a integração europeia.
Tradução: João Reis Nunes
NOTAS
1 Deixando de parte o facto de, pela primeira vez na integração europeia, o tratado poder entrar em vigor sem ser ratificado por todos os estados (artigo 14.º).