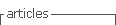Entrevista com Helena Roseta. Realizada por Sílvia Jorge e Vanessa Melo a 26 de outubro de 20221.
Helena Roseta é uma cidadã e arquiteta preocupada e ocupada, desde sempre, em garantir o direito à habitação. Desempenhou vários cargos políticos ao longo do tempo, tais como o de Presidente da Câmara Municipal de Cascais (1983-1986), de vereadora pelo Partido Socialista (2009-2013) e pelos “Cidadãos por Lisboa” na Câmara Municipal de Lisboa (2007-2009) e de Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (2013-2019). Fundou a Plataforma Artigo 65, em 2006, e é apelidada de mãe da Lei de Bases da Habitação, publicada em 2019. Aos 71 anos reformou-se dos cargos políticos, mas não das suas causas.
Nesta entrevista, Helena Roseta partilha a sua experiência e visão sobre a habitação em Portugal, sublinhando as dificuldades sentidas por diferentes grupos vulneráveis ao longo do tempo. A conversa parte de uma breve contextualização histórica do acesso à habitação no país, tendo o 25 de Abril como momento charneira, e chega à Nova Geração de Políticas de Habitação e à publicação da Lei de Bases da Habitação, que enquadram a atual conjuntura. A lente sobre a habitação, indissociável de um habitat condigno, abre-se ainda ao programa público Bairros Saudáveis, focado também na melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida dos residentes de territórios vulneráveis, a partir de pequenas intervenções com uma dotação máxima de 50 000 euros.
Depois de uma longa ausência, o tema da habitação regressa nos últimos anos à agenda política e mediática em resultado da crise habitacional que se faz sentir. Embora também afete a classe média, são sobretudo os grupos mais vulneráveis que enfrentam cenários de maior precariedade - pessoas em situação de sem-abrigo, comunidades ciganas, afrodescendentes, famílias monoparentais, vítimas de violência doméstica, por exemplo, às quais se juntam recentemente os jovens e os imigrantes/refugiados, que não conseguem encontrar resposta no mercado. Como chegámos até aqui?
Bom, temos de andar para trás. Quando se deu o 25 de Abril, nós tínhamos em Portugal mais famílias do que casas. Os cálculos da altura, feitos por Raul Silva Pereira e outros estudiosos, apontavam para um défice de cerca de meio milhão de fogos. O choque petrolífero dos anos 70 tinha gerado uma alta de preços. A taxa de inflação subiu loucamente e havia uma crise aguda de habitação, para além da péssima situação estrutural, com muitas famílias a viver em barracas, sobretudo em Lisboa e à volta, mas também no Porto e noutros sítios.
O 25 de Abril mudou o paradigma por completo. Surgiram movimentos sociais fortíssimos e veio tudo para a rua. A canção do Sérgio Godinho - “paz, pão, habitação, saúde, educação” - mostra a prioridade dada à habitação. Nessa altura, o Nuno Portas foi para o governo como Secretário de Estado da Habitação. Apesar de ser do “contra” na ditadura, ele tinha conseguido influenciar legislação do governo de Marcelo Caetano, através do grupo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil [LNEC], nomeadamente em matéria de política de solos, a base de qualquer política de habitação2. O 25 de Abril foi uma grande oportunidade para concretizar ideias já muito trabalhadas.
As pessoas que estavam à volta dele - eu era uma delas, juntamente com quem integrava o ateliê da Rua da Alegria, do Nuno Teotónio Pereira - tinham a ideia de que era necessário uma solução participada. A primeira grande mudança de paradigma nas políticas de habitação com o 25 de Abril foi a participação dos moradores. Na ditadura, as pessoas tinham de se sujeitar às políticas do governo. O Nuno Portas tentou lançar, de forma muito pioneira, uma política participativa para responder precisamente às situações mais vulneráveis, que não eram as mesmas de hoje. Eram sobretudo pessoas vindas do interior do país para as cidades, que chegavam e encontravam duas “soluções”: ou se enfiavam numa barraca ou arranjavam uma casa clandestina. Foi um período de grande florescimento da construção clandestina, onde o mercado informal respondeu a muita carência habitacional, sobretudo quando, passado algum tempo, começou a vaga dos retornados das ex-colónias. Pensem que os retornados correspondiam a pouco menos de um décimo da população portuguesa e chegavam a Portugal sem casa, quando já havia cerca de meio milhão de casas em falta. A crise era brutal.
Foi lançada uma série de medidas, sendo as mais emblemáticas o SAAL - o Serviço de Apoio Ambulatório Local - e a tentativa de pôr o Fundo de Fomento da Habitação, via SAAL e outras soluções, enquanto nervo financeiro do Estado para as políticas de habitação, a fazer e gerir os empréstimos às cooperativas e às iniciativas que queriam produzir habitação. É importante não esquecer que, naquele período a seguir ao 25 de Abril e até praticamente aos anos 90, as cooperativas - que eram sobretudo de propriedade, não de inquilinato - foram responsáveis por 200 000 fogos. A Lei de Solos de 1976 [Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de novembro] pretendia começar pelo princípio: só se consegue construir habitação acedendo ao solo. Criou-se uma série de mecanismos novos, com reforço do papel do Estado para evitar a especulação imobiliária e dar solução ao problema habitacional no quadro da nova Constituição. Mas foi sol de pouca dura. Ao longo do período conturbado do PREC [Processo Revolucionário em Curso], tinha havido muita bipolarização política, criando grandes conflitos entre os intervenientes nas políticas e os governos, e muita agitação social. Houve muitas ocupações selvagens de casas nessa altura, sobretudo nas cidades. Isto assustou muito a classe média. Foi um período de grande choque que subverteu o mercado. Tomaram-se medidas para acabar com as ocupações, mas essas coisas não acabam por decreto. Depois desse período de grande agitação, de soluções novas e de algum extremismo político, o pêndulo político virou à direita.
O que mudou com essa viragem?
Com o pêndulo a virar à direita nos anos 80, não apenas em Portugal mas em todo o mundo ocidental, com a emergência do pensamento neoliberal, proveniente sobretudo dos Estados Unidos, com Reagan, e de Inglaterra, com Thatcher, a política de habitação sofreu uma grande entorse, ou seja, deixou de ser dominante a visão da habitação enquanto direito para todos, que tinha sido consagrada na Constituição da República de 1976 (eu própria fui deputada constituinte). Começou a vingar a teoria de que o Estado só tinha de fazer habitação para as classes mais pobres, porque as outras, se quisessem, iam ao banco pedir um empréstimo e compravam casa. E o Estado o que fez? Investiu na bonificação de juros. O Estado acabou a financiar os bancos e ainda o está a fazer.
Quando hoje toda a gente está muito aflita, e com razão, com a subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu, não se lembram das décadas de 80 e 90, com taxas de juro de dois dígitos: vinte e tal por cento. Não havia o euro, eram os bancos de cada país - no nosso caso o Banco de Portugal - que controlavam a política monetária. Em vez de uma política de estímulo, de participação, de criação de alternativas, a política pública de habitação passou a ser uma política de crédito bonificado e de tentativa de liberalização do arrendamento. É preciso não esquecer que o grosso do mercado habitacional nas cidades, durante a ditadura de Salazar, era de arrendamento. No pós-guerra, em toda a Europa houve um controle de rendas e aqui também. Era uma política que os governos facilmente adotavam, porque não era preciso dinheiro do Estado, bastava criar legislação para obrigar os senhorios. O Salazar congelou rendas em Lisboa e Porto, que era onde havia o problema em maior grau e nunca as descongelou. Chegámos ao 25 de Abril com as rendas antigas congeladas nestas cidades durante 50 anos. No PREC, o congelamento foi estendido a todo o país. Os efeitos perversos dessa medida, que era suposto ser temporária, ainda hoje se fazem sentir - no desinvestimento no arrendamento e no incumprimento das obrigações de manutenção periódica dos edifícios arrendados.
A partir da década de 80, deixou de haver recursos significativos para produzir habitação pública. Recorde-se que a habitação pública, uma vez produzida, é atribuída e, depois de atribuída, é muito difícil que as pessoas saiam da casa que têm. No tempo do governo de Passos Coelho a lei passou a limitar a duração dos arrendamentos públicos. Com a “geringonça”, batalhei no parlamento para que as pessoas tivessem alguma estabilidade nas casas públicas e não fossem postas fora só porque ganham um bocadinho mais, mas o stock de habitação pública produzida era muito pequeno. A última “virada” em termos de recursos públicos para a habitação foi nos anos 90, primeiro com o PIMP [Plano de Intervenção a Médio Prazo] para Lisboa, depois com o PER [Programa Especial de Realojamento]. O Estado investiu mais, mas apenas na perspetiva das camadas mais vulneráveis. O objetivo essencial do PER era acabar com as barracas.
E era restrito às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.
Era onde havia o maior problema. Houve um esforço enorme nessa altura para produzir habitação pública. Só na cidade de Lisboa foram construídas 17 000 casas. Em 10 anos, foi uma brutalidade. Isto fez com que muitas pessoas achassem que já não havia problemas de habitação, porque já não havia barracas. Mas todos os outros problemas se mantiveram e agravaram com as novas ondas migratórias. No entanto, não eram tão visíveis ou não se queria olhar para eles.
Foi também na década de 90 que foi criada legislação de enquadramento para as chamadas AUGI [Áreas Urbanas de Génese Ilegal] - um nome exigido pelos interessados para não terem o estigma negativo de serem “clandestinos” -, mas era um regime provisório, que já devia ter sido atualizado e não foi, teve apenas prorrogações do prazo de vigência. Foi uma luta que as associações de proprietários das AUGI fizeram e que ainda não está terminada.
Houve uma nova tentativa de mudar o paradigma da política pública de habitação por parte de João Ferrão em 2006, quando era Secretário de Estado [do Ordenamento do Território]. Ele lançou uma Estratégia Nacional de Habitação muito bem pensada e propôs que essa estratégia - conduzida por Nuno Portas, Isabel Guerra e Augusto Mateus - fizesse aquilo que a Nova Geração de Políticas de Habitação depois foi buscar, ou seja, um enquadramento geral estratégico e a criação de ferramentas municipais, os programas locais de habitação. Quando cheguei em 2007 à Câmara de Lisboa, propus ao então Presidente António Costa fazer um Programa Local de Habitação. Embora não tivesse pelouro nenhum, foi-me dada uma delegação de competências para o fazer. Entretanto caiu o governo, a Estratégia Nacional de Habitação não foi aprovada, mas o Programa Local de Habitação de Lisboa foi aprovado pela assembleia municipal e funcionou como balão de ensaio para as novas políticas, tal como o PIMP tinha sido para o PER. Começámos então a falar de “uma nova geração de políticas de habitação” na cidade de Lisboa.
Lisboa tem sido um barómetro importante na definição e execução das políticas públicas.
Sim. Muitas vezes é precursora, porque tem uma capacidade que a maior parte das câmaras não tem. Lisboa tem um orçamento superior a muitos ministérios, tem uma capacidade técnica extraordinária e muita experiência. Tem milhares de quadros, quer juristas, quer arquitetos, planeadores, economistas. Portanto, foi possível fazer isso e insistir na ideia de que a política de habitação não é só para os pobres. Temos evidentemente de procurar dar resposta às maiores vulnerabilidades. Foi assim que surgiu em 2011 o programa BIP-ZIP [Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária]. A Carta dos BIP-ZIP foi feita a partir dos dados estatísticos do censo de 2001, à procura de sobreposições das vulnerabilidades de Lisboa, num mapa a que chamámos “fratura socio-territorial da cidade”. Eram os sítios onde se concentravam os piores indicadores de saúde, de educação, de rendimento e de qualidade de vida, as maiores percentagens de pessoas e famílias dependentes de prestações sociais, os piores indicadores de qualidade urbanística e ambiental, enfim uma série de dimensões. A Carta dos BIP-ZIP foi submetida a consulta pública para informar as pessoas de que a intervenção municipal nestes bairros ou zonas iria ser uma nova prioridade. O interessante é que houve moradores de alguns bairros que não estavam incluídos que nos disseram: “Se é assim, nós também queremos pertencer”. E os seus bairros foram incluídos na Carta.
Em 2008 deu-se a grande crise imobiliária, com todas as consequências que se conhecem. A crise originou uma sucessão de falências bancárias e agravou as condições habitacionais, sobretudo para quem tinha empréstimos hipotecários. Os juros da dívida pública dispararam e Portugal entrou em risco de bancarrota. A intervenção externa traduziu-se num programa duro de austeridade, através do acordo com a Troika3. O acordo insistia na necessidade de liberalizar as rendas. Entretanto, caiu o governo socialista e o governo de direita que se seguiu levou a cabo uma liberalização do arrendamento que veio agudizar a já difícil situação habitacional. Presto, contudo, homenagem a um ministro do último governo do Passos Coelho - Jorge Moreira da Silva -, que fez aprovar em Conselho de Ministros uma Estratégia Nacional de Habitação pouco antes de o governo terminar o mandato. A Estratégia Nacional de Habitação de 2015 não chegou a ter eficácia, mas fez-se um bom levantamento do que era preciso e nela aparecem algumas sementes do que mais tarde veio a ser a Nova Geração de Políticas de Habitação.
A liberalização das rendas em 2012, da responsabilidade da ministra Assunção Cristas, teve um impacto enorme. Simultaneamente, ocorriam dois fenómenos muito relevantes: a globalização do turismo à escala mundial e a transformação do imobiliário num produto financeiro. Estes dois fatores - a massificação do turismo e a financeirização do imobiliário - tiveram um impacto acrescido em Portugal porque, ao mesmo tempo, aumentaram as rendas para os nacionais e aumentou a procura externa por parte de atores com muito maior capacidade de aquisição. A facilitação dos despejos e o “boom” do alojamento local foram, de facto, decisivos para o aumento do preço do imobiliário, uma subida que criou profundas desigualdades, dado o grande desequilíbrio entre a procura mundial e a procura local, sem um aumento da oferta. Nessas condições, a nossa procura interna não consegue lá chegar. Entretanto, a repartição do mercado habitacional tinha mudado, com o aumento da proporção de proprietários e a forte diminuição dos arrendatários. Hoje, a quantidade de pessoas que têm um empréstimo hipotecário é muito maior do que a quantidade de pessoas em arrendamento. Segundo os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística], as percentagens atuais são da ordem dos 20% de arrendamento, 75% de propriedade (dos quais cerca de metade com empréstimos bancários em curso), e 5% de outras situações. Na prática, quem já estava de fora do mercado habitacional ficou ainda mais e a precariedade aumentou.
Em 2017, o António Costa chamou para o governo a arquiteta Ana Pinho que produziu a chamada Nova Geração de Políticas de Habitação, um documento com pés e cabeça a propor uma série de programas importantíssimos no sentido de voltarmos ao paradigma da habitação como um direito de todos, com diferentes respostas e mais intervenção do Estado. São tão importantes as respostas para quem está em situações mais vulneráveis - e o 1.º Direito é a mais paradigmática - como a habitação acessível para as classes médias. Penso, no entanto, que na habitação acessível, até agora, as experiências não têm sido muito felizes. Aliás, o próprio conceito de “habitação acessível” não é muito claro. Continuamos com este equívoco de considerar que a habitação acessível é uma habitação mais barata e não é disso que se trata. A habitação acessível tem de ser a habitação adequada que cada pessoa ou família pode pagar.
Como se determina? É com base nos rendimentos ou nos valores de mercado?
É no cruzamento dessas duas variáveis e isso o INE ainda não nos está a dar. Por mérito de Ana Pinho, o INE dá-nos informação trimestral muito sistemática e atualizada sobre a variação dos valores de arrendamento e de venda, mas o que não temos são os dados sobre a evolução, no mesmo período temporal, dos rendimentos das famílias. E estamos numa situação de crise crescente. Até há agora programas com financiamento muito relevante, como o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], que vem pela primeira vez mobilizar recursos europeus para respostas habitacionais, mas os resultados de programas de habitação não se obtêm num mês, demoram anos. Nunca são imediatos. Ainda por cima, alguns dos programas e medidas financiados pelo PRR são altamente burocráticos e difíceis de implementar. As exigências procedimentais são extremamente complexas e rígidas e a cultura burocrática dominante no Estado não ajuda. O PER era muito operativo, porque não só permitia às câmaras desenvolver uma série de ações, como não havia limite de endividamento para as autarquias. Hoje não é assim. As autarquias estão condicionadas a limites de endividamento, grande parte das famílias não tem capacidade de endividamento, os bancos só emprestam a quem tenha uma solvabilidade razoável e os salários em Portugal são muito baixos.
Há um último dado a que eu gostava de fazer referência. Os dados em Portugal continuam a mostrar o preço das casas a subir, mas ele já está a descer no mercado global. Há sempre um desfasamento entre Portugal e o resto do mundo, porque as coisas chegam cá sempre um bocadinho mais tarde. Por que é que o preço das casas está a descer nos Estados Unidos e na China, por exemplo? Nos Estados Unidos, a Reserva Federal aumentou os juros, as famílias não podem pagar e é mais difícil vender. Sendo mais difícil vender, altera-se a relação entre a oferta e a procura. Aqui, como a nossa escala é pequenina e o mercado é global, não estamos a sentir esse efeito. Temos, simultaneamente, a contínua subida dos preços no mercado e os juros também a subir. É uma espiral.
Quais as ferramentas disponíveis para fazer frente a tantos desafios? Temos uma Nova Geração de Políticas de Habitação, que saiu em 2018, temos uma Lei de Bases da Habitação, publicada em 2019…
Batalhei pela Lei de Bases da Habitação porque o direito à habitação é um direito social constitucional. Todos os outros direitos sociais tinham leis de bases há muito tempo: a saúde, a segurança social, a educação, a cultura… Mas para a habitação nunca houve. A partir dos anos 80, como já disse, achou-se que a habitação não era tanto um problema do Estado. Cada um que tratasse de si e depois as câmaras “dariam casa” aos pobres, através da habitação social. Mas eu sempre insisti na ideia da responsabilidade do Estado e na necessidade de ficar bem definido quem faz o quê e quais são as competências de cada um dos atores públicos (governo, regiões e autarquias). Era e é positiva a Nova Geração de Políticas de Habitação, mas é um conjunto de programas criado por simples Resolução de Conselho de Ministros, sem responsabilização do parlamento. A seguir pode vir outro governo qualquer e simplesmente fazer o contrário. Eu entendia, e conseguimos inscrever isso na Lei de Bases, que tem de haver pelo menos uma prestação de contas e uma capacidade de planeamento partilhada pelo governo no parlamento, para dar mais estabilidade às políticas de habitação. Se elas demoram tanto tempo a dar resultados e depois mudam quando muda o governo, então aí é que a coisa se complica. Será mais difícil, com uma lei aprovada, voltar atrás e dizer que aqueles direitos e aquelas responsabilidades não existem. Aprovar leis é difícil, mas desaprová-las também é. Ou seja, a intenção foi também subir um degrau na responsabilização política, definir quem faz o quê e garantir alguma estabilidade legal.
A Lei de Bases veio dizer que é necessário um planeamento estratégico. Contudo, a criação do Programa Nacional de Habitação, aí previsto, demorou a sair.
Não se esqueçam que apareceu no meio disso uma pandemia. Todo o esforço legislativo no período pandémico foi no sentido de empurrar para a frente, de suspender, criar moratórias - porque não havia capacidade de resolver essas questões todas -, mas com a consciência de que se estava a adiar o problema. O governo apresentou para consulta pública uma proposta de lei para o Programa Nacional de Habitação, que só avançou no final de 2022.4 Entretanto surgiu o músculo financeiro através do PRR, com muita verba para habitação. O governo pegou no PRR e tentou incorporar-lhe os programas da Nova Geração de Políticas de Habitação, em vez de dar prioridade ao Programa Nacional de Habitação. Lançou também o desafio às autarquias para fazerem as suas estratégias locais de habitação, ao abrigo de um programa específico - o 1.º Direito -, que faz depender o financiamento da aprovação prévia das estratégias locais de habitação. O problema agora é canalizar o dinheiro do PRR e fazê-lo chegar a quem executa, mas as prioridades estratégicas não foram definidas pelo parlamento, como deveriam ter sido através do Programa Nacional de Habitação.5
Continua a faltar uma definição nacional de prioridades em relação às intervenções previstas nas estratégias locais. O município que pede primeiro ganha o financiamento, mas pode não ser o mais necessitado. Aliás, a experiência que temos nas políticas de habitação diz-nos que aqueles que ficam para trás, embora sejam os mais necessitados, são geralmente os últimos a chegar. Portanto, existe aqui uma situação um pouco perversa. Temos a ferramenta legal, os programas, a Lei de Bases, temos o financiamento, mas não temos prioridades bem definidas. Por isso, mais do que estar a regulamentar o artigo A, B ou C da Lei de Bases, o mais importante era pôr o Programa Nacional de Habitação cá fora e bem feito. Uma das coisas que este deve definir são, precisamente, as prioridades a cinco anos. Não sabemos o que vai acontecer ao mundo amanhã, mas tem de haver aqui um mínimo de capacidade de previsão. Se não, é impossível gerir bem e, numa altura em que há uma enorme quantidade de dinheiro - que durante muito tempo não houve -, o risco é ainda maior.
O dinheiro não chega para todos, por isso é que são importantes as prioridades, definidas por uma maioria no parlamento e não meramente por ordem de chegada. Com a pressa de executar, porque há prazos, podemos correr esse risco. Há outro risco que também podemos correr com a pressa, que é saltar a etapa participativa. Ouvir as populações, fazê-las participar nas decisões, consome tempo. Quando se esquece a participação, os resultados são sempre muito maus, porque depois as pessoas não se apropriam da habitação construída e dão-se mal nos bairros, não cuidam deles e não os sentem como seus. Todos os estudos provam que não é assim que se faz. Esta componente participativa é imprescindível.
Ao não se estabelecerem prioridades, qual poderá ser o impacto do PRR?
Os efeitos podem ser perversos, se não houver algumas cautelas e algumas prioridades. É este o problema. Tem de haver prioridades e saber - e isso também é matéria do Programa Nacional de Habitação - quanto deve ser alocado a uma determinada camada da população por razões A, B, C. Há muitas pessoas neste momento nas listas de espera das câmaras municipais que poderiam estar perfeitamente no mercado normal. Paralelamente à resposta às camadas mais desfavorecidas, há que tentar fazer com que o mercado habitacional, quer de venda, quer de arrendamento, esteja a preços normais, mas não conseguimos fazer isso sozinhos. O mercado é global. Temos de ter algumas defesas legais e acho que não temos tido as suficientes. Veja-se por exemplo a situação do investimento estrangeiro. O direito à habitação é para todos, mas, como precisamos do investimento estrangeiro, a prioridade financeira sobrepôs-se à política de habitação. É muito difícil equilibrar estes pratos todos. É positivo para o país que haja investimento estrangeiro, mas pode ser negativo para o mercado habitacional, porque o desequilibra.6
Os arquitetos e os planeadores em geral têm uma mente mais preparada para perceber como é que interferem as várias escalas temporais e geográficas, mas muita gente não tem essa visão. A maioria das políticas são setoriais e segmentadas. E é preciso acompanhá-las de indicadores de monitorização muito cuidadosos, para perceber se está a correr bem ou não. Não são só indicadores temporais: já se gastou “X” por cento do PRR. Mas será que foi para quem mais precisa? E que impacto teve esse investimento? Não podemos medir impactos antes de as políticas estarem realizadas. Só os conseguimos avaliar no fim, mas temos de saber que as políticas podem vir a ter um impacto perverso e temos de estar prevenidos contra isso. A única maneira que conheço de nos prevenirmos dos efeitos perversos das leis e das regras, é monitorizar e corrigir.
E qual pode ser o papel das cartas municipais de habitação, também previstas na Lei de Bases?
Poderiam, e deveriam, obrigar a descer à realidade concreta: números, locais, terrenos… Lá está, voltamos ao princípio: olhar para a disponibilidade de terrenos, de espaço, e ao mesmo tempo perceber quem são os destinatários de cada uma das “fatias” destinatárias das estratégias locais. As cartas são importantes, mas também são difíceis de fazer, e não há muita experiência. Estamos literalmente a tatear terreno. Atenção que as cartas têm de estar integradas com os planos diretores. Não se trata só de ter terreno disponível para produzir habitação. A construção ou reabilitação tem de ser viável do ponto de vista urbanístico e do planeamento e ordenamento do território, ou seja, não deve desequilibrar o tecido urbano e social. Estas coisas não são fáceis. Fazer casas é uma coisa muito séria, implica com a vida das pessoas, implica com o ambiente, implica com tudo. Tem de ser muito bem trabalhado.
Face ao contexto atual, por onde começar?
Estamos a começar pelo fim e eu não tenho uma explicação muito racional para isso. Julgo que é fruto das circunstâncias, ou seja, o governo está muito pressionado pelas circunstâncias. Na altura produziu a Nova Geração de Políticas de Habitação, deu-se a pandemia, propôs as estratégias locais, que demoram tempo a fazer, entretanto surgiram novas emergências… A Bolsa Nacional de Alojamento Urgente, do meu ponto de vista, não é uma boa solução. É uma boa solução para a proteção civil, para catástrofes, para coisas desse género. Não é uma boa solução para as famílias no geral, porque a habitação é um direito permanente, não é um direito provisório. O grande problema da habitação de emergência é que alojamos as pessoas e depois não as conseguimos tirar e voltamos novamente ao princípio. Temos de ter uma parte importante do mercado habitacional que não é público a colaborar no objetivo de dar habitação condigna a toda a gente. É nessa reforma do mercado habitacional que temos de trabalhar.7 Como? Não vou pelas vias de expropriações radicais, nem de legislações com grandes contenções que não funcionam muito bem. Nós podemos controlar preços mas esses controles também têm, por sua vez, efeitos perversos, porque desencadeiam fenómenos de especulação e mercados paralelos. As pessoas pagam por fora. Isto tudo tem de ser feito com cuidado. Penso que deveríamos ter como meta, não só mais habitação pública, mas uma parte muito importante do mercado habitacional em modalidades acessíveis.
Deveria haver mais incentivos e atores muito mais diversificados do que os que há. Há que chamar todos os atores sociais e institucionais, todas as entidades que podem estar interessadas e que lá fora produzem habitação acessível. Estou a pensar por exemplo nas cooperativas ou nas instituições solidárias. Falo sobretudo das cooperativas habitacionais de inquilinato, uma experiência que não tem sido feita em Portugal e faz falta. São cooperativas em que as pessoas são comproprietárias das casas, com um direito de uso vitalício, mas após a morte a casa retorna à cooperativa. É uma experiência que devíamos fazer até para comparar. Mas também me refiro à própria Segurança Social e a outras entidades institucionais que têm capacidade financeira, que poderiam ser atraídas para o mercado habitacional em vez de estarem a fazer especulações desenfreadas noutros mercados.
Não vejo outra maneira. Nós não vamos conseguir nem sequer a médio prazo - já não digo a curto prazo - habitação pública suficiente para as necessidades habitacionais que temos. Só temos 2% de habitação pública - agora podemos ter mais uns pontinhos -, mas nunca chegaremos aos 30% ou aos 40% a médio prazo. Podíamos, quando muito, aumentar para 4% ou 5%, mas isso será sempre minoritário. Ao mesmo tempo, as necessidades que temos são diferentes das do passado. Se em 1974 tínhamos meio milhão de casas a menos, agora temos um milhão de casas a mais. Não estão é onde as pessoas as querem, ou têm preços a que as pessoas não chegam. Temos 700 000 casas vazias, uma parte das quais provavelmente podia ser mobilizada, a começar pelas dos grandes investidores institucionais. Era por aí que eu começaria, não pelo pequeno prédio. Muito mais relevante do que isso são os grandes fundos imobiliários, que têm carteiras enormes. (Alerto para uma situação que pode estar em perigo: a Fidelidade/Fosun. A Fosun, que detém grande parte da Fidelidade, está com problemas enormes no mercado financeiro chinês e é uma entidade com um grande parque imobiliário habitacional em Portugal). Começaria por estudar formas de trazer os investidores institucionais para o mercado de habitação acessível, porque são casas que já existem e que nos permitiam aumentar rapidamente o stock de casas acessíveis. É evidente que podia continuar a haver casas com valores altíssimos, mas não numa franja tão larga e nunca com benefícios fiscais. É este o objetivo que tem de se pôr na política. Se não, não chegamos lá.
Fazem-se mudanças legislativas, mas depois os possíveis promotores não aderem a esses programas.
Porque a mudança legislativa não está completa. Faltam as ferramentas e os mecanismos que podem incentivar. A mala de ferramentas de qualquer política de habitação tem de ter: medidas de promoção pública de habitação propriamente dita; medidas fiscais; medidas de subsidiação; e medidas de regulação legal. As formas de apoio podem não ser apenas construir mais casas. É preciso recuperar as casas existentes e trazer para o mercado casas vazias que estão expectantes. Também é possível subsidiar as pessoas para que elas cheguem a essas casas, embora esses subsídios provoquem sempre aumento de preços. Seja como for, mais importante do que bonificar juros - e agora se calhar pode vir outra vez a tentação de o fazer, porque vão subir -, seria porventura um subsídio ao arrendamento. É que temos uma outra disfunção muito grande do mercado em Portugal, que é ser mais barato para uma família comprar casa do que alugar. Isto mostra que o mercado está totalmente desregulado. Por isso não podemos falar apenas em produção de habitação pública, temos de falar em regulação do mercado.
Em relação à questão dos devolutos ou dos grandes investimentos, há ainda a questão da função social da habitação. Que papel pode desempenhar?
A Lei de Bases define a função social da habitação, o que deu uma polémica enorme. A direita insistia que a função social da habitação tem de ser garantida pelo Estado, dentro da visão que é ao Estado que cabe fazer casas para os mais pobres com os nossos impostos. Nós dizíamos que a habitação devia servir para o fim para que foi criada. Uma habitação é para quê? É para ser habitada. Ou seja, a função social da habitação é usá-la. Os devolutos contrariam essa função social, por isso pagam IMI agravado, mas isso é uma gota de água relativamente ao valor de uso, muito superior ao IMI que pagam. A ferramenta fiscal para agravar o IMI existe, mas exerce pouca pressão. Nestas coisas, tem de haver sempre “o pau e a cenoura”. Tem de haver uma pressão - uma medida coerciva/negativa - mas também um estímulo. Com estes dois lados é que se consegue ir regulando o mercado, porque usar só o “pau” dá mau resultado e usar só a “cenoura” dá disparate também. E exige-se também confiança entre os atores, que é importante e nem sempre existe. Quando não há confiança, rompe-se tudo. Se rebentar a confiança nos bancos, no governo, no investidor ou na família, já não se consegue harmonizar os diferentes interesses. Quando se quebra a confiança em qualquer dos atores, o processo para.
Do seu ponto de vista e da sua experiência, quais deveriam ser os públicos-alvo prioritários?
Não gosto de falar em “públicos-alvo”, prefiro referir-me a destinatários, que devem ser chamados a participar nas soluções. Também não tenho capacidade para fazer essa definição de prioridades - precisava de ter mais dados -, mas há situações que me preocupam sempre muito. Uma delas é a população marginalizada por razões étnicas. Basicamente em Portugal é a população cigana, mas não só. Estou-me a lembrar de Odemira e outros casos semelhantes com população migrante, cuja mão de obra agrícola é muito vulnerável e explorada. Uma segunda prioridade são os despejos de inquilinos que até tinham uma situação estabilizada, mas de repente se veem sem contrato e sem casa. Fomos gerindo mais ou menos situações anteriores, mas a grande onda provocada pela chamada “Lei Cristas”, de 2012, agravada com as transferências de casas do arrendamento para o alojamento local, já se traduz em perda de população nas freguesias dos centros históricos, com resultados de gentrificação muito evidentes. E podemos ainda ter uma nova onda de despejos, agora por incumprimento do pagamento da prestação da casa, devido ao aumento dos juros. Temos ainda a situação dos jovens, que é nacional e transversal, e que me preocupa imenso, porque atrasa a autonomia de uma geração e os empurra para a emigração. É completamente insustentável termos a geração mais nova tão sacrificada. Todas estas situações teriam de ser prioritárias. Se lhes dermos resposta, aliviamos a pressão e podemos abrir mais oportunidades para outras camadas que também precisam de habitação e têm esse direito.
Pensando a habitação de forma abrangente, o programa Bairros Saudáveis veio desencadear um leque de respostas promovidas pela própria sociedade civil que podem contribuir para um habitat mais qualificado.
O Bairros Saudáveis é um programa de pequenas intervenções. É sobretudo um programa de capacitação, de promoção da participação e de sensibilização para a possibilidade de cruzar uma data de perspetivas. Não é um programa de respostas imediatas. É uma política pública para permitir uma experiência de cidadania. Os movimentos sociais são muito importantes. Não há uma reforma contra as desigualdades se não houver alguém a dizer: quero mais. As reformas contra as desigualdades não são outorgadas, nunca foram. Os direitos foram sempre conquistados. Programas como os Bairros Saudáveis podem ser um “empurrão”. As pessoas percebem que podem ter mais poder e alguns recursos. Descobrem outras maneiras de responder, inventam soluções e isso é inovação e energia social.
Que balanço faz desta primeira edição? Qual pode ser o seu potencial transformador?
A transformação é nos dois sentidos: por um lado, na forma de as pessoas intervirem, porque têm de se constituir parcerias - as parcerias é que propõem projetos -, os projetos têm de ser participados com a comunidade; por outro lado, no funcionamento da administração pública. Este programa envolve sete ministérios, logo aí é diferente. Estes ministérios têm uma forma de intervenção colegial, não hierárquica. Ninguém “manda” no programa Bairros Saudáveis. Quando muito, o programa depende de todo o Conselho de Ministros. E acredita nos recursos da administração pública. Fizemos várias iniciativas no programa Bairros Saudáveis sem dinheiro. Parte-se no geral do princípio de que os recursos da administração pública se resumem aos seus orçamentos, mas não. A administração pública tem quadros, recursos humanos, meios objetivos, espaços de reuniões, sistemas de informação, que podem ser acionados. Tem também dados fantásticos - muito importantes num momento em que a informação é poder - que não são suficientemente trabalhados, nem sequer os do INE. Com isso, juntamente com algum músculo financeiro e com a energia das pessoas, podemos fazer muita coisa, mas temos de partir do pressuposto que a administração pública está disposta a funcionar neste outro paradigma, que é participativo e bipolar. A participação não se limita à consulta pública, tem o outro lado, o do retorno cidadão, as pessoas dizerem o que querem. Sem esta perspetiva, não se percebe o que é a participação.
As capacidades de uma administração central pesada, sectorial, não comunicante, surpreenderam-nos, ao nível da disponibilidade e da alegria dos próprios dirigentes e funcionários que colaboraram com o programa, da sua disponibilidade para fazer coisas de outra maneira. Isso é também uma mais-valia, porque no fundo é uma motivação. Toda a gente deu o seu melhor e isso é para mim uma lição muito grande do programa Bairros Saudáveis. Muitas vezes na administração pública o que é pesado são as regras criadas para aquilo funcionar e as proibições, as multas, os controles, as auditorias, a sistemática desconfiança. A administração pública tem uma desconfiança sistemática dos cidadãos em geral, mas também dos próprios funcionários. Estão sempre a ver se há uma falha e é por isso que se decide tão pouco. As pessoas têm medo de tomar decisões. Se não fizerem nada, não acontece nada. Não “chateiam” ninguém e não têm prejuízos. E isso é uma mentalidade que temos de combater, porque com estes modos tradicionais de funcionar não vamos lá. Acaba tudo no tribunal de contas ou na barra da justiça, em processos judiciais uns em cima dos outros, providências cautelares, queixas... Uma das grandes vantagens dos processos participativos é que previnem esse tipo de situações, na medida em que as coisas são mais abertas e transparentes. É muito mais difícil criarem-se aldrabices. Não se fala muito nisso, mas é verdade. Há também os problemas da linguagem, um problema que os arquitetos conhecem. Temos uma linguagem muito codificada, que a maior parte das pessoas não percebe. Nos programas públicos também é necessário aprender a ter uma linguagem simples, explicar as coisas de forma clara e usar ferramentas acessíveis, fáceis. Os formulários não podem ser um quebra-cabeças.
Tivemos imensas dificuldades. A maior dificuldade é sempre o dinheiro chegar ao programa para o programa o fazer chegar às pessoas. Depois, para chegar às pessoas, somos obrigados a um controle de despesas. Toda a gente tem de verificar tudo e às vezes é excessivo, porque as verbas em causa são pequenas. Aplica-se a mesma regra tanto para os 5 milhões do banqueiro, como para os 50 euros da associação de moradores, mas as situações são diferentes. Se as situações são diferentes, têm de ser tratadas de maneira diferente. Mas não há despesa que seja tão controlada entre nós como a de um pobre, creio até que é uma questão de preconceito. Acha-se sempre que as pessoas se estão a “aproveitar” e há muita inveja.
No caso dos Bairros Saudáveis, esta desconfiança também é quebrada a partir de uma maior transparência, estando a informação acessível a todos a partir do site [www.bairrossaudaveis.gov.pt], o que revela uma forma de pensar e de operar pouco comum.
Um programa que trabalha com uma série de ministérios vai ser alojado onde? Em que arquivo? O alojamento é o site e o site tem o arquivo disponível a toda a gente. É público. Se o programa é público, por que é que não hão-de todos poder ver? Só não colocamos on-line dados pessoais. O resto é público e é uma informação muito rica.
Fizemos um protocolo com o consórcio ODSlocal [www.odslocal.pt], criado por um conjunto de entidades, do meio académico e não só, para procurar construir indicadores de desenvolvimento sustentável que se apliquem à escala local, dos municípios. Fizemos um acordo com o ODSlocal e criou-se um processo em que os projetos aderem à plataforma ODSlocal e eles próprios vão construindo os indicadores de desenvolvimento sustentável com a ferramenta de mapeamento e monitorização que a plataforma criou. No site do programa Bairros Saudáveis, em “mapeamento dos projetos”, vê-se que cerca de 80% dos projetos se mapearam sozinhos. Eles próprios fizeram uma análise dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e avaliaram quanto é que contribuem para cada um. Juntaram informações, fotografias, o que quiseram, e, além disso, foram convidados a apresentar os dados que mostram melhor os resultados do projeto. A ferramenta já existia e é uma ferramenta de avaliação e de monitorização poderosíssima. Desmultiplica completamente a quantidade de trabalho e aumenta os resultados.
Também o Jornal dos Bairros Saudáveis, um jornal participativo on-line, é uma experiência interessante. É feito com o que os projetos enviam - notícias, convites, agenda de eventos, etc., com fotografias e textos. É uma base de informação riquíssima. Nós limitámo-nos a criar a ferramenta, que é o jornal, e temos um jornalista para editar as notícias. O resto são os projetos que fazem. Chega a haver competição para ver quem é que publica mais nas redes sociais, no Instagram, por exemplo. Isso ultrapassa-nos e é toda uma ferramenta que normalmente a administração pública não usa. A comunicação social não fala dos Bairros Saudáveis, mas as redes sociais falam. O mundo está em muitos outros sítios.
Na segunda edição do programa, os que já fizeram projetos podem voltar a candidatar-se e podem voltar a ganhar. Na primeira edição deixámos 500 candidaturas de fora. Eram muitas e algumas muito boas. O João Ferrão, que foi presidente do júri, no anúncio público dos resultados disse que nunca tinha reprovado alunos com 15 e que isto lhe custou muito. Tínhamos projetos muito bons e ainda tentámos ter mais um pouco de dinheiro. Não tivemos, mas eu gosto de pequenos passos, porque acabam por ser grandes passos. Primeiro vamos ter boas ideias, vamos trabalhar o que se quer fazer e o dinheiro depois acaba por aparecer.
Pois, por vezes não é só uma questão de dinheiro. Estamos a ver o PRR, com 100% a fundo perdido, e a execução está a ser complicada.
É muito complicado, mas o próprio PRR também é uma conquista. Foi preciso batalhar muito para conseguir meter lá aquele financiamento para a habitação. Se não houvesse a Nova Geração de Políticas de Habitação, não havia o 1º Direito, se não houvesse 1º Direito… por aí fora. Portanto, isto é um contínuo. Uma coisa é certa: as desigualdades estão a aumentar, seja qual for a ideologia com que queiram analisar o assunto, e esse é o meu ponto de partida. Alguma coisa tem de ser feita e, a meu ver, tem de ser feita passo a passo e contando com a energia das pessoas e os recursos disponíveis.
Podemos investir naquilo que há. No início da minha carreira profissional fui trabalhar na reabilitação de clandestinos e chegávamos à conclusão que era possível legalizar muitas situações. A condição que normalmente bloqueia as legalizações é a posse do terreno. Quando o terreno pertence a quem lá está, é mais fácil. Quando as pessoas ocupam um terreno público ou privado, que não é deles, é muito complicado. A primeira coisa a fazer é tratar da posse do terreno. O chão, temos de começar pelo chão. O chão, a quem pertence? A propriedade não é um dogma. Pode-se comprar, vender, expropriar, trocar, permutar. A política de solos é a chave.
Como é que conseguimos aos poucos promover outra forma de pensar e executar políticas públicas de habitação?
Eu acho que é pelo exemplo e pelos resultados. É mostrar resultados e comparar. Comparem o programa Bairros Saudáveis com qualquer experiência nacional ou internacional. Vão ver que, se calhar, pode-se fazer mais com menos. Não é cortando direitos, nem responsabilidades públicas, que se faz mais com menos. Faz-se mais com menos abrindo. Com a idade que tenho já percebi que não vou mudar o mundo, nem vou resolver o problema da habitação, como disse ao Nuno Portas na primeira aula de arquitetura que tive com ele: “vim para arquitetura, porque quero resolver o problema da habitação em Portugal.” Bem, tinha 20 anos. Agora tenho 75. Não resolvi o problema da habitação, mas aprendi umas coisas pelo caminho. Parece também que fiquei “mãe” da Lei de Bases e tenho muito orgulho nisso, mas é um passo apenas. Na cadeia de pessoas que fizeram coisas, somos muitos e aprendemos uns com os outros. Estamos sempre aos ombros de gigantes.