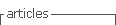Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Cadernos do Arquivo Municipal
On-line version ISSN 2183-3176
Cadernos do Arquivo Municipal vol.ser2 no.5 Lisboa June 2016
INTRODUÇÃO
Introdução
Raquel Henriques da Silva*
FCSH/NOVA - Departamento de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade NOVA de Lisboa, Portugal;
«Numa comunhão dinâmica entre o homem e a casa, nessa rivalidade dinâmica entre a casa e o universo, estamos longe de qualquer referência às simples formas geométricas. A casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado transcende o espaço geométrico (…).
Mas o complexo realidade-sonho nunca é definitivamente resolvido. Mesmo quando começa a viver humanamente, a casa não perde toda a sua “objectividade”. É preciso analisar melhor como se apresentam, na geometria do sonho, as casas do passado, as casas onde vamos reencontrar, em nossos devaneios, a intimidade do passado».
Gaston Bachelard, A poética do espaço. São Paulo, Martins Fontes, 2003 (1ª edição francesa: 1957) p. 62; 64.
Quando me foi lançado o generoso convite para coordenar o dossier do número 5 dos Cadernos do Arquivo Municipal, o tema ”Histórias de casas e de quem lá vive(u)” surgiu-me de imediato. Esta é uma paixão antiga, em termos de investigação e de gosto pessoal: gosto de casas, de as perceber como arquiteturas (marcadas pelos seus respetivos ciclos artísticos e históricos) mas também como lugares de vidas de tempos longos, de gente concreta, numa potente mistura entre História e histórias, entre arte e antropologia. Esta dimensão intensa da “casa” (valorizando a particularidade biográfica de cada uma) é iluminada pelo maravilhoso livro de Gaston Bachelard, citado em epígrafe, que, definitivamente, nos abriu as suas componentes psicológicas, antropológicas e ontológicas, apoiando-se mais na literatura (sobretudo na poesia) do que na história ou na arte. No entanto, o perfil rigoroso dos Cadernos, cumprindo todas as determinações atuais de uma revista científica, e exigindo a divulgação de documentação inédita, circunscreveu a reflexão indagante e poética de Bachelard mas, curiosamente, as “casas” tratadas não perderam nada da sua carga aurática, de tal modo são extraordinárias as histórias que foram contendo. E o facto de algumas já não existirem (na verdade apenas três das oito que integram este número) e outras terem sido profundamente alteradas, não enfraquece, antes pelo contrário, a sua comovente carga memorial.
O número de artigos recebidos manifesta também quanto a minha paixão por casas e as suas histórias é amplamente partilhada. Tendo em conta que a qualidade foi similar à quantidade, a qualificadíssima equipa que produz a revista propôs-me (e eu aceitei naturalmente) realizarmos dois números sucessivos sob o mesmo tema, deixando para o número 6 os artigos que abordam as casas e as suas vivências.
A potência do tema permite que o dossier possua uma inquestionável unidade e uma inesperada dimensão globalizante, uma vez que os oito artigos percorrem uma longuíssima cronologia que começa nos Estaus do Rossio de Lisboa, de matriz medieval, e chega ao início do século XX nos arrabaldes de Lisboa a tornarem-se cidade, mercê do plano urbanístico de Frederico Ressano Garcia. No entanto, a maioria dos casos tratados permite um desenrolar longo do tempo porque, como sabemos, as casas duram mais do que nós, e depois de mortas, nem sempre são enterradas, deixando restos expressivos que se integram noutras casas. Intrincado é também o seu nascimento: maioritariamente, as casas estudadas, mesmo quando são palácios, raramente nasceram num momento preciso, antes foram nascendo e crescendo, alterando-se de modo orgânico, ora integrando casas anteriores, ora deixando cair partes de si mesmas.
Tendo em conta o rigor informativo e a clareza de escrita dos resumos de cada um dos temas tratados, seria meramente tautológico repeti-los ou sintetizá-los nesta introdução global. Prefiro continuar a pensá-los em conjunto, salientando algumas questões comuns: além da já referida impossibilidade de encontrar o momento preciso (ou significante) de um nascimento, gostaria de destacar, quanto - nos Estaus, ao Rossio; na “Herdade de S. Roque” que viria a ser o Palácio dos Condes de Tomar, no limite do Bairro Alto; de algum modo também no Palácio Angeja, incrustado por cima do Chafariz d'El-Rei – o destino das casas aparece ligado às fronteiras muralhadas da cidade antiga, beneficiando mas também provocando as dinâmicas do crescimento. Outras (os palácios dos Marqueses do Alegrete, do Zambujal em Lisboa e do Machadinho) inseridas em firmes territórios urbanos de expansão, afirmam-se em determinado momento, pela já referida capacidade de agregar construções anteriores, impondo uma normalização arquitetónica e/ou funcional que, embora potente, nem sempre perdurou. Muito diverso, é a vida mais clara dos dois palacetes inscritos em lotes amplos e ajardinados, transportando a memória da casa de campo ou do palácio suburbano. É o que acontece com o Palácio da Quinta das Águias, na zona nobre da Junqueira setecentista, e com o Palacete Mendonça, a meio caminho entre o desejo de ampliar a cidade, sobre o troço da Estrada de Circunvalação nos limites da freguesia de S. Sebastião, e a vizinhança prestigiada do Palácio de Palhavã. Só nestes dois casos, os mais tardios da cronologia tratada, as casas têm certidão de nascimento, encomendador e arquiteto, gerando uma clareza imagética que chegou quase intacta até nós e que, esperemos, seja futuramente respeitada.
Há outro traço comum a todos os artigos, sem dúvida o mais importante, considerando os objetivos da revista: a quantidade e qualidade da documentação inédita revelada. Tendo em conta a complexidade orgânica das casas em presença, nem sempre essa documentação é totalmente esclarecedora, no sentido de permitir a certeza da narrativa histórica. Mas abre hipóteses, integra dúvidas através de formulação de outras, absorvendo as bibliografias existentes com as novas pistas reveladas pela documentação. Situamo-nos então no território mais gratificante para o historiador: produzir conhecimento, assumindo quanto ele contém zonas de obscuridade que hão de estimular outros historiadores.
Não seria justo destacar nenhum artigo em particular, tendo em conta, como venho a dizer, que praticamente todos levantam questões relevantes. Mas não posso deixar de referir o modo como Delminda Rijo nos dá a ver, quase cinematograficamente, “o complexo eclesiástico de tipo judicial e administrativo” montado pela Inquisição e que teve sede no Palácio dos Estaus “ao longo de quatro séculos”. Que o lugar do edifício, e talvez algumas das suas pedras, seja hoje o Teatro Nacional com que Almeida Garrett desejava criar um povo de cidadãos é uma espécie de redenção daquele sítio antiquíssimo de Lisboa. Saber a história passada, e os meandros da estrutura logística que ali funcionou ao serviço de uma Igreja ameaçadora, torna, creio eu, essa redenção um sentimento partilhado que nos alarga o desempenho como cidadãos.
Também o artigo de João M. Simões, analisa com rigor o modo como o atual palácio dos Condes de Tomar, na rua de S. Pedro de Alcântara, reconfigurou “uma pluralidade” de edifícios e de funções que é possível inventariar através, por exemplo, das épocas sucessivas dos azulejos. O autor designa-o, e muito bem, como uma espécie de “cofre arquitetónico” e, nesse palimpsesto que consegue ir decifrando (casas como esta são na verdade sítios arqueológicos) revela-nos também recentes aposentos oitocentistas cujos valores de uso podem e devem ser preservados na nova vida que o edifício irá em breve conhecer.
Tempo longo, sobreposições, ruínas e falhados renascimentos, envolvem o caso paradigmático do Palácio dos Marqueses de Alegrete à Mouraria. As autoras, M. Alexandra Gago da Câmara e Teresa Campos Coelho, homenageiam o grande olisipógrafo Vieira da Silva que escreveu uma sólida monografia da casa, pouco depois de ser demolida, no início do ciclo traumático das alterações do Martim Moniz e envolvente, no início dos anos quarenta. Mas em relação ao período mais brilhante da Casa, nos finais do século XVII, abrem pistas pertinentes (mas ainda sem resposta possível) para encontrar o arquiteto da obra, utilizando estudos recentes sobre as dinâmicas e os atores da cena arquitetónica portuguesa de então.
Dúvidas propulsoras da continuação dos estudos surgem também a propósito do Palácio do Machadinho, no artigo de Hélia Silva e Tiago Lourenço. Não deixa de ser extraordinário o modo como casas desta dimensão resistem a contar-nos toda a sua história, numa época (o final do século XVIII) em que a documentação é já muito abundante. Os autores investigaram a ocupação anterior que teria talvez já uma dimensão palaciana mas quer então, quer a partir do momento em que surge José Machado Pinto (que dará nome à casa) “desconhece-se planta, projecto e âmbito das transformações”. Não menos interessantes são as sobrevidas posteriores da Casa que hoje alberga importantes serviços patrimoniais da Câmara Municipal de Lisboa e tem incerto futuro anunciado. Mas antes disso, em meados do século XIX, o palácio chegou a ser uma verdadeira «ilha» onde se acolhiam cerca de uma centena de pessoas. Quantas histórias, quantos corpos uma Casa é capaz de absorver!
Que o corpo das casas é motivo de zanga e de prolongados confrontos, prova-o bem o interessante artigo de António Salgado de Barros, a propósito do prolongado litígio que o poderoso Marquês de Angeja manteve com o Senado de Lisboa nos finais do século XVIII. A edificação estava, como já atrás referi, instalada sobre o chafariz d'El-Rei e, face ao desmoronamento do seu espaldar, ela foi profundamente afetada. O processo dá-nos a ver o funcionamento técnico dos serviços competentes do Senado, confirmando o que sabemos do seu rigor e pertinência. O Marquês não ganhou e a sua Casa não sobreviveu, embora talvez algo dela permaneça no edifício eclético que lhe deu lugar um século mais tarde.
Este percurso por histórias meio apagadas, cuja decifração nunca é integral termina na clareza projetual do palacete Mendonça, da autoria de Miguel Ventura Terra. O que a autora, Júlia Varela traz de novo é a valorização de um dos “ângulos” do “triângulo” que envolve o nascimento de uma Casa: entre o sítio, o arquiteto e o encomendador, ela detém-se no último, Henrique Mendonça, um dos promotores da cultura de café e cacau em S. Tomé, utilizando tecnologias e modos de produção de absoluta modernidade internacional. Algo dessa paixão pelo desenvolvimento terá passado para a sua Casa, tanto mais que era largamente partilhada pelo arquiteto escolhido.
O que proponho aos leitores que também amam as casas é que completem este número dos Cadernos do Arquivo Municipal com uma visita aos corpos ainda existentes destas Casas ou aos sítios em que as demolidas existiram. E que os mesmos ou outros investigadores continuem a manejar a documentação para rememoriarmos, vezes sem conta, estas histórias infindáveis.
Entre os artigos recebidos, houve um deles que, por sugestão do Conselho Editorial, acabou por integrar a secção Varia, tendo em conta o facto de ser escrito na primeira pessoa: a autora Diana Pereira evoca a casa de seus avós no Bairro de Alvalade e é outra dimensão de falar de uma casa, mais poética e testemunhal que, na minha opinião, enriquece o memorialismo pretendido. O mesmo acontece com o vídeo “Traços da vida privada” de Luís Nunes dos Santos que comenta os filmes da sua família. As casas e quem lá vive(u) têm também esta dimensão afetiva que exijo ao meu trabalho, tal como procuro imprimi-la na minha vida. Foi extraordinário que tantos e tão diversos autores aderissem ao mesmo repto, e desde logo a excecional equipa (pelo saber, pelo profissionalismo e pelo empenho) do Conselho Editorial a quem devemos também a organização suculenta da secção Documenta. Assim agradeço à Ana Teresa Brito, à Aurora Santos, à Sandra Pires, à Sara Loureiro, à Susana Madeira e à coordenadora do referido Conselho, Marta Gomes: este número dos Cadernos é, em primeiro lugar, vosso. Resta-me apenas referir o segundo artigo da Varia que sai do âmbito temático deste número dos Cadernos mas que é um notável estudo de Nuno Gomes Martins dedicado à Expo 98 e aos seus amplos contextos nacionais e internacionais.
Agradeço finalmente a generosidade e competência dos revisores dos artigos que permitiram o seu aperfeiçoamento em relação à primeira versão apresentada.
Carcavelos, 19 de maio de 2016
Notas
* Professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Departamento de História da Arte. Leciona os seminários do Mestrado em História da Arte do século XIX e é coordenadora científica do Mestrado em Museologia. Autora de estudos de investigação e divulgação nas áreas do urbanismo e arquitetura (século XIX-XX), artes plásticas e museologia. Comissária de exposições de arte. Correio eletrónico: raquelhs10@gmail.com