As ruínas de si… as ruínas de nós...as ruínas de mim... as ruínas do tempo passado exposto na montra do presente... as ruínas edificadas nas cidades dos sequestros...as ruínas da expropriação atlântica... as ruínas do imaginário concreto...as ruínas das dores desumanizantes. (luZGomeS in Carvalho et al., 2017, p. 111)
Pensar a pós-colonialidade em Portugal, e no enquadramento da atual Europa pós-colonial, só resulta num esforço produtivo se o reconhecimento do seu legado colonial for amplamente discutido no espaço público por todos os implicados na história do colonialismo português, assegurando que a memória coletiva seja representativa da experiência de colonizadores e colonizados, atuando, desta forma, como reparação histórica no presente. Ao propor o conceito de memória multidirecional como um conceito operativo para a discussão sobre a representação da memória coletiva no espaço público, Michael Rothberg (2009, p. 3) distingue-o do de memória competitiva. Enquanto a memória competitiva se manifesta como uma luta pelo reconhecimento de uma determinada narrativa sobre a memória coletiva, que exclui toda e qualquer narrativa alternativa, a memória multidirecional é um conceito que implica referências cruzadas e negociação durante o processo de articulação da memória no espaço público. Este permite uma interação dialógica que garante a participação de diferentes grupos populacionais com experiências diversas. A memória é um ato liberto de uma dimensão homogénea espaço-tempo de uma nação, sendo que esta dimensão nunca o é verdadeiramente homogénea. A homogeneidade é a expressão visível da ausência da polifonia que deve preexistir a qualquer discussão desta natureza porque a memória coletiva é um conceito fluído. Desde o período do pós-25 de abril de 1974, a representação da memória pós-colonial no espaço público português tem-se pautado por esta homogeneidade que exclui a memória do colonizado desta discussão no espaço público. A revolução e o regime democrático não conseguiram introduzir uma rutura na subordinação da memória do colonialismo à memória da expansão marítima, representada como a era de prosperidade e apogeu da história de Portugal, consolidada durante o Estado Novo. Se apenas num futuro muito próximo, Lisboa verá o seu primeiro memorial da escravatura, projeto proposto pela Djass-Associação de Afrodescendentes e votado para ser financiado pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do orçamento participativo de 2017, a memória da expansão marítima e do poder político e económico que Portugal adquiriu a partir de 1400 encontra-se consolidada na capital - como, de resto, em todo o país -, com particular destaque para a zona de Belém, que concentra a representação do apogeu e queda do império português. Consequentemente, a representação de uma certa memória sobre este período histórico e, sobretudo, a representação de uma memória no espaço público exclui a experiência de uma parte significativa da população portuguesa.
A literatura portuguesa publicada depois de 1974 tem essencialmente contribuído para uma reflexão sobre a experiência do colonizador, a queda do império português e as suas consequências traumáticas sentidas num país que foi forçado a reajustar-se à sua dimensão real. Estudos académicos que incluem “No Longer Alone and Proud” (Não Mais Orgulhosamente Sós), de Ellen Sapega (1997), “Lusotropicalist Entanglements” (Emaranhado Lusotropicalista) de Ana Paula Ferreira (2014) e, mais recentemente, Orfãos do Império de Patrícia Martinho Ferreira (2021) mostram como a literatura escrita depois de 1974 compensou a ausência de uma discussão política alargada sobre a revolução, a descolonização e a intervenção portuguesa no colonialismo. Contudo, na literatura, a experiência das minorias africanas foi pouco abordada e muito raramente representada na ficção portuguesa. É de salientar, por exemplo, que as representações da memória e do trauma do combatente e, mais recentemente, do retornado, constituem-se mais presentes na literatura portuguesa do que a representação do desertor ou do refratário. Por outro lado, a memória traumática dos povos colonizados foi particularmente deixada na sombra durante todos estes anos. É a memória do outro africano de uma história que é também portuguesa. A muito recente emergência de uma literatura portuguesa negra tem contribuído para dotar a discussão sobre Portugal pós-colonial no espaço público de uma polifonia até então ausente, desestabilizando perspetivas hegemónicas sobre o passado colonial e a forma como o presente se relaciona com esse passado. Desde o início do novo milénio, o número de narrativas de ficção escritas por autores portugueses afrodescendentes, tais como Kalaf Epalanga, Yara Monteiro e Djaimilia Pereira de Almeida, entre outros, que pensam o país pós-colonial, tem aumentado lenta, mas paulatinamente. O facto de Esse Cabelo e, particularmente, Luanda, Lisboa, Paraíso de Djaimilia Pereira de Almeida (2015, 2018), terem sido obras premiadas variadas vezes é a face mais visível de um reconhecimento crescente, se bem que ainda em fase incipiente, da emergência desta literatura fundamental para que outras vozes se expressem e se façam ouvir. Como Sheila Khan (2015, p. 18) defende em Portugal a Lápis de Cor, os tempos pós-coloniais são os tempos em que devemos escutar as outras vozes, com as suas narrativas e conhecimentos, que legitimamente compõem o puzzle histórico de Portugal pós-colonial. Entenda-se por estas vozes as vozes do sul global, ex-imperial, que têm sido silenciadas, desvalorizadas e esquecidas, aquelas que “viveram a retórica da colonialidade portuguesa, a sua visão imperial de centro civilizador e arauto de progresso e de desenvolvimento” (Khan, 2015, p. 18).
A multiculturalidade decorrente dos tempos pós-coloniais tem servido sobretudo como chavão para a promoção turística e económica do país. No entanto, tem estado muito pouco presente numa reflexão atual com o objetivo de repensar a (in)visibilidade e integração das novas vozes, herdeiras do império colonial, que coloque, por exemplo, e no caso da literatura, em perspetiva os efeitos de um corpus literário construído em torno de um imaginário geográfico que tem Portugal como o centro deste mapa. Ser afrodescendente implica sentimentos de pertença decorrentes desta condição que é antes de mais, e relembrando as palavras de Inocência Mata (2014), “um processo dinâmico condicionado por uma multiplicidade de fatores (históricos, sociais, coletivos, portanto), mas também por histórias de vida” (p. 62). No seu longo trabalho de crítica ao orientalismo e ao imperialismo, Edward Said (1993) propõe pensar em novas topografias pós-coloniais que desafiem estabilidades cartográficas geradas em tempos coloniais, argumentando que “já que ninguém se encontra fora ou além da geografia, nenhum de nós está inteiramente liberto da luta sobre a geografia” (p. 6). Socorro-me, por isso, das palavras de Djaimilia Pereira de Almeida e de Yara Monteiro para mostrar como ser afrodescendente é uma condição percecionada como o outro a partir do sujeito português branco, eurocêntrico, mas sentida como uma complexidade que integra a diversidade dentro de si, enriquecendo a experiência do sujeito afrodescendente, obrigado a forjar os termos da sua identidade; se Almeida afirma que, embora nascida em Angola e criada em Portugal desde a infância, “uma pessoa como eu é sempre uma rapariga africana em Lisboa” (Lucas, 2015, para.10), Monteiro sublinha que “as minhas raízes são africanas, são angolanas, mas as minhas asas são europeias, são portuguesas” (Wieser, 2020, 00:02:43). Defendo neste artigo que as narrativas produzidas pelos recentes autores afrodescendentes introduzem a possibilidade de rutura necessária na estabilidade do imaginário cartográfico subjacente ao conceito de literatura nacional para que a literatura pós-colonial de autoria afrodescendente possa refletir por voz e mão próprias sobre as complexidades que o colonialismo produziu. Estas novas narrativas são construídas a partir da perceção de quem “habita a fronteira, sente na fronteira e pensa na fronteira” e experiencia o deslocamento e a (des)pertença (Mignolo, 2017, p. 19); embora escrevendo em português, nos seus corpos “habitam memórias diferentes e, sobretudo, diferentes concepções e ‘sensibilidade’ do mundo” (Mignolo, 2017, p. 20).
As Telefones, de Djaimilia Pereira de Almeida (2020), é uma narrativa na primeira pessoa que explora a relação afetiva entre uma filha e a sua mãe a viver em diferentes cidades e continentes: Solange, a filha, cresceu em Lisboa aos cuidados da tia materna, chegada durante os primeiros anos da independência de Angola, enquanto Filomena, a mãe, permaneceu em Luanda. O argumento subjacente ao presente artigo, e que se desenvolve em torno das possibilidades metafóricas que a imagem do telefone gera, constitui-se em dois enunciados complementares: por um lado, sendo uma narrativa sobre duas vidas privadas da consistência e fisicalidade que uma relação pessoal implica, As Telefones descoloniza a experiência da perda e do vazio interior que a literatura publicada depois de 1974 associou à memória e experiência do corpo dos combatentes da Guerra Colonial e dos retornados, mas também, e muito significativamente, ao sentimento de saudade, tão emblemático da cultura portuguesa; por outro lado, a centralidade narrativa da conversa telefónica como o único meio de transmissão de memória e conhecimento entre uma mãe e uma filha introduz um corte na convenção literária portuguesa e ocidental, que toma a escrita como meio privilegiado do testemunho, introduzindo a tradição oral de que a própria literatura angolana como, de resto, as literaturas africanas saídas das independências, são tributárias - como base testemunhal na literatura portuguesa da diáspora pós-colonial (Chaves, 1999). No seu artigo sobre Luanda, Lisboa, Paraíso, Paulo de Medeiros (2020, p. 147) propõe ler o romance premiado de Almeida para além dos limites de uma tradição literária nacional ou linguística, identificando nele também a herança deixada por Luuanda, de José Luandino Vieira. A experiência do trauma pós-colonial, gerada pela perda, (des)pertença e diáspora, tem de ser ouvida e tratada a várias vozes, descolonizando-a de uma memória competitiva e introduzindo as ruturas nos limites da tradição literária nacional, sustentada por um imaginário geográfico hegemónico. É precisamente esta literatura pós-colonial de autoria afrodescendente, escrita pelas outras vozes a que Khan se refere, que poderá contribuir para uma discussão sobre reparação histórica em tempos pós-coloniais que possa sustentar um processo de historização contra-hegemónico.
1. A Diáspora, a Saudade e a Mãe
As Telefones constituem longos monólogos de Solange e da sua mãe Filomena ao telefone, intercalados em forma de diferentes capítulos. Um narrador de terceira pessoa aparece cinco vezes ao longo da narrativa, entrecortando estes monólogos, para registar a viagem de Solange a Luanda para estar com a mãe durante as férias, a visita de Filomena a Lisboa para estar com a filha e a angústia e profunda saudade de ambas sobre uma relação de mãe e filha que se desenrola essencialmente ao longo dos anos ao telefone desde o momento em que Solange é enviada para casa da tia em Lisboa.
É uma narrativa que se desenvolve em torno do impacto que a diáspora tem sobre as relações familiares e, mais precisamente, sobre o crescimento dos filhos separados das suas mães prematuramente. A ausência de estatísticas que identifiquem claramente a população afrodescendente portuguesa torna impossível o esforço de determinar o número de famílias que vivem separadas entre Portugal e os vários países africanos de língua oficial portuguesa. De acordo com os dados disponibilizados pelo Observatório das Migrações (s.d.), em 2017, cerca de 17% da população estrangeira residente em Portugal era oriunda de países africanos de expressão portuguesa (Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola), constituindo o segundo grupo mais numeroso de estrangeiros, apenas superado pelo número de residentes brasileiros. No entanto, e tendo em conta a ausência de estatísticas, apenas podemos inferir sobre o alcance real das consequências emocionais e psicológicas sobre os núcleos familiares de uma separação imposta pela diáspora. Na história de separações de famílias africanas e afrodescendentes, as que são consequência da emigração provocada pelas instabilidades políticas e económicas na sequência das libertações africanas constituem uma espécie de prolongamento contemporâneo das separações traumáticas resultantes do deslocamento transatlântico forçado e escravização que constituem o cerne da história do colonialismo português e europeu. Em As Telefones, e nas palavras de um narrador omnisciente, Filomena e Solange representam “continentes separados pelas águas que os unem”, numa história de separações forçadas que é, afinal, também a história que une os dois continentes, Europa e África, e, a uma escala menor, Portugal e Angola, representados na narrativa, pelo eixo Lisboa-Luanda (Almeida, 2020, p. 41).
Como tropo literário, o telefone ou a conversa telefónica como derradeira ligação entre aqueles que ficam e aqueles que partem não é inédito na obra de Djaimilia Pereira de Almeida, embora seja apenas em As Telefones que se constitui o centro narrativo. Em Esse Cabelo (Almeida, 2015), a conversa telefónica constitui o único contacto frequente entre a protagonista Mila e a sua mãe, aliás um dos vários aspetos em comum que unem as vivências desta protagonista e de Solange em As Telefones. Em Luanda, Lisboa, Paraíso (Almeida, 2018), Cartola, impossibilitado de regressar a Luanda por não dispor de meios financeiros e obrigado, por isso, a sobreviver com o filho Aquiles na periferia de Lisboa, mantém contacto com a mulher Glória, acamada em Luanda, apenas através de cartas trocadas e telefonemas esporádicos. Estas narrativas exploram aspetos diferentes relativos à diáspora angolana e à sua integração em Portugal. Enquanto em Luanda, Lisboa, Paraíso, Cartola é uma personagem construída em torno das promessas de cidadania e integração que o poder colonial português oferecia aos africanos assimilados que se revelaram fatalmente ilusórias quando o império se desmoronou, Mila de Esse Cabelo, e Aquiles, filho de Cartola, são, juntamente com Solange, os filhos do império que tentam, antes de mais e de alguma forma, reconciliar dentro de si as suas vivências em Lisboa com as suas raízes angolanas. São, por isso, protagonistas de narrativas que desenham um projeto literário decolonial assente na exploração de sensibilidades relativas a um espaço-fronteira que os protagonistas são obrigados a forjar entre Angola e Portugal. As sensibilidades expressam-se em português, usam a mesma gramática de Portugal, mas as memórias são diferentes e têm de se criar novas formas de expressão a partir das existentes.
Em Orfãos do Império, P. Ferreira (2021) identifica o conceito de orfandade como um tropo recorrente na literatura e, particularmente, na literatura portuguesa pós-colonial para expressar um estado traumático resultante da perda da figura parental associado a um “percurso de descoberta das suas raízes identitárias e, em muitos casos, esse é um caminho através das suas memórias” (p. 31). P. Ferreira (2021) explora a orfandade, em Esse Cabelo, como uma “dimensão de perda” e, por conseguinte, uma condição que “não é literal, mas metafórica” e que só muito superficialmente se assemelha à condição de órfão experienciada pelos protagonistas de obras de António Lobo Antunes e de Lídia Jorge, entre outros autores analisados (p. 238). Este conceito é particularmente produtivo na narrativa de Djaimilia Pereira de Almeida porque se a condição de orfandade é, de facto, superficial, em Esse Cabelo, em Luanda, Lisboa, Paraíso, ela constitui a base de construção da personagem Aquiles, fisicamente afastado da mãe e com um pai que progressivamente se torna senil e alienado. Aquiles é o filho da diáspora angolana que a cidade pós-colonial não reconhece como cidadão integrado. É uma vida suspensa numa antiga metrópole colonial que ainda se encontra à deriva entre o que foi e o que quer ser: “não há pressa nem de ter casa nem de ter pai nem de ter mãe” (Almeida, 2018, p. 170).
Poder-se-ia pensar que o conceito de orfandade não tem lugar em As Telefones; contudo, a mesma sensação de perda e desamparo une Mila, Aquiles e Solange. Nesta narrativa, a sensação de perda é explorada como uma limitação que a diáspora impõe ao direito de Solange reconhecer-se a si própria fisicamente como pertença a uma linhagem familiar e ancestral; em suma, com o direito a ter um corpo em que reconheça nele os traços da mãe com quem não pode estar, os traços de uma ancestralidade com a qual tem pouca intimidade e os traços de parecença de corpos que são obrigados pela circunstância da diáspora a amadurecer sem referências um do outro; circunstância que, nas palavras de Solange, se define como “a nossa situação” (Almeida, 2020, p. 34), as saudades de filha e mãe. A inexistência do direito ao reconhecimento da linhagem do seu corpo é enunciada no título que gera estranheza pela marcação de género que identifica Solange e Filomena em óbvia discordância com o nome que se lhe segue: As Telefones que sugere o que ambas se tornam ao longo de anos de não convivência física: filha e mãe cujos laços são reforçados e renovados apenas durante o tempo que dispõem para conversar ao telefone. A impossibilidade de se saberem corpos em que se reconheçam uma na outra e que envelhecem ao longo do tempo é repetida na narrativa como um longo lamento de Solange: “não conheço o teu corpo, Filomena. Não conheço o meu corpo”, repetido em “não conheço o teu corpo. não conheço o meu corpo” e em “não conheço o meu corpo porque não conheço o teu”, e reformulado ainda de variadas formas que repetem a imagem de uma existência sem corpo físico, “com o passar dos anos, o telefonema deixou de ser um acontecimento e, uma para a outra, deixámos de ser pessoas” ou “já não eram Solange e Filomena, mas dois fantasmas”; e até de uma variação do corpo mutilado ao qual se ligou o telefone, “uma extensão da pele”, qual corpo ciborgue diaspórico, “e nós, com ele, auscultadores de carne, humanidade telefónica, máquinas de coração na boca, bonecos num caderno em breve antigo” (Almeida, 2020, pp. 9, 14, 19, 49, 78, 24, 25).
Da literatura às artes portuguesas, o corpo humano tem constituído o centro visual da experiência do trauma da guerra, da perda e mesmo da nostalgia do fim do império colonial. Quer em Jaz Morto e Arrefece o Menino de Sua Mãe, de Clara Menéres (1973), quer nos vários romances de António Lobo Antunes e de Lídia Jorge ao mais recente O Retorno (2012) de Dulce Maria Cardoso, os corpos cadáveres, mutilados ou traumatizados dos combatentes, os corpos que se choram e os corpos dos retornados que chegam sem proteção, “apenas com a roupa do corpo”, consubstanciam o trauma individual e coletivo da perda. Contudo, a geração dos jovens afrodescendentes que cresceram no tempo das independências e fora dos países em que nasceram não pertence ao tempo da geração desses corpos que se choram. Esse tempo é o dos seus pais, embora ainda ecoe nas memórias que perduram na geração seguinte, surgindo em forma de pós-memória, conceito neste artigo utilizado na aceção que Marianne Hirsch (2012) lhe deu em The Generation of Postmemory (A Geração da Pós-Memória), ou seja, a relação que a geração herdeira estabelece com o trauma da geração que o experienciou de facto, através de histórias, imagens e comportamentos com os quais cresceram (p. 5). O sofrimento causado pela diáspora é o prolongamento do sofrimento causado pelo colonialismo e pela guerra porque é uma outra luta e um outro trauma que se reconfigura como a ausência física dos corpos em contacto. A pós-memória da luta pela libertação surge, pela voz de Solange, sob a forma de discretas metáforas que convocam a memória da saudade do corpo ausente em guerra, da luta corpo a corpo e do corpo mutilado para, numa perspetiva de (des)continuidade histórica, explorar uma continuidade na experiência de violência sobre os corpos africanos, sendo, neste caso, a da ausência do corpo diaspórico e da luta empreendida para lidar com a saudade e sofrimento causados por essa não-presença: “és o meu amigo e eu a tua madrinha de guerra, ansiosa por te rever, por te cheirar, por te tocar, por te puxar o cabelo” e “as cabines ainda intactas lembram tatus futuristas ou, recuando no tempo, o exército na iminência do massacre, escudo contra escudo, elmo contra elmo, tenso beligerante, mas inofensivo como no interior de um cristal” (Almeida, 2020, pp. 13, 9). A pós-memória de um facto enquadrado historicamente é manifestada como sensibilidade diferente que, embora tendo como referência o trauma da violência contra o corpo negro africano historicamente assinalado, expressa uma continuidade na violência contra o corpo negro afrodescendente. Retomando as palavras de Mignolo (2017) supramencionadas, a gramática é a mesma, mas a memória e a sensibilidade de mundo da nova geração são diferentes.
Em As Telefones, resgata-se a centralidade visual do corpo traumatizado que se ressignifica na centralidade visual da ausência do corpo saudoso, um corpo em que o sujeito reconheça as suas referências histórico-familiares; uma ausência que acompanha a evolução histórica do telefone com fio para o telemóvel e uma história de saudade pela separação em que o desaparecimento do fio do telefone leva consigo “a noção de que existia uma ligação entre conversadores” (Almeida, 2020, p. 31). Na ausência da visualização do corpo físico assenta a importância da sensibilidade enquanto forma de sentir o mundo, que se constitui em forma literária e artística decolonial face à hegemonia da visão nas formas literárias e artísticas geradas pela experiência colonial. Ao tratar a diáspora nos termos da experiência da saudade em torno do corpo ausente, a narrativa As Telefones resgata a representação desta experiência, explorando-a à luz da experiência da diáspora africana e da afrodescendência portuguesa que é também uma experiência de trauma e aproxima-a à da representação literária da emigração e da diáspora portuguesa, da saudade dos corpos ausentes, dos cheiros e sons que marcam a saudade dessa ausência, muito presente na literatura portuguesa publicada depois do 25 de Abril de 1974, como A Floresta em Bremerhaven (1975), de Olga Gonçalves, ou Gente Feliz Com Lágrimas (1988), de João de Melo. Por outras palavras, reconfigura a experiência da orfandade psicológica e emocional do afrodescendente a partir dos termos explorados no âmbito de uma temática que é particularmente cara para a cultura e literatura portuguesas: a da saudade e da emigração, na qual a questão de identidades hifenizadas, expressão que utilizo com o sentido definido por P. Ferreira (2021, p. 230), igualmente se coloca. Em As Telefones, todavia, a palavra saudade nunca é explicitada, mas o sentimento de nostalgia do corpo ausente é plenamente explorado.
Ao centrar a experiência da saudade na ausência da figura da mãe que ficou em Angola, a narrativa de Almeida é igualmente herdeira pós-colonial da sacralização da figura da mãe que moldou os primórdios da literatura angolana, nomeadamente a partir do movimento cultural Vamos Descobrir Angola, em 1948, e presente na poesia de Agostinho Neto, Viriato da Cruz e Alda Lara, através da evocação à mãe-África. Ao crescer em Lisboa, Solange é a combinação de características europeias e africanas, a figura que Almeida chama de “rapariga africana em Lisboa”: apesar de a pronúncia ser “toda de Lisboa”, os seus traços fisionómicos são inequivocamente angolanos, como Filomena salienta, “não tens nada o meu nariz, pareces um Agostinhozinho Neto” (Almeida, 2020, pp. 30, 65). Embora Solange seja uma mulher casada, tenha filhos, viva na periferia com dificuldades económicas e trabalhe num escritório (a narrativa nunca identifica a sua ocupação), a história desta mulher negra é enunciada apenas por breves referências que nos são dadas espaçadamente e claramente desvalorizadas face à centralidade da circunstância da mãe fisicamente ausente. Esta é uma história de saudade que coloca Solange em pé de igualdade com a experiência do emigrado branco português. Enquanto em Esse Cabelo (Almeida, 2015), a reflexão sobre a identidade pós-colonial de Mila se desenrola sinedoquicamente, a partir de uma parte do seu corpo, o seu cabelo crespo, em As Telefones, a impossibilidade que Solange sente em reconhecer as várias partes do seu corpo em função das semelhanças que poderia observar no corpo da mãe exacerba-se através do sentimento de saudade da mãe, numa história semelhante a tantos outros corpos afrodescendentes. Esta impossibilidade é uma verdade comparada a “uma história sem princípio” que é uma história (des)contínua de diversas formas de violência perpetradas sobre os corpos negros (Almeida, 2020, p. 19). A relação maternal e os laços umbilicais que unem filha e mãe não são explorados em função de um desejo de regresso a Angola e de um regresso que poderia colocar em planos de significação paralelos o regresso à mãe-África como um regresso para junto da sua mãe biológica; Solange não se sente em casa em Luanda, apesar dos laços afetivos que a unem a Filomena. Tal como Mila e Aquiles, Solange pertence às “gerações de alienados” (Almeida, 2015, p. 16), forçados a conciliar a sua identidade hifenizada1. Esta identidade é literariamente explorada através da experiência do estranhamento quando o regresso esporádico à terra de origem lhe mostra o que é “ser esmagado pela vida” e lhe revela que “parece-se menos com voltar a casa” (Almeida, 2020, p. 56)2. Assim se constitui a experiência da afrodescendência portuguesa: a da consciência de que o desejo de regresso à figura da mãe será sempre somente a formulação de um desejo de regresso espiritual à ancestralidade que, em As Telefones, está contido no verso de cântico negro espiritual, escrito em lingala e em português, “Bobele Yo, Bobele Yo, somente tu, somente tu”, repetido ao longo da narrativa e que assinala o seu fim, e a de saber que é a soma de pertença portuguesa e angolana que define a existência de Solange: “enquanto, noutro fuso horário, entro no escritório grata e abençoada por a ter na minha vida e por sermos, enfim, parecidas: pretas, gordas e perfeitas” (Almeida, 2020, p. 90).
É de salientar que As Telefone visibiliza a incompletude ao não imprimir vários números de página, apesar de ser uma narrativa efetivamente paginada3. O leitor percebe que as folhas estão paginadas e em sequência do nove ao 90, mas, em muitas páginas, esta numeração não se encontra visível, sendo, por isso, obrigado a empreender um exercício que se assemelha ao de Solange em relação à sua própria história, qual “migalhas sobre a mesa, esfareladas pela mão da memória: a nossa história” (Almeida, 2020, p. 43), para tornar visível, corpóreo até, a sequencialidade de uma narrativa que tem cortes, figurando apenas fantasmaticamente. A reconstrução da sequência de páginas constitui-se em metáfora da reconstrução dos elos ausentes e perdidos no processo de (des)pertença identitária num projeto decolonial fundado na sensibilidade do corpo diaspórico.
Filomena é a figura que se desenvolve a partir da figura do assimilado do império colonial português, embora bastante menos explorada nesse sentido do que a personagem Cartola em Luanda, Lisboa, Paraíso (Almeida, 2018). Na infância, ela é a negra assimilada que cresce a emular os gostos dos colonizadores:
os nossos vizinhos brancos naquele tempo só comiam bolo inglês. Bolo inglês e limonada de café. De modo que a tua mãe, assim pequenina como eu era, não pensava em mais nada a não ser em comer bolo inglês com limonada. Brincava sozinha o dia inteiro com as minhas bonecas, bolo inglês para aqui, limonada para ali, golinho para aqui, golinho para ali. (Almeida, 2020, p. 44)
Depois da independência angolana e na idade adulta, Filomena continua a admirar o que existe em Portugal: “apetecia-me um galão, é galão, né? Não há café como o café português, e esta hein?” (Almeida, 2020, p. 74). Orgulhosa da sua própria mãe “negra muito bonita, clarinha” (Almeida, 2020, p. 85) e considerando que o melhor que pode desejar para a sua filha é que esta não privilegie as suas raízes africanas, Filomena mostra que a desvalorização destas raízes, cultivada durante o período colonial português, tem persistências no presente pós-colonial angolano:
menina, vai dormir agora, mas fixa bem estas palavras, genro meu não é preto, não admito cá nenhum desses matumbos que andam por aí e nem sabem o que é uma auto-estrada, não é auto-estrada que se diz por aí?, não é escada rolante, é auto-estrada, era só o que me faltava. (Almeida, 2020, p. 39)
Filomena não é Cartola porque não vive na periferia de Lisboa e continuou a viver em Luanda. E também não está próxima de Glória, mulher de Cartola, que adormece de “nariz colado à carta perfumada” do marido (Almeida, 2018, p. 211), impossibilitada de sair de Luanda e presa às lembranças do passado e desejos de um futuro em Lisboa com o marido que nunca se realizou. Ao contrário de Glória, Filomena visita, em excursão, as cataratas do Niágara e segue as notícias sobre Barack e Michelle Obama. É uma personagem, herdeira dos efeitos culturais do colonialismo português. Embora seja orgulhosa da independência do seu país (“nunca esqueceremos os heróis de 4 de Fevereiro”; Almeida, 2020, p. 65), e tivesse alcançado algum desafogo económico, continuou a ver em Portugal e no ocidente modelos de desenvolvimento, amargurando-se por constatar que a casa e a vida de Solange estão longe do patamar de conforto que desejou para a filha quando a enviou para Lisboa décadas antes. Profundamente crente, Filomena é fiel das igrejas evangélicas que conheceram uma expansão em Angola sobretudo a partir da transição para o multipartidarismo e economia de mercado, com especial incidência nos movimentos evangélicos influenciados pelos rituais religiosos de ancestralidade africana. Filomena participa no culto do terreiro da Mamã Claudette, ficando também em transe num barracão durante o culto evangélico que combina cânticos religiosos com salvas de palmas e som de batuques. Em Lisboa, nas poucas vezes que visita Solange, Filomena não reconhece na capital a metrópole colonial branca que, de facto, nunca foi e vê-a como uma cidade no mapa dos angolanos em trânsito que prosperam à custa da economia capitalista angolana que se configura como um projeto neocolonial, centrado nos ganhos à custa dos mercados de extração que perpetuam as desigualdades sociais geradas nos tempos coloniais:
Lisboa está bonita, sim, senhora, parabéns. Quer dizer, evoluiu, já não está assim aquela cidade velha, bem bonita, olha lá: ( ... ) Torre de Belém, Rossio, ainda não me levaste a comer um prego ... Ah, pois é, menina, olha que eu não me esqueço do meu prego. Estes angolanos que vêm aqui a Lisboa só querem pregos, são finos, pregos e aquilo, como é que é aquilo...? Espetadas! Eu hoje vou beber um vinhozinho tinto, ah, pois vou... Estou a brincar, a tua mãe não bebe. (... ) Tantos pretos na rua, aqui há muitos africanos, eh pá, mas isto evoluiu... Sim, senhora, eu já não conheço mesmo nada de Lisboa. (Almeida, 2020, p. 83)4
É ela, “mãe contumaz, mãe alcatraz”, que ajuda a filha, nas poucas vezes que vem a Lisboa, partindo para Angola com “uma mala leve, porque me ofereceu a sua roupa” (Almeida, 2020, p. 90), num gesto de proteção que se constitui metaforicamente no porto seguro da maternidade e da ancestralidade.
2. Pós-Memória e Herança de Ouvido na Ficção Pós-Colonial Portuguesa
A representação da escrita, nas suas variadas formas (diários, cartas, entre outros), tem constituído o recurso narrativo de eleição na literatura portuguesa - e na literatura ocidental - como forma de passagem de testemunho da memória. O conceito de pós-memória de Hirsch (2012) realça a componente material da transmissão, embora não excludente de outras formas de transmissão, quando é definido como uma “ligação viva material que é poderosamente mediada por tecnologias, tais como a literatura, a fotografia e o testemunho” (p. 33). Se na literatura ocidental, podemos destacar Carta ao Pai (1919) de Franz Kafka, não faltam exemplos notáveis na literatura portuguesa que incluem Novas Cartas Portuguesas (1972), de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, Caderno de Memórias Coloniais (2009) de Isabela Figueiredo e, no cinema, Cartas de Guerra (2016) de Ivo M. Ferreira.
No que concerne a literatura pós-colonial portuguesa, é através da escrita que os filhos do império lidam com o legado das memórias dos progenitores - e, muito particularmente, com o legado das memórias dos seus pais, ex-combatentes - durante o período colonial. Margarida Calafate Ribeiro e António Pinto Ribeiro (2018) estabelecem que esta é a particularidade comum que se encontra subjacente à ficção dos herdeiros da Guerra Colonial: um diálogo com a figura do pai sobre a perda que se torna frequentemente num diálogo sobre a figura da pátria (p. 294). Em As Telefones, a figura do pai está totalmente ausente; é uma narrativa que constrói, antes de mais, a figura de uma mátria a partir da figura da mãe, Filomena. Contudo, sendo uma busca de referências ancestrais que tornam o corpo de Solange um corpo com uma história de vivências complexas, este percurso é feito em diálogo com uma mãe viva, mulher do seu tempo: que sabe que “morreu a Aretha”; que se interessa pelo quotidiano da filha, as suas amizades, as suas tristezas e alegrias: “e a Rita, aquela tua amiga, ainda te anda a chatear, é muita inveja, filha, já são amigas de novo?”; e que conta episódios do seu próprio quotidiano e as pequenas histórias do seu círculo de amizades em Luanda: “a Catila? Menina, coitada da minha amiga Catila, filha. Não é que o Zé, aquele Zé mesmo que andava contigo ao colo, quando eras pequena, então o Zé engravida a Catila ( ... ) o lúmpen desaparece, se escafedeu, sócia” (Almeida, 2020, pp. 38, 13, 39). Filomena é uma contadora de histórias, transmissora da sua própria religiosidade e da esperança no futuro mais risonho, redesenhado a partir de um enquadramento colonial: “um dia ainda vamos ter férias de cruzeiros, filha, vais ver. ( ... )beber champanhe, o mambo todo, nós duas pretas finas e uns criados de lacinho a encherem-nos as taças. A Mamã acredita, filha. Deus é fiel” e a quem Solange pede: “ensina-me a orar, Filomena”; e que ensina a receita de shebujen: “frita-se o peixe, cachucho, só cortado às postas, temperado com sal ou alho se tiveres, depois pões numa panela onde já fizeste um refogado de tomate bem puxadinho com tomate bem desfeito, bem pisadinho, acrescentas água” (Almeida, 2020, pp. 26, 82, 85).
A oralidade, cerne da tradição das sociedades africanas, assenta a sua importância na figura do griô. É o griô que, nas sociedades tradicionais na África ocidental, preserva e transmite a música, os mitos e a história do seu povo; educa, informa e entretém, sendo um guardião das referências da ancestralidade africana. A representação da personagem Filomena assume, na vida de Solange, em muitos aspetos, a representação da função do griô africano. Se, por um lado, podemos ver em Filomena a representação do papel de mãe, da passagem de testemunho das suas memórias e conhecimentos para a filha, não podemos deixar de ver também nesta passagem de testemunho a garantia de preservação de uma memória da vivência angolana que, de outra forma, não poderia ser resgatada para a vida de Solange, para o conhecimento das suas raízes, parte fundamental da sua existência enquanto afrodescendente a crescer e a ser educada em Lisboa. Os ensinamentos e as memórias de Filomena são o encontro com a cultura angolana que Solange necessita ter em si para colmatar, ou suavizar, os seus sentimentos de (des)pertença e saudade. Por outro lado, a passagem de testemunho entre os que partem e os que ficam acompanha a história global do telefone e da conversa telefónica, que segue a complexidade das vivências contemporâneas de que as diásporas fazem também parte:
língua das despedidas e das omissões, das saudades, das distracções, de novidades funestas e de alegrias fugazes, a da possibilidade de tomar o outro pelo seu ouvido e, hoje, a de essa conversa ser escutada pelo grande ouvido que ouve todas as conversas, a prece involuntária, o ranger de dentes, que são as vozes de todos nós, à escuta, falando, marcando encontros, adiando almoços, desconversando, contando da saúde, da morte, da vida, de crimes, de nascimentos, curas, internamentos, acidentes, tristezas, coisas de nada, buscando consolo ao ouvido uns dos outros. (Almeida, 2020, p. 25)
Em 2017, foi publicado em Portugal, Djidiu: A Herança do Ouvido, uma antologia de autores e poetas afrodescendentes constituída a partir do projeto Djidiu, da Afrolis -Associação Cultural. Djidiu é um projeto que juntou vários afrodescendentes que se reuniram mensalmente em Lisboa para uma troca de experiências, enquanto “negro no mundo e, em particular, em Portugal” (Carvalho et al., 2017, p. 13). Esta antologia “inscreve-se numa herança de resistência cultural e política negra através da produção literária coletiva”, conforme sublinha a socióloga Cristina Roldão, no seu prefácio a esta antologia (Carvalho et al, 2017, p. 11). Djidiu é a palavra mandinga equivalente a griô. A narrativa As Telefones inscreve-se neste movimento literário mais lato de resgate da experiência negra e afrodescendente no Portugal pós-colonial, que esteve sempre presente na literatura produzida em Portugal durante o período colonial - como é o caso, da revista Claridade, da década de 30 e da Antologia de Poesia Negra de Expressão Portuguesa (1958) -, embora sendo um movimento invisibilizado pelos mecanismos de consagração literária portuguesa. Como movimento de resistência de resgate da experiência negra, é um discurso literário que se constituiu a partir da margem e que a que antologia Djidiu confere visibilidade ao publicar-se na esteira desse movimento, como representação poético-literária da experiência afrodescendente, centrando-o no registo de vivências. A narrativa As Telefones leva este discurso de resistência um pouco mais adiante ao trabalhá-lo e integrá-lo no âmbito dos temas amplamente reconhecidos como pertencentes à tradição da literatura portuguesa consagrada e da experiência portuguesa branca, deslocando a experiência negra e afrodescendente para o centro desta discussão, através do tema da saudade do corpo ausente. Concluindo o argumento que orientou a presente secção, enquanto a escrita, consagrada na experiência eurocêntrica, coloca o centro visual no que se viu e testemunhou, a representação de Filomena em consonância com a figura do griô africano descentraliza este centro visual para o da memória da vivência, descolonizando-a dos princípios da legitimidade e da autoridade construídas a partir da gramática fornecida pela epistemologia dita ocidental e europeia, ao mesmo tempo que complexifica a densidade de Solange enquanto corpo de mundo-fronteira. Enquanto sujeito dotado de “sensibilidade do mundo”, Solange é construída a partir de ferramentas discursivas que dizem respeito a uma temática que é cara à literatura portuguesa, mas que não se pode definir nos mesmos termos usados pela gramática que a sustenta (Mignolo, 2017, p. 20). É também por isso mesmo que afirmei que a saudade constitui a temática que, embora explorada em As Telefones, não o é enunciada por esse termo porque este se refere diretamente à epistemologia própria de um mundo anterior à criação da sensibilidade própria de um espaço-fronteira novo.
3. Considerações Finais: Ficção Pós-colonial e Reparação Histórica
No ensaio supramencionado, Paulo de Medeiros (2020) defende que, em romances como Luanda, Lisboa, Paraíso, o retorno a Portugal deve ser lido à luz da experiência de ambos os lados da experiência colonial:
assim, para ler adequadamente esses romances, é preciso ter em mente que a noção de retorno, mesmo quando falsa ou impossível, atravessa a experiência de muitas pessoas de ambos os lados da linha de divisão colonial. ( ... ) E, como tal, também participam plenamente de outra tradição, que, apesar de exigir uma abordagem muito mais crítica, não é nova, está relacionada com o trabalho dos afro-europeus e com a visão das relações emaranhadas, históricas, culturais, políticas e pessoais que são o timbre de tal condição. (p. 147)
A ficção portuguesa pós-colonial de autoria afrodescendente traz para o centro da discussão o emaranhado cultural que o colonialismo produziu e que constitui o cerne da experiência afrodescendente dos herdeiros da geração que viveu o império colonial e das descolonizações e que, no âmbito da sua memória coletiva, tem estado ausente da discussão no espaço público5. Por outro lado, e sob o ponto de vista histórico-literário, a escrita negra esteve presente no espaço público português desde os tempos coloniais, atuando enquanto movimento de resistência a partir das margens da consagração da literatura portuguesa e orientada para a experiência da alteridade no seio da sociedade colonial portuguesa. Desenvolvendo uma narrativa de génese africana (angolana, cabo-verdiana, etc.), tornou-se fundamental para a formação das nações africanas de expressão portuguesa. Em tempos pós-coloniais, a escrita portuguesa afrodescendente vem desestabilizar esta separação de águas, refletindo novas topografias literárias a partir das quais o imaginário português pós-colonial assenta, refletindo a complexidade da experiência da diáspora afrodescendente, e que tanto abarca a herança literária portuguesa como a herança literária de génese africana. Em termos narrativos, salienta-se que a narrativa se organiza em torno de uma divisão praticamente igual entre os monólogos de Solange e Filomena, refletindo as vivências da filha na diáspora e da mãe em Angola. Numa entrevista a Isabel Lucas (2018), e por ocasião do lançamento de Luanda, Lisboa, Paraiso, Almeida defende que “todos possamos participar numa conversa, que é uma conversa muito antiga, a que se chama literatura portuguesa” (para. 6) e destaca as suas influências literárias enquanto escritora que formou a sua leitura em Portugal, incluindo nelas Sá de Miranda, Raul Brandão e Herberto Helder, entre outros. As várias narrativas de Almeida - e em particular As Telefones, centro de discussão neste artigo - refletem o legado literário português, tal como reflete a ancestralidade africana e a herança de autores fundamentais para a literatura angolana, tais com o José Luandino Vieira; uma complexificação que não se inicia com Almeida e que tem incluído o trabalho de outros autores africanos de expressão portuguesa, como o do também luso-angolano José Eduardo Agualusa (1997) em Nação Crioula: Correspondência Secreta de Fradique Mendes que explora processos narrativos a partir da obra de Eça de Queiroz.
Num balanço da literatura portuguesa publicada depois de 1974, Eduardo Lourenço (1984) afirmou que as gerações literárias das décadas de 50 e 60 que produziram depois de 1974 viram sempre a revolução com os “olhos do passado” porque, de facto, ao contrário de autores como Lídia Jorge ou Eduarda Dionísio, não foram a “geração literária da revolução” (pp. 13-14). Da mesma forma, podemos afirmar que a geração literária da diáspora afrodescendente e africana corresponde àquela nascida depois das independências e criada num mundo de várias confluências literárias; a geração nascida antes das independências olhará sempre para as vivências da diáspora com semelhantes “olhos do passado” colonial. O reconhecimento desta escrita pós-colonial de autoria afrodescendente que trabalha tanto com o legado literário português como africano de expressão portuguesa (angolano, cabo-verdiano, etc.), refletindo a complexidade das vivências diaspóricas afrodescendentes, poderá contribuir para um projeto literário decolonial, que se assuma, sobretudo, como reparação histórica que passa necessariamente por desestabilizar cartografias literárias, reinventá-las, criando espaços de trânsito de expressão das sensibilidades de mundos-fronteira - que representam, efetivamente, as sensibilidades dos corpos pertencentes ao espaço lato da diáspora - e contribuindo para uma discussão sobre a memória coletiva verdadeiramente polifónica no espaço público português.

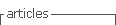









 text in
text in 



