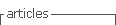Pois então cá vou à vida, que me faltam as louças, ajuntamente com as roupas e não posso ter mais folgas se quero acabar hoje. Pois então com a sua licença, minha senhora, com a sua licença...
Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, Novas Cartas Portuguesas (2019 [1972], 164)
Agachada ao chão catando pequenas migalhas de pão que caíam enquanto almoçavam ou jantavam com a minha presença, à espera que eles acabassem, como se fosse uma estátua apodrecida, sem vida, no meio da sala.
Claúdia Canto, Morte às vassouras (2022, 13)
Introdução
Uma discussão comprometida sobre modelos de integração para as sociedades europeias, pluriculturais e diversas por natureza, só poderá ser bem-sucedida se formos capazes de enfrentar o imaginário sobre o qual assentam as políticas públicas, particularmente, no que respeita à integração dos sujeitos não-nacionais imigrantes. Entre eles, destacam-se as mulheres, habitualmente subordinadas a relações de sujeição que ampliam a sua experiência de subalternidade criada a partir da estruturação patriarcal das sociedades europeias capitalistas.
O presente artigo discute a representação literária da subalterna imigrante no conto “Eu empresto-te a Mariá” (2020), de Luísa Semedo, e na narrativa Um Fado Atlântico (2022), de Manuella Bezerra de Melo, protagonizados por duas empregadas imigrantes, sendo a primeira uma portuguesa imigrada em França, a trabalhar como empregada doméstica interna, e a segunda uma brasileira, imigrada no norte de Portugal, a trabalhar como empregada de mesa numa tasca. Une estas narrativas o facto de ambas as suas autoras serem também imigrantes em diferentes países europeus: enquanto Luísa Semedo, nascida em Lisboa, se encontra a viver e a trabalhar em França há vários anos, Manuella Bezerra de Melo, natural do Recife, vive no norte de Portugal, desde 2017. Argumenta-se, neste artigo, numa leitura interseccional, decolonial e anticapitalista, que estas narrativas questionam o pensamento classista e patriarcal subjacente ao poder neocolonial, nas sociedades europeias capitalistas, sobre o Outro que é, no caso, a mulher imigrante, sujeito subalterno em sociedades estruturalmente patriarcais. A representação humanizada das vivências de mulheres imigrantes desconstrói o mito pós-colonial capitalista sobre integração. Constituem representações de resistência em narrativas de literatura-mundial. Ao dar densidade psicológica a estas protagonistas, através do uso da primeira pessoa, resgata-se, em última análise, a possibilidade de configurar vozes de mulheres (e)(i)migrantes, invisibilizadas na mistificação da figura do (e)(i)migrante; como defende o historiador Victor Pereira (2015, 23), “[f]ala-se dos emigrantes, fala-se por eles”, mas sobre as mulheres (e)(i)migrantes sós raramente se fala. Silenciadas na memória coletiva estruturalmente patriarcal, estas narrativas colocam em perspetiva o labirinto interminável de vulnerabilidades inerentes à experiência da subalternidade em que as sociedades europeias pós-coloniais capitalistas encurralam as que nelas são obrigadas a ocupar o lugar do Outro.
1. As (e)(i)migrantes invisíveis no sistema-mundo em tempos pós-coloniais
A emigração é um fenómeno que a pobreza e a desigualdade social em Portugal tornaram não só inevitável, mas também num trunfo complexo usado nas estratégias políticas para reafirmar a presença do país no mundo no discurso público desde o período do Estado Novo. Paralelamente, os fluxos migratórios internos para os centros urbanos, significativo durante aquele período, constituíram importantes fontes de mão-de-obra feminina barata para o trabalho doméstico. As empregadas domésticas tornaram-se a força laboral para sustentar o estatuto social da classe média alta numa sociedade capitalista patriarcal que destinava às mulheres o trabalho e espaço domésticos. Libertavam-se, deste modo, as mulheres de classe mais elevada destas tarefas mais exigentes e menos qualificadas, cabendo-lhes o seu supervisionamento para a manutenção do conforto dos lares. Por outro lado, a imigração em Portugal, fenómeno massivo mais recente, nomeadamente a não proveniente das antigas colónias africanas, tem sido aproveitada para reforçar o discurso político nacional sobre a capacidade de integração e multiculturalidade como características intrínsecas da sociedade portuguesa contemporânea. No entanto, as mulheres imigrantes continuam a substituir frequentemente a mão-de-obra barata que tem faltado para o trabalho subalterno a partir do momento em que a generalidade das mulheres nacionais está mais bem qualificada e apta a concorrer ao mercado de trabalho capitalista neoliberal, em condições exigentes.
No que à emigração portuguesa diz respeito, ela foi gerida durante o período do Estado Novo pelos diferentes responsáveis governamentais, um conjunto de forças heterogéneas que “concorriam entre si para imporem as suas visões do mundo, tornando difíceis, para o Estado, a sua coordenação e direção” (Pereira 2017, 15). Decisões governamentais sobre política económica, no âmbito de um projeto ideológico imperial e capitalista, privilegiavam o povoamento português para as colónias africanas. A emigração para o estrangeiro era deplorada porque era um fator de despovoamento nacional, colonial e imperial, uma perspetiva aliada a uma visão elitista e conservadora que infantilizava o povo-plebe, “irracional, influenciável, manipulável e perigoso” (Pereira 2010, 143). Em última análise, as restrições à emigração serviam para “proteger o povo de si próprio” (Pereira 2010, 143). Tendo, no entanto, os números da emigração portuguesa aumentado massivamente durante a década de 1960, o discurso oficial adaptou-se para garantir a legitimidade do regime face à crescente contestação interna, nomeadamente a partir das eleições de 1958 e dos movimentos de libertação africana; assim, espalhava-se internamente, e numa lógica capitalista, que os portugueses poderiam contribuir para a reindustrialização europeia, tendo o discurso oficial por base a convicção, como defende Pereira (2010, 147), que “uma menor emigração resultaria dos sucessos internos do governo, ao passo que uma maior emigração seria o produto da conjuntura externa”.
Fazendo um salto no tempo para considerar a crise socioeconómica que assolou Portugal e a Europa na viragem da primeira para a segunda décadas do século XXI, e que justificou o aumento do fluxo emigratório de Portugal, bem como os movimentos sociais de protesto de então, observa-se que desemprego e precariedade fazem parte do tempo longo do capitalismo “que afeta as suas formas de produção, de troca e o seu modo de regulação” (Soeiro 2014, 62). Por isso, mais do que “resquícios do passado”, a emigração é a manifestação dos problemas que fazem parte do “fator estrutural e estruturante das relações económicas e sociais” não só em Portugal como também na restante Europa (Soeiro 2014, 63). Adiante-se que as consequências destas políticas foram particularmente penosas para as mulheres durante esta crise, já sujeitas às desigualdades laborais (OIT 2013, 11).
As motivações e os enquadramentos socioeconómicos que caracterizam os fluxos emigratórios foram sempre diversos, apesar de as representações deles decorrentes estarem homogeneizadas no espaço público. “Comunidades portuguesas”, ao invés de “povo”, designação para os que se encontram no país, “geração mais qualificada de sempre” ou “fuga de cérebros” são expressões que dizem mais sobre o enquadramento capitalista neoliberal, servindo pouco para caracterizar fluxos que são sempre heterogéneos.1 Assim, a expressão lusocêntrica “comunidades portuguesas”, comummente usada desde a década de 1950, que coloca em relevo o Estado-Nação, oculta, por exemplo, o facto de o sentimento de pertença de muitos/as emigrantes ser, com o decorrer dos anos, menos intenso com o país do que com as terras de origem, devido às políticas de integração dos países de acolhimento os/as socializarem e aos/às seus /suas descendentes no âmbito das suas dinâmicas sociais e culturais (Pereira 2015, 29). Não obstante o aumento gradual da percentagem de emigrantes que têm ensino superior, a maioria continua a ser pouco qualificada (Pires et al. 2020, 23; Pereira 2015, 32); deste modo, a ênfase pública colocada na saída de jovens qualificados/as expõe menos a realidade social do que a incapacidade das políticas económicas neoliberais para encontrarem soluções para a desigualdade e a precariedade geradas no sistema-mundo.2 No entanto, a representação dos/as emigrantes no espaço público português continua a privilegiar o seu empreendedorismo, êxito e integração, patente, por exemplo, no programa televisivo Portugueses no Mundo, atualmente com mais de 2400 episódios transmitidos, ou no programa radiofónico Apanhados na Rede, com mais de 130 episódios gravados.3 Raramente se entrevistam emigrantes portugueses/as que têm claras posições de subalternidade, tais como empregados/as de limpeza ou porteiros/as.4 Se, durante o Estado Novo, os/as representantes dos/as emigrantes eram “escolhidos criteriosamente” para falar no espaço público, devendo ser “politicamente de confiança e ter uma condição social suficientemente alta para dar uma ‘boa imagem’ dos portugueses no estrangeiro”, certo é que esta estratégia não mudou significativamente, não sendo colocadas em questão as desigualdades inultrapassáveis do sistema-mundo (Pereira 2015, 24-25); antes como agora, as representações dos/as emigrantes no espaço público continuam a ser como “marionetas manipuladas pelo capitalismo” (Pereira 2010, 144). Acresce que a lógica capitalista subjacente à construção da imagem do interlocutor emigrante é em tudo semelhante à lógica colonial que, conforme salienta Gayatri C. Spivak (1994, 79-80), confere apenas o direito de falar às/aos representantes das elites subalternas, deturpando relações de poder específicas no terreno que não são passíveis de ser simplificadas. Se um camponês abastado não representa o subalterno colonial, um emigrante bem-sucedido também não simboliza o/a emigrante português/esa.
Desta abordagem, ressalta um traço que perdura no imaginário português: o homem, pai de família, como a figura estereotipada do/a emigrante que homogeneíza enquadramentos e motivações diversas para a saída dos milhares de mulheres e homens portugueses do país ao longo de décadas. A emigração não foi nem é apenas protagonizada por homens, sós ou com família. Desde meados da década de 1960, muitas mulheres têm emigrado sozinhas (Pereira 2010, 148). Ademais, na atualidade, a distribuição da população emigrada por sexos continua a ser bastante equilibrada, constituindo os homens 51% de acordo com os censos de 2000/2001 e 2010/2011 (Pires et al. 2020, 22). Contudo, as homenagens municipais que se erigiram à emigração, depois de 1974, representa-a simbolicamente através de figuras patriarcais: homens sozinhos ou à frente da família, orientando-a.5 Justificadamente e como defende Pereira (2010, 150; 2015, 26), o emigrante tem substituído, no espaço público, a importância do homem explorador e “descobridor” do passado, prolongando a narrativa memorialística de glorificação dos portugueses espalhados no mundo. Das mulheres não reza a história dos portugueses no mundo patriarcal.
Durante o seu discurso por ocasião das cerimónias oficiais do 25 de abril em 2022, o Presidente da Assembleia da República falou da importância da (e)(i)migração para um país como Portugal, capaz de fazer e atravessar pontes e de construir uma democracia pluralista e integradora. Muito embora seja este o caminho para acolher devidamente os/as imigrantes, o discurso surge na sequência do ressurgimento de movimentos xenófobos no país, e também na Europa, com um lastro de abuso que configura frequentemente uma forma de poder neocolonial sobre quem entra no país, entendido no sentido lato. A história das sociedades capitalistas fez-se com mão-de-obra barata migrante: se, de início, esta era de origem colonial, as medidas adotadas depois da descolonização reforçaram a exclusão social de quem é percecionado/a como imigrante (Jerónimo e Monteiro 2020, 42). Nesta história de alteridades, cabe quem é filho/a da descolonização, não lhe sendo reconhecida cidadania, e também o/a imigrante pobre. Particularmente vulneráveis nesta situação, encontram-se as mulheres imigrantes, muitas vezes indocumentadas, a desempenhar funções subalternas.6 Convergem, neste caso, variadas manifestações de abuso (sexual, social, etc.) assentes em relações de sujeição, prolongando no tempo a história de poder sobre o Outro, vulnerável à submissão que estrutura a hierarquia social. Convém destacar que os tempos pós-coloniais mostram que o colonialismo faz parte da história do capitalismo que sobreveio ao seu fim. Se tomarmos como exemplo as vagas de imigrantes portugueses no passado, a ansiedade xenófoba em relação a estes em França era somente menor do que em relação aos imigrantes argelinos porque, conforme ressalva a historiadora Elizabeth Buettner (citada por Jerónimo e Monteiro 2020, 44), aqueles “eram tidos como sendo facilmente assimiláveis, porquanto também eram europeus e cristãos”.
No que concerne ao trabalho doméstico, a chegada das mulheres imigrantes, que aceitam trabalhar mais horas por valores reduzidos, foi fator de mudança no mercado da procura do trabalho doméstico (Ramos 2013, 12). Esta posição envolve uma “enorme heterogeneidade, precariedade, desprestígio e forte condição servil, sendo realizada por mulheres imigrantes com baixas qualificações e também por mulheres autóctones em situação de reforma ou desemprego”, de acordo com um estudo sobre imigração e trabalho doméstico em Portugal (Ramos 2013, 46). De acordo com os Censos de 2011, as profissões dos/as imigrantes em Portugal estavam ligadas, por ordem de grandeza, à construção civil, à hotelaria e restauração e ao trabalho doméstico (Ramos 2013, 21). Contudo, fosse esta caracterização estendida a outros países europeus, as alterações não seriam significativas.
O trabalho doméstico está associado à experiência da subalternidade. Pode agravar-se com outros fatores de vulnerabilidade social, tais como fracas qualificações e a (perceção de) não-cidadania, não necessariamente combinados, mas sempre enquadrado em “relações de submissão” (Baptista 2011, 44). Por outro lado, radica na experiência da subalternidade mais profunda numa sociedade estruturalmente patriarcal: o facto de ser-se mulher. Para a experiência da subalternidade, é Maria o seu nome possível: refletindo a matriz judaico-cristã, este antropónimo foi, durante décadas, o primeiro nome mais comum das mulheres portuguesas, precedendo um segundo mais individualizado. Numa estrutura patriarcal, Maria pode ser o nome da esposa ou da empregada, mas em qualquer dos casos, quem o profere é sempre quem detém o poder patriarcal e/ou capitalista: a expressão “a minha Maria” invisibiliza a individualidade da mulher, esvaziando a sua densidade subjetiva e acentuando o valor de posse. Por outro lado, recai particularmente sobre as Marias imigrantes o poder do exercício da generalização do estereótipo, não raras vezes gerado no imaginário colonial, manifestação cognitiva da inferiorização que lhes foi e continua a ser imposta socialmente.
2. Vozes de Marias na primeira pessoa narrativa
Será simples encontrar obras literárias portuguesas que se centrem na emigração portuguesa e que, de certa maneira, exponham vazios da memória coletiva portuguesa. A literatura cumpre esta função. A floresta em Bremerhaven (1975), de Olga Gonçalves, e Gente feliz com lágrimas (1988), de João de Melo, dois romances premiados, são também representações literárias, respetivamente, da emigração açoriana para o continente americano e da emigração para a Alemanha; a emigração vista sob o ponto de vista de quem regressa a Portugal, depois de uma vida laboriosa e tumultuada pela discriminação e pela saudade. Para além de razões económicas, a emigração portuguesa massiva da década de 1960 teve igualmente razões políticas, onde se incluem refratários e desertores da guerra colonial. Aqueles são romances para cujo enredo o regime ditatorial do Estado Novo e, sobretudo, o seu fim são centrais; por isso, a emigração não é representada à margem da sua ligação com a história política de Portugal. À semelhança da maioria dos romances publicados depois de 1974, são romances que, nas palavras de Eduardo Lourenço (1988, 13), fazendo um balanço sobre os primeiros dez anos de literatura depois da revolução, ainda têm os “olhos do passado, ou encharcados de passado”. Lançam olhares fundamentais para o passado recente do país, percorrendo diversos níveis de violência e explorando as subjetividades dos e das emigrantes. O fim de qualquer das narrativas evoca a esperança de caminhos mais risonhos para o país, em que o apaziguamento das consciências, em sintonia com as raízes, aponta para o reinventar do futuro em democracia. Tem-se menos em conta o enquadramento mais vasto da emigração no âmbito das desigualdades geradas no sistema-mundo do que no âmbito da realidade nacional, política e social, que a motivou.
É esta alteração de perspetiva que se encontra no centro dos enredos de “Eu empresto-te a Mariá” e Um Fado Atlântico. Esta nuance torna-as narrativas de literatura-mundial. Este conceito foi definido pelo Grupo de Investigação da Universidade de Warwick (WReC) (2015).7 Refletindo as implicações da teoria do sistema-mundial de Immanuel Wallerstein e não indiferente ao conceito de modernidade singular cunhado por Fredric Jameson (2002), literatura-mundial é aquela que reflete um “sistema-mundial único e radicalmente desigual, uma modernidade singular, combinada e desigual”, sendo uma “categoria analítica não centrada num julgamento estético” (WReC 2015, 49, tradução minha)8. Por isso, o hífen em literatura-mundial é o traço diferenciador que coloca o conceito em paralelo com a teoria de Wallerstein, assumindo-se a literatura como espelho da modernidade que comporta desigualdades simultâneas combinadas. A representação literária da mulher imigrante, nas narrativas de Semedo e Melo, constrói-se em função da vulnerabilidade económica que a coloca à mercê do poder, um alvo de conquista que reaviva o imaginário colonial e patriarcal que concebe a mulher não-nacional como objeto de desejo de possessão do homem conquistador. Antes de ser uma mulher, a imigrante é objeto de uso e troca, como evidencia o diálogo inicial do conto de Semedo, entre Bernardette, dona de casa francesa, de classe média alta, e a sua amiga, arquiteta de sucesso, sobre uma possível cedência temporária dos serviços da empregada doméstica interna daquela à amiga:
- Eu empresto-te a Mariá!
- E tu? Não precisas?
- Bien sûr, mas fico contente por a experimentares.
- Não sei.
- Não sejas idiota. Só uma semaninha e vais ver a diferença. Depois não vais querer outra coisa.
- E como vais fazer?
- Arranjo outra, Mariás há muitas! E esta até é capaz de ter uma irmã ou prima que me faça o jeitinho. Mas não ma roubes. É só para experimentar. Parece que não, mas eu até gosto da minha Mariá. (Semedo 2020, 41)
Mariá é o nome do percurso de despersonalização da mulher imigrante que é vista em função do valor do seu trabalho como empregada doméstica interna. Não obstante ela preferir ser chamada por Conceição ou pelo diminutivo São, este direito é-lhe negado pela patroa porque vê naquele nome uma complicação de pronúncia e no diminutivo algo que não é “nome de gente” (Semedo 2020, 44). Resta-lhe o nome imposto por quem detém o poder sobre ela, lhe dá casa, lhe paga o salário e o colégio da filha e lhe recorda constantemente que, sem patrões, Maria “dormiria na rua” com a filha (Semedo 2020, 44). Esta recordação insistente é feita pela patroa e pelo patrão que a procura regularmente no seu quarto à noite, a troco de promessas de uma união oficializada no futuro. A despersonalização reduz esta mulher à sua mera utilidade para benefício de outrem: “Os meus anos na universidade pareciam nunca ter existido. Freud, Piaget, Milgram, Hare, DSM, evaporaram-se-me não me foram de qualquer socorro. Passei de sujeito a objeto. Ninguém pode saber a violência desta ruína” (Semedo 2020, 51). Em Um Fado Atlântico, a comodificação do sujeito é a medida da sua invisibilidade social: “Ser invisível é algo que ainda estou em processo de aprendizagem, e viver da coleção de memórias gravadas no corpo é o conflito que precisava resolver, ou não” (Melo 2022, 9). A invisibilidade manifesta-se na ausência de nome: se a narradora não se nomeia, ao contrário das restantes personagens, artifício narrativo que é igualmente uma forma de generalização da experiência, ela também nunca é nomeada quando interpelada; ademais, a narradora constrange-se a não olhar diretamente os clientes para que o seu olhar não seja interpretado como desafio:
Evito olhar nos olhos para não ser mal interpretada. Respondo olhando para o chão, porque é para o chão [que] olham as empregadas de mesa, e para onde devem olhar, é assim que rege o estatuto internacional deste ofício, principalmente o estatuto das imigrantes que servem mesas em tascas. (Melo 2022, 28-29)
A negação ao direito de ser chamada pelo seu nome, a imposição de um nome civilizador, a exploração do corpo pelo patrão e a ausência de liberdade do direito de fitar quem está à sua frente despoletam a memória histórica da violência colonial disciplinadora dos corpos oprimidos. Saliente-se que, em ambas as narrativas, nunca se coloca a questão da racialização das subalternas; este é um aspeto que facilmente conduziria a uma associação desta natureza. Nada indica, portanto, nestas narrativas que as subalternas não sejam brancas, mas a violência que as oprime tem um lastro histórico que, no passado colonial, usava a biologia para justificar a inferioridade subalterna dos corpos não brancos. A ausência do marcador rácico gera uma ambiguidade que mostra como a memória da violência colonial se faz perpetuar no presente como manifestação de um poder mais vasto que marca a desigualdade e a subalternidade: o/a imigrante pobre ocupa o lugar do/a escravizado/a nas relações de opressão. A mulher urbana subalterna continua a ser aquela a quem é negado o direito à humanização e o controlo sobre o seu corpo, continuamente violentado: Mariá é violentada pelo homem por quem se apaixonou, tendo uma filha e que a expulsa de casa, e pelo patrão que a procura sempre à noite sem intenção de cumprir qualquer promessa de futuro auspicioso porque ela é apenas “mais uma das tuas putas” (Semedo 2020, 44), nas palavras de Bernardette, que também é maltratada pelo marido; a narradora de Um Fado Atlântico observa os maus-tratos do Seu Nuno, o patrão, à mulher e os seus maus modos para com a cozinheira e reduz a sua individualidade ao nível da invisibilidade para que não seja mal interpretada, já que, para além de ser mulher, é imigrante brasileira:
Ele vê o que vê, o que está diante de si, uma senhora de cabelo oleoso, óculos e grandes olheiras, barriga quebrada, roupa suja e ombros curvados. Seu Nuno vê uma imigrante da colonia [sic], provavelmente sem documentos - e pouco importa que não seja -, que se sujeita a trabalhar de qualquer coisa porque deduz estar em situação irregular. (Melo 2022, 34-35)
A violência é a variante interseccional que atinge as diferentes mulheres, migrantes ou não, das variadas classes sociais, sem que, por isso, seja necessariamente motivo de solidariedade entre elas, particularmente entre as que detêm o privilégio de classe para com as que o não têm. As mulheres de classe média alta reproduzem a violência contra as subalternas como derradeira estratégia para preservarem o seu próprio estatuto e se distanciarem das subalternas: enquanto sobre Bernardette, Mariá nota que “Não havia uma única frase por ela pronunciada que não fosse humilhante. E ela nem tinha mais estudos do que eu” (Semedo 2020, 45), a narradora brasileira vê que “a esposa aparece pouco [...] Senhora formosa, tem o cabelo arrumado, cujo laquê reacionaria à gordura do ambiente” (Melo 2022, 18). A violência que estas sofrem acontece fora do espaço público; apenas se comenta entredentes à laia de mexerico, mas nunca é testemunhada. A violência das imigrantes começa com a violência contra os seus corpos, a devassidão dos seus próprios espaços pessoais: o quarto de empregada que é invadido; as histórias pessoais que são motivo de chacota na sala principal; a ameaça constante de perder o teto se não mostrar obediência; e a redução desse espaço pessoal precário a “quartos sem janela” (Semedo 2020, 49) ou à a sensação de ter de dividir apartamento com o patrão pela contiguidade dos espaços pessoal e laboral.
A representação dos seus corpos continuamente violentados no seio das relações patriarcais reforça a pertença da figura da imigrante ao subproletariado urbano como último reduto da subalternidade neocolonial. Encontra-se igualmente à margem de uma consensualizada normalidade sexual à semelhança das representações dos corpos colonizados. Esta é uma questão que está, por exemplo, bastante visível na representação do corpo negro colonial no recém-publicado Recordações d’uma colonial: Memórias da preta Fernanda (2022, Sistema Solar), uma pretensa autobiografia de Fernanda do Vale, escrita por A. Totta e F. Machado, originalmente publicada em 1912. O corpo de Fernanda do Vale é frequentemente descrito como primitivo e desviante. Nestas narrativas, a representação do corpo da mulher imigrante também colhe laivos dessa memória do corpo colonial sexualmente transgressor. Embora Mariá seja cobiçada pelo patrão, o seu corpo é frequentemente avaliado em função de representar uma potencial disformidade, em função da condição social que ocupa; tal se evidencia nos comentários do patrão sobre o facto de Mariá ter engordado, na pergunta da patroa sobre se o “corpanzil jeitoso” da empregada não lhe garantiria um homem que a sustentasse (Semedo 2020, 42) ou de uma alegada sexualidade promíscua aliada à pobreza, que se manifesta em “abrir as pernas ao primeiro que lhes aparece em frente” (Semedo 2020, 46). Também a narradora em Um Fado Atlântico tem de lidar com uma potencialmente ameaçadora hipersexualização do seu corpo em função do imaginário colonial que construiu o corpo da mulher brasileira enquanto objeto disponível para o prazer do homem, que se perpetua e que não se restringe apenas ao corpo da mulher negra; o corpo da subalterna é o corpo disponível para todo o serviço, da limpeza ao prazer sexual:
Para cada diária é preciso levar o prato, a sopa, a bebida, o café, voltar pra pegar o arroz, voltar pra buscar o pão, tem que limpar todo o salão antes e depois, varrer, passar esfregona, limpar os banheiros, cada mesa me chama tantas vezes, e há os poucos que perguntam de onde sou, o que faço aqui, normalmente as mulheres que, vez por outra, vem a seus papéis de esposa a constranger a imigrante da colónia que serve pratos aos maridos todos os dias. (Melo 2022, 28)
O corpo da subalterna é um corpo que se mede pela sua ampla utilidade e a sua catalogação radica na memória colonial que faz parte da memória da subalternidade, como fica claro no comentário de Bernardette sobre empregadas: “Tenho de ser sincera e não me leves a mal Mariá, para comidas e tratar do jardim prefiro as africanas, mas as portuguesas são manientas, adoro, importam-se com o detalhe. Parecem ratas, têm faro para os cantinhos” (Semedo 2020, 43). A este respeito, se o título do conto de Semedo remete para a experiência intemporal da objetificação da mulher subalterna, o título da narrativa de Melo evidencia a melancolia dessa memória no Atlântico luso-afro-brasileiro que se manifesta na violência contra a mulher subalterna continuamente reconfigurada.
Tanto Mariá, de Semedo, como a narradora de Um Fado Atlântico são mulheres qualificadas, vindas da área das humanidades, com percursos de precariedade que refletem a ausência de expectativas de um futuro profissional estável. Contudo, são frequentemente percecionadas como ignorantes ou iliteratas, já que à condição subalterna se nega o direito ao conhecimento. Têm em comum o facto de gostarem e precisarem de escrever: em Melo (2022, 58), a escrita da narradora é “teimosia” e “expurgo [...] na mesma coloração que vomitam os operários a explorações dos galpões da indústria a cada sexta-feira quando finalmente são libertos para desfrutar a vida”; escrever é simultaneamente um ato político de resistência face ao silêncio autoimposto, num mundo desigual e de sobrevivência: “Uso-a na tarefa irrelevante de tentar salvar partícula a partícula de mim mesma” (Melo 2022, 58). A escrita devolve-lhe a relevância e, principalmente, o que ela significa de empoderamento sobre a língua, criando um “híbrido português atlântico” (Melo 2022, 26), forma de adaptação da experiência imigrante para superar a “tentativa canalha de manter-se [o português europeu] no topo de uma hierarquia linguística cujo centro do mundo é obviamente a Europa e todo o resto é só colônia e lhe deve obediência” (Melo 2022, 27). Em Semedo (2020, 42), a escrita é motivo de ridicularização, forma de disciplinar a mulher ao lugar que o homem crê ser o dela: “Deixa lá a escrita, deves pensar que és a Yourcenar”; contudo, escrever é igualmente a derradeira forma de sobrevivência para ser escutada e possivelmente ouvida em tribunal, quando é detida por tentar envenenar os patrões: “Preciso de papel para passar tudo a limpo e traduzir para francês” (Semedo 2020, 52).
A representação da subalternidade constrói-se sem ilusões e, sobretudo, sem um olhar de esperança sobre uma possível saída dos meandros da subalternidade no quadro das relações de submissão impostas pelo modelo socioeconómico capitalista. Elas soçobram. Das tentativas da Mariá para melhorar a sua vida - da emigração, a aceitação da vida submissa como empregada doméstica para que a filha possa estudar e ter a vida que ela não conseguiu ter até ao ato extremo de tentar envenenar os patrões para se conseguir libertar, a única alternativa que consegue é que, no final, a filha ocupe o lugar da mãe enquanto ela está na prisão para que também ela perpetue a experiência de subalternidade, como o mostra a frase final do conto: “- Olha, estive a pensar, para a tua festança... eu empresto-te a Biá!” (Semedo 2020, 53). Em Um Fado Atlântico, as tentativas para arranjar um trabalho remunerado fora da tasca são infrutíferas; se, quando deixa a tasca para tentar melhor sorte, afirma “ainda não sei se vou voltar à caverna” (Melo 2022, 57), no final, ela conclui que “precisava voltar à caverna” (Melo 2022, 91). O magro salário é a única forma de subsistência num mundo em que as oportunidades se medem pela remuneração que se recebe: “Passei duas semanas à cama adubando alucinações pra entender que aqueles quinze euros por dia paga contas e é para as contas que está a nossa existência migrante - as não migrantes também, inclusive” (Melo 2022, 91). Por isso, a escrita que humaniza e visibiliza a experiência da subalternidade, que pertence às sombras, é um ato de resistência.
3. Considerações finais
Em 2022, a atriz, encenadora e criadora Sara Barros Leitão estreou a peça Monólogo de uma mulher chamada Maria, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, tendo continuado em digressão pelo país. A peça, cujo título é extraído do título de um dos textos que compõem Novas Cartas Portuguesas, parte da história da criação do primeiro Sindicato do Serviço Doméstico em Portugal para contar as histórias do trabalho doméstico, o poder de organização e de reivindicação das mulheres pelos direitos do seu trabalho como empregadas domésticas. São histórias e relatos de muitas empregadas domésticas, portuguesas e imigrantes, reunidas ao longo do tempo; histórias de um trabalho invisibilizado, com raras aparições no espaço público, como foi o caso das primeiras manifestações e greves organizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas, para reivindicar melhores condições de trabalho, em 2018. Um trabalho esmagadoramente a cargo de mulheres, e com um número muito significativo de mulheres imigrantes e não brancas (Henriques 2018).
A representação da experiência de imigrantes tem passado despercebida na literatura em língua portuguesa. É o caso da narrativa autobiográfica de Claúdia Canto, Morte às vassouras (2018), que descreve a sua experiência como imigrante brasileira indocumentada cuja única alternativa de sobrevivência foi trabalhar como empregada doméstica interna na casa de uma família portuguesa de classe média alta, com um passado ligado à África colonial, durante os primeiros anos de 2000. Não obstante este facto, e apesar de um lançamento muito discreto em Lisboa, a narrativa foi traduzida para inglês e discutida em várias universidades inglesas e brasileiras.9 Não surpreendentemente, estes trabalhos têm sido sistematicamente produzidos e escritos por mulheres: de Novas Cartas Portuguesas até estas narrativas mais recentes, todas foram escritas por mulheres, as que sabem, por experiência própria, as várias camadas que revestem a experiência da subalternidade no tempo longo da história do capitalismo e como ela se transmite em representações de pós-memória da subalternidade, de geração em geração, perpetuando-se num mundo estruturado pela desigualdade e através de várias formas de opressão. Atrevemo-nos, então, a reformular a pergunta de Spivak, pensando na literatura: pode hoje a subalterna falar? A crescente heterogeneidade da literatura escrita por mulheres com diversas experiências e sensibilidades sugere que, não podendo nunca ultrapassar o facto de o trabalho literário ser sempre um espaço de mediação, se caminha para a desconstrução da universalização desumanizada da subalternidade em diferentes primeiras pessoas. Saibamos ler nelas a projetada diversidade que as humaniza.